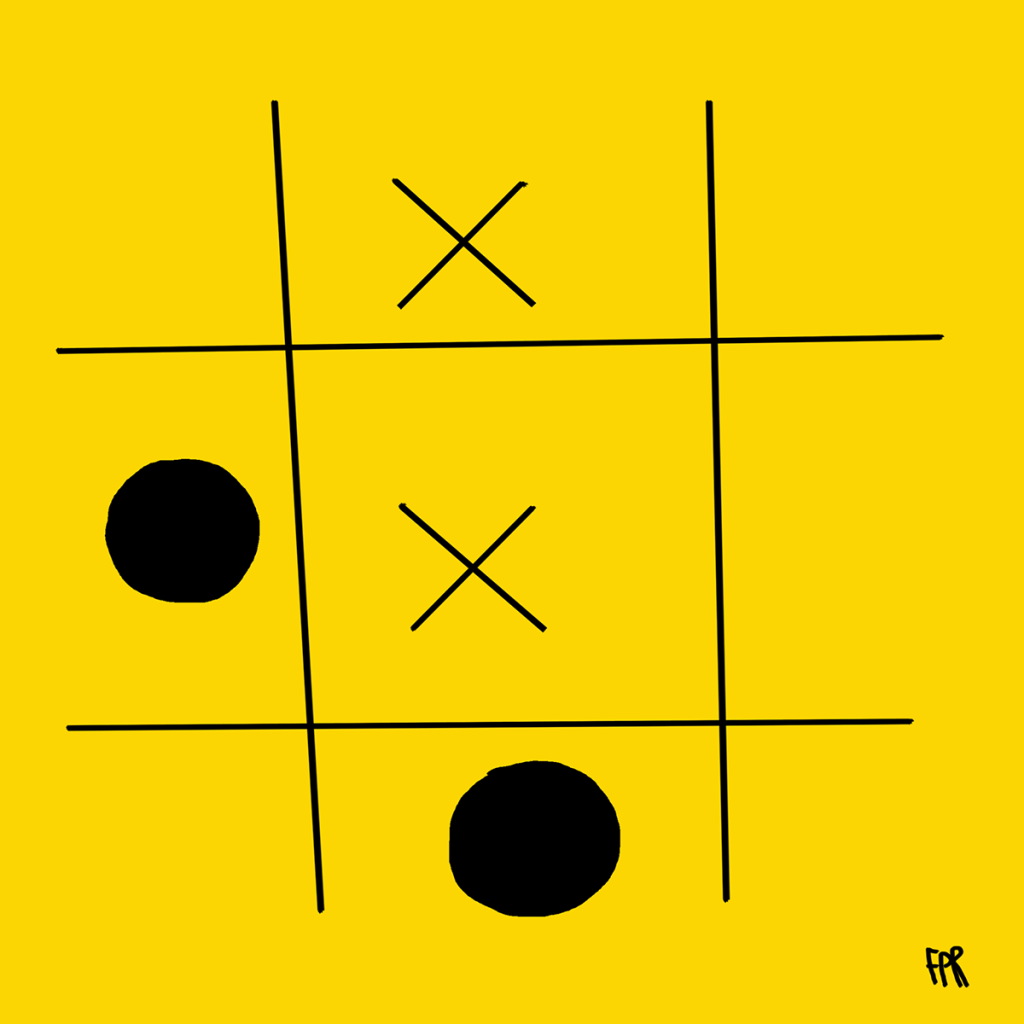* O autor escreve segundo o acordo ortográfico e a norma angolana da língua portuguesa, em formação.
Li na imprensa brasileira que uma antropóloga negra, que deveria dar uma palestra sobre branquitude para os funcionários de uma determinada empresa, foi “desconvidada” sob o argumento de que o público era branco e, portanto, a conferencista deveria igualmente sê-lo. Um absurdo. Mais do que isso, uma posição abjeta e condenável. Entretanto, a mesma não me espanta, sabedor que sou da persistência estrutural do racismo na sociedade brasileira.
O que me espantou foi um dos argumentos usados pela antropóloga, ao comentar a decisão da empresa. A crer no que li na imprensa, a mesma teria dito que, uma vez que o “pacto de branquitude” existente no Brasil (como, acrescento eu, em todas as sociedades eurocêntricas) afeta primeiramente os negros, o assunto deveria ser exposto por uma pessoa negra. Será? É essa a discussão que pretendo introduzir no presente texto.
Indo direto ao ponto, começo por afirmar, com todo o respeito pela vítima da decisão empresarial acima referida, a qual pode e deve ser tipificada como criminosa, que tal argumento é equivocado. Sendo eu originário de um país africano de larguíssima maioria negro-bantu, onde vários membros dessa ampla maioria demográfica colaboraram com o colonialismo português e outros, mais tarde, se aliaram ao apartheid sul-africano, enquanto alguns brancos pegavam em armas para lutar, ao lado da maioria da população, pela independência nacional, tenho uma radical dificuldade em entender esse tipo de argumentação, que, concluo, é desmentida pelos factos da História.
Estou ciente, claro, que essa coisificação do conceito de “lugar de fala”, cuja justeza e utilidade partilho, é uma tendência contemporânea: muitos acreditam que apenas negros, mulheres, homossexuais e outros membros pertencentes aos diferentes grupos historicamente discriminados e perseguidos podem falar dos seus problemas específicos, negando, por conseguinte, mais do que a possibilidade, a pertinência de categorias e práticas como empatia, alianças e outras afins. No limite, ignoram a importância do universalismo, que herdámos do liberalismo, apesar de ainda hoje todas as lutas pela igualdade serem feitas em nome do seu princípio estruturante: todos os seres humanos são iguais. Lutar em nome da igualdade e, ao mesmo tempo, negar o universalismo é, tenho de dizê-lo, um oximoro (uma contradição de termos).
Alguns daqueles que negam a necessidade, verdadeiramente estruturante, de inserir as lutas grupais (de que as reivindicações identitárias são apenas um exemplo) no combate universal pela igualdade de todos e em todos os planos (não esquecer a classe jamais) acusam os que o fazem de integrarem uma coisa chamada “esquerda supremacista”, a qual, segundo eles, estará presa ao século 19, motivo pelo qual não reconhece a importância das lutas identitárias. Três notas: primeiro, se é “supremacista”, não é genuinamente de esquerda; segundo, o comunitarismo em geral (por exemplo, a ideia étnica) é, historicamente, anterior ao universalismo; terceiro, as lutas identitárias podem ser justas e necessárias, mas, quando se tornam absolutas, perdem o seu potencial libertador, podendo ser manipuladas pelas forças conservadoras e reacionárias.
A propósito, lembro-me da “profecia” de Umberto Eco, num texto em que o intelectual italiano discutia o conceito de pós-modernidade, segundo a qual a humanidade estaria a regressar à Idade Média. Eu vou mais longe: essa regressão atinge períodos históricos anteriores, quando imperavam as tribos. Os “tribalismos” contemporâneos são vários, parecendo ter o condão de se multiplicarem até ao infinito.
Além de ser óbvio, quanto a mim, que a incessante fragmentação das lutas sociais não contribui para o sucesso destas últimas, pelo contrário, é de acrescentar que os vários “excessos contemporâneos”, como alguns apelidam os novos tribalismos, dão argumentos às forças ultraconservadoras para tentarem manter e reforçar a discriminação dos grupos historicamente dominados. É por isso, por exemplo, que o supremacismo branco alega ser apenas (?) uma resposta a uma alegada conspiração para eliminar todos os brancos, fantasia que, apesar de delirante, tem de ser levada em conta não apenas pela análise, mas pela própria militância.
Há uma pergunta que todos aqueles que se consideram progressistas precisam de fazer: a que se deve o surgimento de fenómenos como o trumpismo nos Estados Unidos ou o bolsonarismo no Brasil e, de um modo geral, a ascensão da extrema direita em vários países, como está a suceder há anos em França, acaba de ocorrer na Suécia e pode acontecer, em breve, na Itália? As explicações, claro, são múltiplas. Mas há uma que as forças democráticas e progressistas se recusam, infelizmente, a encarar: as suas próprias responsabilidades para que isso esteja a acontecer.
Socorro-me, para isso, de uma crónica de Philippe Bernard publicada recentemente (17 de setembro de 2022) no jornal francês Le Monde, sob título “Como impedir os eleitores populares de votar Le Pen se certas forças de esquerda alimentam polémicas que os incomodam?”. Lembra Bernard que, em França, o voto operário no partido de Marine Le Pen passou de 17% em 1988 para 39% em 2017 e 42% nas últimas eleições, realizadas este ano. O autor não tem dúvidas em identificar a principal causa desse crescimento: – “A esquerda está mais mobilizada em torno de questões ´societais´ do que nas problemáticas sociais”, escreveu ele.
Para o articulista do Le Monde, as forças de esquerda abandonaram a luta pelo “valor-trabalho”, isto é, o combate pelo trabalho justamente remunerado, em detrimento de outras causas, vou dizê-lo, “pós-modernas”, como as lutas comunitárias e grupais (um exemplo são as lutas identitárias). Assim, a relação entre as forças progressistas e as classes populares tem-se tornado crescentemente “assistencialista”. O resultado é que, pelo menos em França, a esquerda tornou-se bem sucedida entre a burguesia urbana, enquanto a extrema direita constitui hoje a força dominante nas áreas suburbanas e rurais.
Reitero o que tenho defendido em várias ocasiões: as lutas de diferentes grupos historicamente discriminados pelo resgate e valorização da sua identidade são justas e necessárias, mas não devem ser levadas a cabo de maneira sectária e auto-excludente, sob pena de se autoanularem. As lutas identitárias devem, assim, fazer parte da luta mais geral pelo fim de todas as discriminações e situações de injustiça, com base no já referido princípio estruturante do universalismo que nos foi legado pela modernidade: todos os seres humanos são iguais.
Posto o que, já posso responder à pergunta usada como título deste artigo: o antirracismo pode ser racista? Pode. Mas não deve.