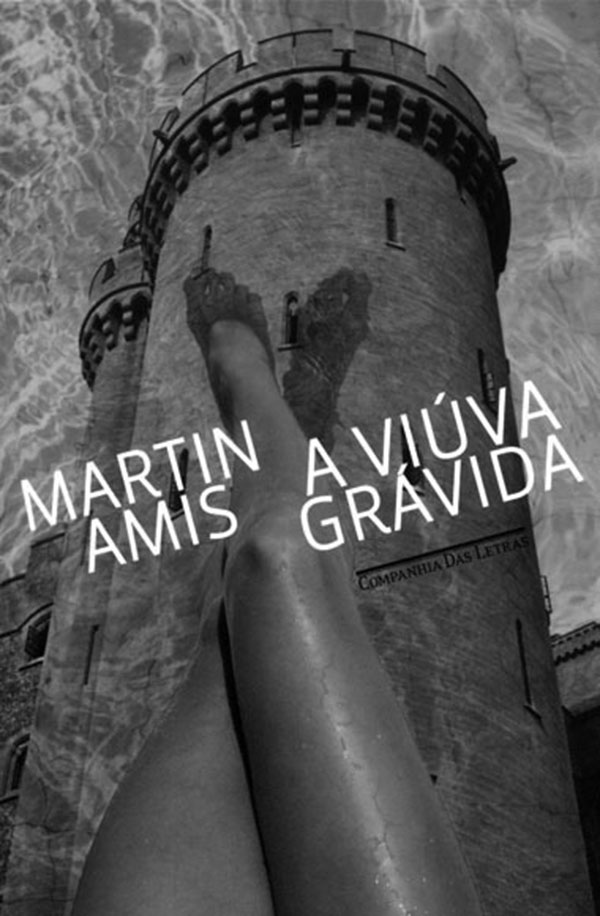What do they think has happened, the old fools,
To make them like this?
Philip Larkin, The old fools.
Now the moronic inferno had caught up with me.
Saul Bellow, Humboldt’s Gift[1].
1.
Uma semana antes de morrer de um câncer no esôfago, o jornalista Christopher Hitchens (1949-2011) escreveu o seu penúltimo artigo para a revista Vanity Fair, publicado no dia 9 de dezembro do ano passado, em que discorria sobre o aforismo de Nietzsche — “Aquilo que não me mata, me fortalece”. Para alguém que desembarcaria no país desconhecido de onde ninguém jamais voltou, a frase do filósofo alemão soava como piada de mau gosto. Substituiu-se tal reflexão por outras mais adequadas, e ele decidiu iniciar o texto com duas epígrafes: a primeira era de Bob Dylan, por quem Hitchens sempre mostrou admiração; a segunda era de Kingsley Amis (1922-1995): Death has this much to be said for it:/ You don’t have to get out of bed for it./ Wherever you happen to be/ They bring it to you — free[2].]
Quem conhece a história da literatura inglesa contemporânea sabe que a citação foi como Hitchens homenageou não só o grande satirista que foi alçado à fama com seu segundo romance, Lucky Jim (1954), como também o sucessor da mesma tradição literária, o filho de Kingsley e um de seus melhores amigos (senão o melhor) — Martin Amis. Nascido em 1949, ele foi fruto do casamento com Hilary Bardwell, que posteriormente seria trocada sem cerimônias pela escritora Elizabeth Jane Howard, em um divórcio que deixaria marcas nas vidas de seus irmãos, o primogênito Philip e a caçula Sally. O trauma surgido desta situação aproximou Amis de Hitchens quando ambos trabalhavam na redação da The New Statesman, notória revista de esquerda que tinha entre seus membros ninguém menos que Julian Barnes, Ian McEwan e um ainda muito obscuro Salman Rushdie. Assim como Martin, Hitchens era impetuoso, arrogante, achava que sabia demais e tinha suas cicatrizes de guerra: o suicídio da mãe, a lenta agonia de seu pai e a ocultação de sua herança judaica, descoberta só na maturidade. O filho de Kingsley cumpria no relacionamento com Hitchens o mesmo papel que seu pai também tinha com outro medalhão do mundo literário: Philip Larkin (1922-1985). Kingsley era o observador arguto que encontrava alguma luz na desesperança do cotidiano britânico, de preferência acompanhado de um copo de uísque; Larkin era o amargo por excelência, atormentado pela morte, à beira de uma crise de fé que nunca se resolveu. Martin tinha as qualidades do pai e mais algumas: uma prosa mais meticulosa, um perfeito senso de timing cômico que o fazia experimentar em outras áreas do humor inglês, em especial o negríssimo e até mesmo o nonsense. Já Hitch resolveu explodir todas as suas angústias na persona de polemista, chegando ao ponto de atuar como advogado do Diabo contra Madre Teresa de Calcutá (aliás, convidado pelo próprio Vaticano durante o processo de beatificação) e xingar ninguém menos que Deus ao provar sua inexistência só porque não alcançou a ereção tão desejada dentro de uma igreja.
Só Martin Amis sobreviveu para contar a sua história. É o que ele faz com seu último romance, A viúva grávida (The pregnant widow, 2010), lançado recentemente no Brasil pela Companhia das Letras, um acerto de contas com o estilo que seu pai renovou — o romance de formação juvenil, com pitadas de sexo e radiografia sentimental — e também com a figura de seu amigo Hitch, em especial sobre as experiências sexuais que tiveram nos anos 1970. Mas isso é apenas a ponta do iceberg: por atrás do teatro de bastidores literários, em que era o enfant terrible da The New Statesman na seção de resenhas, não perdoando autores consagrados como Gore Vidal e Norman Mailer, pronto para destruir a reputação de clássicos como Dom Quixote e Paraíso perdido, cobrindo de elogios escritores de best seller como Thomas Harris, há o fantasma de sua irmã caçula, Sally.
Sem ela não existiria A viúva grávida. Falecida precocemente em 2000, aos 46 anos, ela foi, de acordo com seu irmão mais famoso, uma das mais exemplares vítimas daquilo que muitos se orgulharam de chamar de Revolução Sexual. Abertamente promíscua e alcoólatra, capaz de dormir com qualquer um que cruzasse o seu caminho — inclusive Hitchens, como ele conta de forma discreta em sua deliciosa autobiografia Hitch 22 (2010) —, Sally não conseguiu cumprir para si mesmo o conselho dado por seu padrinho Philip Larkin ao lhe dedicar um de seus mais conhecidos poemas, Born yesterday (Nascida ontem): o de que fosse tola suficiente para que algum dia tivesse a verdadeira noção do que é a felicidade.
2.
Sally Amis nasceu em 1954, alguns dias antes da publicação de Lucky Jim, o romance que lançou o pai Kingsley ao estrelato literário. Como tudo o que acompanha o sucesso, uma grande sombra também pairou sobre os filhos, em especial Martin. Até hoje, Lucky Jim é considerado um dos grandes romances ingleses do século 20 e tem leitores importantes que o guardam em um canto especial da estante afetiva — entre eles, David Lodge, que deu prosseguimento ao gênero “romance universitário” com um brilho de dar inveja a muitos que tentaram o mesmo e não conseguiram.
Foi o caso do jovem Martin Amis com seu primeiro livro, The Rachel papers, lançado em 1973 quando tinha 22 anos de idade. Diferente do pai, o romance do filho se preocupava um pouco mais com o sexo e muito pouco com a radiografia sentimental — justamente o que tornava Lucky Jim algo tão distinto no panorama literário inglês dos anos 50. A partir de um enredo singelo — a história de Jim Dixon que, para ter sucesso no mundo universitário, tem de puxar o saco de seu tedioso professor, enfrentar as neuroses românticas de uma histérica que acabou de tentar o suicídio e descobre que o que realmente o interessa não é a Idade Média que deveria estudar e sim as curvas da namorada do filho de seu tutor —, Kingsley costura o painel de uma Inglaterra prestes a explodir graças aos angry men, a juventude que teria sua consolidação na Swinging London, nos Beatles, nos Kinks, nos Rolling Stones e que teve a consciência de que fazia tudo na vida e na carreira profissional sem ter sido, como diria Polônio a seu filho Laertes, “fiel a si mesmo”.
Em The Rachel papers — e nos livros seguintes, como Dead babies (1975), Success (1977), e Other people (1981), tentativas frustradas de lidar com cada gênero em que o pai já havia demonstrado talento, entre eles o da ficção-científica — Martin mostrou que sabia escrever, provava seu talento peculiar na criação da estrutura romanesca das tramas, reconhecia o humor em momentos inusitados, mas, ao contrário de Kingsley, parecia tatear no tema que todo romancista deve lidar como um problema insolúvel e do qual cada livro surge como uma espécie de sismógrafo interior, um verdadeiro insight sobre algum aspecto desconhecido da condição humana.
Ele o encontraria em Grana (Money: a suicide note, 1984), o romance que rompeu com a estética satírica e realista de seu pai — evento que foi simbolizado quando Kingsley, ao ler algumas páginas do livro, jogou-o pela janela quando soube que Martin era um dos personagens principais — e abraçou outros dois tipos de paternidade literária: a de Saul Bellow (de quem se tornaria um de seus grandes amigos) e a de Vladimir Nabokov. Cada problema insolúvel precisa de uma forma adequada para exprimi-lo, e Amis a descobriu ao ler com lupa cada linha dos dois imigrantes que foram, cada um ao seu modo, modelos da língua inglesa. Em Grana, o que era antes mero virtuosismo para provar aos colegas da The New Statesman que era apenas um garoto talentoso, tornou-se jogo sério: o leitor se coloca na pele de John Self, um diretor publicitário que faz um filme em Hollywood, tem a sensibilidade de um brucutu e, ao contrário do que supõe significar o sobrenome, não tem personalidade nenhuma, indo e voltando de Londres para Los Angeles como um autômato, sempre à espreita de um corpo feminino que possa estuprar como uma atriz pornô e indo à caça do dinheiro mais fácil que possa existir, de preferência sem nenhum empecilho moral.
Para transformar esse sujeito tão peculiar em uma linguagem suportável, Amis usa dos recursos que Bellow já nos ensinou em Herzog (1964) e Humboldt’s gift (1975): o flaneur flaubertiano que registra os detalhes, os cheiros e as texturas decadentes das metrópoles, os aforismos quebrados que servem como epigramas que registram o que há por trás da superfície do cotidiano, a observação tipológica de personagens que, pouco a pouco, exibem seus terrores existenciais e — aqui ele se une a algo que tanto preocupava Nabokov — a falta de confiança sobre quem conta a história, incitando a dúvida de que se o que está a ser narrado é verossímil.
John Self é o que Ortega y Gasset chamaria de “homem-massa”. Além de não ter personalidade — seus desejos são iguais aos de outras pessoas —, ele não tem critério ou gosto para qualquer coisa que chamaríamos de “cultura”: de acordo com sua perspectiva, Shakespeare é apenas o nome de um pub onde vai tomar um pint todos os dias e a realização de um filme envolve apenas a quantia de grana a ser depositada na sua conta no dia seguinte. Vive em um mundo onde o sentimento é inexistente; em uma das cenas mais memoráveis do livro, Self conversa com ninguém menos que o próprio Martin Amis que tenta ensiná-lo de forma socrática que, no universo dos filmes pornôs, a vítima não é apenas a mulher seviciada de todos os ângulos, mas também o homem que se obriga a vê-la da mesma forma.
O fascínio de Amis pela pornografia vem da consciência do problema insolúvel que vivemos em uma época em que o estupro mental perverte todos os lados. Nós somos John Self — e não sabemos. Ou, pelo menos, não queremos saber. Esta opção preferencial pelo desastre é diagnosticada de forma épica no romance seguinte a Grana, Campos de Londres (London fields, 1989). Se antes tínhamos John Self, agora temos Nicola Six, Keith Talent e Guy Clinch — o sarcasmo de Amis ao escolher os nomes bizarros dos personagens o coloca no mesmo patamar de Bellow ou de Thomas Pynchon —, um triangulo amoroso de perdedores que ainda acredita que alcançará alguma paz neste mundo, mesmo à beira de um colapso nuclear. Cada um usa do seu talento: Nicola manipula os homens graças ao sexo, Keith manipula seus amigos e suas amantes com a malandragem do submundo e Guy é manipulado por todos — até mesmo pela esposa e filho, o hilário Marmaduke, que, aos três anos de idade, espanca o pai e o cobre de catarro na hora de abraçá-lo.
O pressentimento de que um apocalipse acontecerá em breve também permeia A seta do tempo (Time’s arrow, 1991), uma novela instigante sobre Tod Friendly, um pacato médico americano que, conforme a trama avança de trás para frente — em um malabarismo técnico que daria inveja à Nabokov —, descobre-se que ele foi Odilo Unverboren, um dos pioneiros da eugenia nos campos de concentração nazistas, em especial Auschwitz, apelidado carinhosamente de anus mundi. Campos e A seta são livros gêmeos: o primeiro aborda os anos 1980, com sua mistura de ideologia yuppie e de uma bandidagem glamurizada que ninguém mais sabe onde começa um e termina o outro, em uma narrativa que emula a prosa do Saul Bellow de Dezembro fatal (The dean’s december, 1981); e o segundo com sua reflexão sobre a história do século 20 que chega ao ápice numa espécie de “institucionalização da estupidez” — e os portões do inferno que se abrem para o moronic inferno que Amis, Bellow e Nabokov tanto temiam.
Quando chamam alguém de “estúpido” parece ser uma palavra de uso comum, mas ela guarda uma história peculiar. Por exemplo, para os israelenses do Antigo Testamento, o homem que cria desordem na sociedade é o “tolo”, nabal, pois não é um “crente”, não aceita a revelação de Deus; Platão usa outro termo, amathes, o homem irracional, que não se curva à razão e, portanto, tem uma imagem defeituosa da realidade. Para São Tomás de Aquino, o “tolo” é o stultus, o estulto, que não compreende nem a revelação, nem a razão, e mesmo assim tenta mudar a realidade, tendo como resultado óbvio produzir o caos. Por fim, nos tempos modernos, o escritor austríaco Robert Musil, em uma palestra intitulada Sobre a estupidez, usa as expressões “estúpido”, “idiota”, “néscio” e “tonto” para retratar o mesmo tipo humano.
Foi Musil quem criou os conceitos de “estupidez simples” e “estupidez inteligente”. O “estúpido simples” é alguém que erra por ignorar o que acontece, por mera desinformação; já o “estúpido inteligente” é alguém que insiste no erro por acreditar que sempre tem razão. Do resumo histórico que ele faz, ressalta uma constante que caracteriza o “estúpido inteligente”: a negação deliberada da razão, que lança o ser humano na bestialidade, mesmo que esta assuma as formas aparentemente sofisticadas da técnica ou da ideologia. O estúpido não quer conhecer, prefere permanecer na negação da realidade. Por não respeitar a realidade como ela é, violenta-a de uma forma ou de outra; mas, como ela é “insubornável”, cedo ou tarde ela se vingará, pregando-lhe uma peça. E como resultado o estúpido assume uma atitude de revolta contra tudo e contra todos.
Estupidez criminosa
Com seus romances, Martin Amis acrescenta um terceiro tipo na classificação acima: o da estupidez criminosa. Se o estúpido inteligente insiste no erro, o criminoso está disposto a fazê-lo custe o que custar. A sua vontade racional é substituída por um desejo de poder alucinado, manifestado de diferentes maneiras, que acaba encontrando satisfação somente na destruição do seu semelhante; as aparentes “razões” que invoca para fazê-lo — de raça, de credo, de cor ou de sexo — não passam de pretextos.
E qual seria a razão deste fenômeno? É aqui que o romance como forma objetiva de conhecimento do que acontece com a condição humana mostra as suas garras — e, ao mesmo tempo, Martin Amis exibe as virtudes e também as limitações como escritor. Marcado tradicionalmente com a publicação do primeiro volume de Dom Quixote (1602), de Miguel de Cervantes, o romance se firmou como um gênero que, por meio dos artifícios da narrativa, reorganizava o caos de um mundo que passava pela transição traumática dos restos da Idade Média, espalhada em paróquias religiosas sem nenhuma substância transcendente, para o início da Renascença que se tornava cada vez mais concreta com o progresso técnico e a criação do Estado-Nação, a base do conjunto de países que hoje conhecemos como Europa.
Contudo, no final do século 20, após o Ulisses de Joyce e Em busca do tempo perdido de Proust, duas guerras mundiais, uma ameaça de bomba atômica em cada esquina e a descoberta científica de que, na lógica misteriosa do cosmos, somos apenas pontos minúsculos de uma entropia que ninguém sabe quando chegará, o romance perdeu a sua força como instrumento de conhecimento e como reorganizador do caos que é a nossa vida. A chamada literatura “pós-moderna” tenta dar conta disso. Os melhores exemplos são as obras de Don DeLillo e Thomas Pynchon, que incorporam a própria entropia na construção de seus livros, permitindo que o leitor não se preocupe mais com o enredo e sim com a desintegração da forma romanesca, além de criarem deliberadamente um prazer estético ao testemunhar essa destruição.
Amis se vê como um contemporâneo desta mesma linhagem e usa a forma do romance para dramatizar a raiz do moronic inferno. A causa deste problema insolúvel não é social, econômica ou política; se dá no âmbito mais importante da personalidade: o da educação sentimental. O leitor que se dedica a ler os livros de Martin Amis em ordem cronológica percebe uma descoberta aterrorizante — a de que estamos observando, ao vivo e em cores, a autópsia de um mundo onde qualquer coisa que tenha nobreza ou integridade não vale mais nada. Descobrimos que somos carrascos e vítimas ao mesmo tempo. Descobrimos que experimentamos a morte dos sentimentos.
Chegamos aqui ao nosso problema. Ao contrário de Bellow, Nabokov, DeLillo e Pynchon, Amis parece não conseguir terminar decentemente um romance; nos exemplos citados anteriormente, mesmo com a entropia tomando conta de tudo, o romancista parece ainda ter alguma noção de catarse, de que o leitor deve ter a noção de um insight, de um centro secreto, para usar o termo cunhado por Milan Kundera e Orhan Pamuk. Ao lermos Grana, Campos de Londres e A seta do tempo, sentimos que estamos prestes a encontrar este centro, mas ele parece estar soterrado por uma variedade de idéias e de estilos que não vão a lugar algum; e quando atingimos o final de cada livro, a estrutura subitamente se dissolve e ignoramos se isto é proposital ou se é um defeito do próprio escritor[3].
Não se trata nada disto quando lemos algumas páginas de Água pesada e outros contos (Heavy water and other stories, 1998), uma coletânea de histórias que publicou ao longo da década de 1990. Temos ali o melhor de Amis: o humor negro que nos revela uma parte do ser humano que não queremos conhecer; o estilo minucioso e epigramático, cheio de reviravoltas retóricas e frases de efeito; a descrição tipológica de personagens que poderiam ser caricaturas, mas que guardam um lado humano compreensível para todos nós; as piruetas na trama que indicam um cuidado perfeccionista de querer atiçar o leitor e fazê-lo sair da inércia. E também há algo que não é demonstrado nos romances e novelas: o controle da forma. Cada conto tem o punch necessário para nocautear quem espera alguma surpresa nas últimas linhas — e ela chega, sem decepcionar ninguém, exceto pelo fato de deixar uma pergunta no ar: Qual seria a verdadeira intenção de Martin Amis ao implodir o próprio talento daquela forma?
3.
Talvez haja uma estratégia que desconhecemos ao nos depararmos com os dois livros seguintes: o romance A informação (The information, 1995) e a autobiografia Experience (2000). São as suas obras-primas. Na primeira, ele finalmente consegue realizar o que sempre desejou em termos romanescos: a fusão da prosa de Bellow com o virtuosismo narrativo de Nabokov, além de jogar com a expectativa de catarse que Pynchon e DeLillo oferecem em seus livros mais radicais. E a segunda é o exemplo de um escritor que encontrou a forma apropriada para retratar o desenvolvimento de sua personalidade e, mais, dar um sentido à experiência caótica da vida que traumatizou a sua educação sentimental.
E há vários traumas espalhados pelas memórias de Amis. A lista é interminável: o divórcio dos pais; o abuso sexual ocorrido quando criança enquanto acontecia uma festa familiar no térreo da casa; o relacionamento neurótico com a jovem Lamorna Heath, que sofria de depressão maníaco-obsessiva e se mataria sem avisar a Martin de que os dois tiveram uma filha — Delilah Seale —, revelada ao escritor somente vinte anos depois; a morte macabra de sua prima Lucy Partington pelo serial killer Frederick West; a infecção que quase levou o seu pai literário, Saul Bellow, para a cova; a infecção que acabaria de levar o verdadeiro pai, Kingsley, de fato para o túmulo; a descoberta de um tumor na gengiva que o obrigou a fazer uma cirurgia caríssima nos dentes podres e que o fez pedir ao agente literário Andrew Wylie (apelidado de “O Chacal”) um adiantamento milionário para um romance que sequer havia uma linha escrita — o futuro A informação, fracasso de crítica e de vendas; e o fim inesperado de sua irmã Sally, falecida por razões tão inexplicáveis que o médico assinou apenas o seguinte como causa mortis no atestado de óbito: “urina purulenta”.
Tanto A informação como Experience são reflexões maduras sobre um tema que parecia não existir nos livros anteriores: o do memento mori. Sim, antes ele discorria sobre a morte dos sentimentos dos outros; agora, Martin Amis, próximo dos cinqüenta anos, resolveu meditar sobre a sua própria morte e como ele conseguiu impedir que os sentimentos que lhe restavam também não morressem.
A informação é sobre como o mundo da literatura é repleto de estupidez criminosa. Ao narrar sobre a rivalidade destrutiva entre Richard Tull, um escritor talentoso, mas condenado ao esquecimento, e Gwyn Barry, um sujeito medíocre que foi alçado ao Olimpo literário, Amis se espelha em ambos, faz uma confissão sobre os recônditos menos nobres do seu caráter e denuncia a podridão moral de um ambiente que não deixa nada a dever dos corredores da política ou dos becos sujos da criminalidade.
Todavia, o importante neste romance é o modo como ele dramatiza a consciência de que “a informação” chegará para todos. A tal da “informação”, no caso, é a própria morte. Perto dela, a literatura não serve para nada, não adianta ter qualquer sentimento. Este chamado às últimas coisas continuará com Trem noturno (Night train, 1997), que, ao usar de forma subversiva as regras do romance policial noir, é também o confronto de Amis com o suicídio de Lamorna Heath.
A investigadora Mike Hooligan atende um chamado urgente no meio da noite. Trata-se de Jennifer Rockwell, uma jovem de 22 anos com uma vida perfeita, mas que resolveu se matar com dois tiros de espingarda no peito e na cabeça. O enigma da ausência de motivo intriga Hooligan — e a fascina tanto que acaba se envolvendo com a idéia de seu próprio suicídio. Corta todos os seus vínculos com quem ainda se importa com ela; e notamos que, no fim do livro, Hooligan perde o vínculo consigo mesma e que o trem noturno que passa em cima do seu apartamento é apenas o sinal de que a vida finalmente perdeu o sentido.
Se Amis aborda a morte definitiva dos sentimentos na existência de um indivíduo, o que fazer a seguir? Bem, a realidade não deixaria de surpreendê-lo. Em 11 de setembro de 2001, como todos sabem, dois aviões se chocaram contra as torres gêmeas do World Trade Center. Um dos pilotos seria um dos futuros personagens de Martin Amis: Mohammed Atta. Alguém que ninguém ousaria tomar um café da manhã ou conversar alegremente no chá da tarde, mas que o escritor inglês escolheu a dedo para ser o representante definitivo do moronic inferno que explorou até as últimas conseqüências.
4.
Entretanto, antes de Mohammed Atta, Amis preferiu ir ao arquétipo do comportamento totalitário: Josef Stálin, o eixo de Koba the dread (2002), livro-denúncia sobre a cumplicidade dos intelectuais com regimes políticos que preferiram ver o ser humano pelo microscópio do número e dos planos qüinqüenais. Escrito ao mesmo tempo em que Amis lançava o conto Os últimos dias de Mohammed Atta (2001), Koba (apelido que Stálin recebera na infância) era um prato cheio para a polêmica — mas o conto sobre o fundamentalista islâmico fez mais alarde do que o documento sobre a Russa stalinista. Por quê? Afinal, na paisagem mental de Amis, os dois assuntos estão intimamente ligados: a morte definitiva dos sentimentos contaminou a vida em sociedade. Para ele, a Europa será islamizada sem que ninguém perceba; e o Islã é como o comunismo russo: não se trata de uma mera ideologia que pode ser controlada racionalmente. Trata-se de uma religião que, de uma forma ou outra, ajuda o ser humano a escapar da tragédia inevitável: a estadia terrena.
Portanto, estudar o comportamento de Atta e dos intelectuais que defenderam Stálin (e entre eles estava ninguém menos que Amis père) é mostrar os responsáveis e as vítimas da morte dos sentimentos. E é claro que isso não atraiu nenhuma popularidade para o antigo enfant terrible; de fato, suspeita-se que a defesa intransigente de seu diagnóstico o levou ao ostracismo entre seus pares. A crítica ignorou Koba the dread, desprezou o seu relato inusitado sobre Atta (em que o terrorista ia a um bordel antes de cometer o ato hediondo) e achincalhou Yellow dog (2003), um romance sobre o fundamentalismo islâmico que nem o próprio Amis atualmente acredita que deu certo. O único amigo que o defendeu de todos esses ataques foi o fiel Hitchens, que, por sinal, havia se convertido do trotskismo da juventude à defesa de uma invasão no Iraque que provocou arrepios nas nucas dos antigos companheiros.
O prestígio de Martin Amis voltaria com Casa de encontros (House of meetings, 2006). Ele não adocicou na escolha dos temas: o cenário do romance é um Gulag na década de 1950 e lá ocorre uma estranha relação de amor entre dois irmãos e uma petite russe que não deixa nada a dever à nossa Capitu. Não faltam cenas de perversão sexual, descrição de atos de higiene íntima, gestos de violência, o humor macabro que surge quando menos se espera. Mas há algo a mais: uma melancolia que permeia cada linha, cada atitude do personagem principal, um velho russo que volta à Terra Mãe justo no momento em que Vladimir Putin decide empregar seus métodos peculiares na escola de Beslan em 2004. A Rússia não tem mais jeito: de Stálin a Putin, qualquer possibilidade de uma educação sentimental decente foi substituída pela estupidez criminosa que nos atinge em escala global. O Gulag não é mais um problema soviético. Para Amis, a Europa e o mundo se transformaram em um gigantesco campo de concentração.
A evidência deste fato chega a uma síntese emocional em A viúva grávida. O título vem de uma declaração de ninguém menos que Aleksandr Herzen, o humanista russo que flertou com o socialismo no final do século 19 e que percebeu que aquilo não teria bons resultados. Em suas memórias, ele escreveu que “a morte das formas contemporâneas de ordem social devem antes alegrar do que perturbar o espírito. Todavia o que é assustador é que o mundo que se vai deixa atrás de si não um herdeiro, mas uma viúva grávida. Entre a morte de um e o nascimento do outro, muita água vai rolar, uma longa noite de caos e desolação vai passar”. A citação é profética, principalmente para quem participa do sonho de noite de verão que Amis constrói habilmente em seu romance e que enfim se tornará um pesadelo: o alter-ego Keith Nearing, a namorada deste, Lily, e a amiga dos dois, uma beldade chamada Scheherazade, que descobre o poder de seu charme justamente quando os três estão passando as férias em um castelo italiano no estio de 1970.
O casal está obcecado por Scheherazade. O momento crucial de suas vidas é entrecortado com as memórias de um Keith Nearing remoído pela velhice nos anos 2000; os fatos e os sentimentos são contrapostos e articulados em um painel de uma época que não tem nada para celebrar. Segundo o escritor inglês, a Revolução Sexual foi um engodo em que todos caíram sem pensar nas conseqüências — entre elas, a da morte precoce, simbolizada na figura de Violet Nearing, a irmã caçula de Keith que falece do mesmo modo e com a mesma idade de Sally Amis.
Mesmo com essas idéias que permeiam a narrativa, A viúva grávida não é um romance de tese. Há uma dose de emoção e de delicadeza que faltavam nos livros anteriores. Talvez seja o reencontro imaginário com os amigos que ainda não foram embora (como Hitchens, que faz uma participação fanfarrona em um momento hilário), ou com a própria Sally. Contudo, trata-se de uma sensibilidade diferente daquela apresentada por seu pai Kingsley em um dos seus últimos romances, The old devils (1986), vencedor do Booker Prize. Neste livro, vemos a velhice sendo tratada como um momento de reconciliação, até mesmo de perdão, como se o bafo da indesejada impelisse os personagens a uma harmonia que jamais será alcançada aqui; já em A viúva grávida, temos mais amargura do que propriamente aceitação da finitude — e as declarações recentes de Amis a favor da eutanásia devido a um “tsunami de prata” de idosos que invadirá a população européia nos próximos cinqüenta anos indicam que é provável que ele tenha também sido infectado pelo moronic inferno.
No aspecto formal, finalmente ele consegue integrar a entropia do drama romanesco com a dissolução psíquica do seu personagem. O enredo se autodestrói porque a alma de Keith Nearing já se foi há muito tempo. Sobraram apenas os restos de uma batalha em que todos perderam. Terminamos com a sensação de que o romance tal como conhecemos está falido porque os sentimentos humanos foram definitivamente à bancarrota.
Ou será que devemos pensar o contrário, de que o romance como forma objetiva de conhecimento da condição humana continua muito bem, obrigado, e que todo esse caos dramatúrgico se deve ao reflexo da própria falência sentimental de Martin Amis? É uma pergunta que se deve pensar quando se sabe que um de seus mais talentosos autores foi o único sobrevivente de uma história que ainda não acabou. Philip Larkin, em The old fools (Os velhos tolos), perguntava aos companheiros o que teria acontecido para acreditarem que a morte era um processo carinhoso de ficar de boca aberta e de babarem pelos cantos, sem ter ninguém por perto. Amis nos faz a mesma questão. A diferença é que Larkin já estava no final de vida quando escreveu estes versos enquanto Martin Amis ainda está no ápice dos poderes intelectuais. Será que ele escapará do inferno que diagnosticou em si mesmo e nos outros? É o que queremos desco
Notas
[1] Em tradução aproximada: “O que eles pensam que aconteceu, os velhos tolos, para se encontrarem dessa forma?” (Philip Larkin, Os velhos tolos); “E o inferno idiota havia me encontrado” (Saul Bellow, O presente de Humboldt)
[2] Em tradução aproximada: “A morte tem tanto o que dizer sobre ela: / Você não precisa sair da cama./ Seja lá onde você estiver/ Eles a trazem para você – de graça”.
[3] Esta observação sobre a obra de Martin Amis surgiu de uma conversa entre o autor deste texto e Michel Laub – a quem se fica agradecido desde já pela inspiração que deu origem a estas linhas.