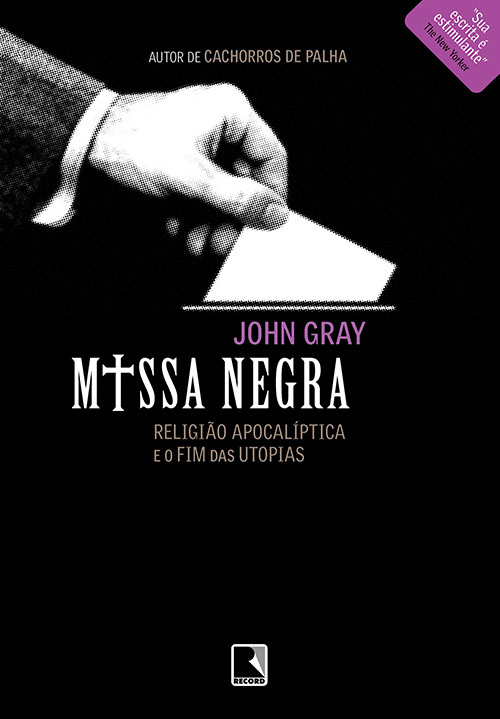Os maiores desastres políticos do século 20 e da história recente foram praticados com a maior das boas intenções. Como os protocolos da administração Bush cansaram de demonstrar, em nome da democracia e da liberdade no Ocidente, os fins justificam os meios.
Em Missa negra: religião apocalíptica e o fim das utopias, o escritor e filósofo britânico John Gray desmonta essa crença metafísica nos fins, sem qualquer amparo na realidade, que fez da política moderna um veículo para mitos apocalípticos e escatológicos (do grego escathos: último, mais remoto).
Gray é conhecido por obras como Cachorros de palha, em que critica o humanismo e a fé no progresso, e Al-Qaeda e o que significa ser moderno, no qual analisa a singularidade e a ideologia por detrás da rede terrorista internacional. Missa negra dá continuidade ao pensamento político de Gray construído nas obras anteriores, identificando preceitos religiosos que, implicitamente, regem as ações humanas.
Percebe-se, conforme o leitor é conduzido pela expedição “arqueológica” do autor, um compromisso que se estabelece entre antigas religiões como o Zoroatrismo, seitas milenaristas da Idade Média, o gnosticismo judaico e o cristianismo com as versões seculares do Apocalipse em movimentos políticos, sejam eles de esquerda ou de direita.
O desejo de enxergar um sentido na história alimentou projetos utópicos que, assumidos por Estados, redundaram em regimes despóticos, campos de concentração, assassinatos em massa e conflitos insolúveis (como no caso do Oriente Médio). O jacobismo no século 18, o comunismo e o nazismo, no século 20, e a recente “guerra contra o terror”, promovida por George W. Bush, partilhavam do mesmo torpor messiânico e fúria homicida. Por esta razão, a história moderna, diz Gray, deveria ser incluída em um capítulo da história das religiões ocidentais.
Mesmo a democracia e o livre-mercado não representam soluções para todos os problemas políticos e econômicos do mundo, como enfatizaram as recentes experiências no Leste Europeu, Rússia e Oriente Médio e a crise econômica global. Qualquer forma única de governo que assuma ares de universal é tão teológica quanto uma bula pontifícia. E, quando transposto do púlpito para os gabinetes presidenciais, tais doutrinas tornam-se perigosas:
Todas as sociedades contêm ideais divergentes de vida. Quando um regime utópico se defronta com este fato, o resultado só pode ser repressão ou derrota. O utopismo não causa o totalitarismo — para que surja um regime totalitário, são necessários muitos fatores —, mas o totalitarismo sempre sobrevém quando o sonho de uma vida sem conflito é persistentemente perseguido mediante o uso do poder do Estado.
Seria possível imunizar a humanidade contra esse mal? Para Gray, contra mitos os argumentos são inócuos. Seria a mesma coisa que tentar explicar para um crente a inexistência de Deus com base em lógica e ciência. Como disse Santo Agostinho, ao lhe perguntarem o que Deus fazia antes de criar o Universo: “estava preparando o inferno para pessoas como você que duvidam dos mistérios da fé”.
Iluminismo
Devaneios teleológicos (do grego telos, fim), de que a história caminha para um fim, seja ele o comunismo (Marx) ou a democracia liberal (Fukuyama), são atualmente um dos principais resquícios de fundamentalismo da política do século passado, que devem sua disseminação, ironicamente, ao movimento racionalista que pretendeu expurgar do pensamento os vetores teológicos.
Na Europa do século 18, os iluministas promoveram o arremate da transferência de poderes da Igreja Católica e do obscurantismo da fé religiosa para uma cultura laica, embasados em descobertas científicas de Galileu, Kepler e Newton. Afinal, se a razão humana tornava possível pesar as estrelas, talvez estivesse mais do que na hora de dar a Deus uma merecida aposentadoria. O Criador deixou o palco, mas continuou comandando o espetáculo da coxia.
O espetáculo era a história do progresso da Humanidade, em cuja marcha iluminada pela Razão deixava para trás uma era de mitos, superstições e fé religiosa, em direção a um final pleno de harmonia e conhecimento.
A história, porém, teimou em mostrar o contrário. Para frustração de pensadores como Adorno e Horkheimer, o logos se perverteu em irracionalismo. Assim, ao mesmo tempo em que a razão e a ciência disseminaram o poder do conhecimento, com a alfabetização em massa, melhores condições de vida e cura para doenças, trouxeram também uma era de genocídios, terrorismo e armas nucleares. O que deu errado?
O problema é que, subjacente ao positivismo ilustrado estava uma concepção cristã de tempo — essencial para a substituição do tempo ritualístico e cíclico do paganismo — na qual ao final apocalíptico sobreviria o retorno de Cristo. A astúcia iluminista consistiu em fazer do homem o ator principal desta narrativa mitológica e trazer o Paraíso para a terra, na forma do comunismo, do Terceiro Reich ou da democracia universal. Os fatos, contudo, nem sempre corroboram com delírios metafísicos.
Iraque
Um dos pontos altos de Missa negra é o capítulo A americanização do apocalipse, em que Gray analisa a campanha contra o terrorismo e a Guerra no Iraque, promovidas pela administração Bush após o 11 de Setembro e que passaram a justificar mentiras, torturas, prisões ilegais, violações de direitos civis e a privacidade de cidadãos norte-americanos (amparados pelo Patriot Act) como métodos válidos. Funcionava o expediente “Jack Bauer”, para o qual tempos difíceis exigem medidas extremas.
Como o filósofo aponta, a idéia de que a América tem um papel de Nação redentora da humanidade, cuja missão é mostrar aos outros povos o caminho da democracia liberal (o que, de certo modo, permanece intacto na era Obama) já estava presente nos colonizadores do Novo Mundo.
Para Gray, ao sustentarem a existência de armas de destruição em massa e a ligação de Saddam Hussein com os atentados de 11 de Setembro, Bush e o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair não estavam simplesmente mentindo para tentar justificar a guerra (que tinha como real motivação garantir uma hegemonia política e econômica na região), mas imbuídos da certeza de que os fatos pouco interessavam diante do programa neoconservador. Se a realidade não corrobora com a teoria, pior para ela, porque a teoria está certa.
Entretanto, se cultos milenaristas não se refutam com argumentos racionais, o mesmo não se aplica à tese de que a democracia é única forma de governo legítima. A contestação, segundo Gray, é amparada em dois pontos históricos: a convivência de formas mistas de governos e a clara impossibilidade de se “exportar” políticas ocidentais para países com diferenças culturais e regionais.
Conforme afirma,
(…) nesse início do século 21 existem no mundo vários tipos de regimes. A China adotou uma mistura de nacionalismo e capitalismo de Estado, o Irã, uma teocracia popular, a América, uma combinação de mercados livres com protecionismo e capitalismo clientelista, a Rússia, uma versão ultramoderna do autoritarismo, a Europa, uma mescla de social-democracia e integração econômica neoliberal. Nenhum desses sistemas assume uma forma eterna. Todos interagem reciprocamente e mudam constantemente. Mas se desenvolvem em diferentes direções, e não existem motivos para esperar uma convergência final.
A democracia tem muitas vantagens, mas a maior parte dos países não chegará a conhecer o Estado e, mesmo em países democráticos, a liberdade não é uma garantia, principalmente, diz Gray, entre povos em que ela não é valorizada.
Embora crítico dos botequins do pensamento pós-moderno, o escritor britânico termina por acrescentar, num quadro que poderíamos incluir Foucault, Derrida e Deleuze, uma versão pluralista e pulverizada de política que descredencia, mais uma vez, a exclusividade do ponto de vista ocidental da história. Aceitar a transitoriedade e a variedade das experiências políticas é, no final das contas, o melhor remédio contra as utopias.