É inegável que o Modernismo brasileiro ainda suscita questões importantes. Uma efeméride como a que marca o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922, agora em fevereiro, torna-se um momento oportuno para (re)avaliar e (re)visitar um evento que ocupou um lugar singular na trajetória da construção do pensamento nacional. Mas esse mergulho no pretérito, tentando descortinar novas possibilidades que surgiram na esteira do movimento e atualizando suas interpretações, sempre possui seus riscos inerentes a tal tarefa. Um evento que foi exaustivamente analisado nesse tempo poderia oferecer alguma avaliação inédita, ou mesmo permitir entrever pontos que passaram despercebido no seu momento de gestação e que foram (ou são) imprescindíveis na formação cultural e artística brasileira?
A fortuna crítica é extensa e em alguns casos já estabeleceu certas perspectivas e avaliações sobre o Modernismo. Tentar descortinar algo inédito num terreno tão explorado é um desafio, mas à maneira de Brás Cubas, o defunto-autor machadiano, se a reflexão agradar ao leitor, pago-me da tarefa, se não agradar…
De imediato, sabemos que o Modernismo dialogou profundamente, para o bem e para o mal, com o Parnasianismo. Buscando uma liberdade poética, o movimento modernista apostou na caricatura e no exagero da crítica. O poema Os sapos, de Manuel Bandeira (publicado em 1919 e lido na abertura da Semana), quebra com os versos parnasianos que fundamentavam a majoritária produção poética. O caráter “zombeteiro” que o poeta pernambucano imprime aos seus versos é uma caricatura da busca de uma arte elaborada a partir de si e para si; o movimento só não conseguiu romper a herança parnasiana dos nossos versos dos hinos Nacional e da República; custa-nos a forma, resta-nos as ações patrióticas requeridas à noção de pátria aí forjada. A questão da tão cara “identidade nacional” é outro fator que a fortuna crítica do período quase é unânime em apontar como fator que permeia e baliza parte da elaboração estética modernista. Os estreitos laços que o Modernismo mantém com o momento antecessor também já foram mais do que evidenciados pela crítica, salientando os pontos de ruptura disfarçada e continuidade canhestra que os movimentos mantêm entre si.
Do Romantismo o Modernismo herdou o gosto pelo mergulho nas raízes indígenas para elaboração do substrato cultural que pudesse ser o fator de diferenciação perante o mundo. Gonçalves de Magalhães, que já havia oferecido o ensaio para programa identitário nacional na Revista Nitheroy, em que apontava o indígena como elemento norteador, nos apresenta a Confederação dos Tamoios como uma épica nacional. O artificialismo da figura indígena, já sabemos, é presente; sempre subordinados aos princípios morais e estéticos europeus, ilustrados com cores locais, os personagens indígenas, apesar de protagonistas, transitam num espaço autóctone, mas sucumbem a uma “força civilizatória” maior. A esse artificialismo se acrescenta o empreendimento romancista de Alencar, e a poética de Gonçalves Dias em I-Juca-Pirama, que perfazem uma imagem de povos originários muito distantes de uma realidade que lhes negava, inclusive, um status de cidadania.
Mas se o Modernismo rejeita o “índio de tocheiro. O índio filho de Maria, afilhado de Catarina de Médicis e genro de D. Antônio de Mariz” (Manifesto Antropófago) por não corresponder a uma realidade dos modos, costumes e saberes elaborados pelos povos originários, tampouco valorizou os elementos constitutivos de uma experiência indígena em sua religiosidade e formas de expressão para além das questões estéticas que foram tão bem substancializadas em algumas linhas dos manifestos Poesia Pau-Brasil e Antropófago, ambos de Oswald de Andrade.
A questão da herança negra africana, em toda a sua complexidade e dinamicidade, não se tornou centralidade.
País periférico
Não se nega a potência que escritor protagonizou ao revitalizar e realocar o conceito de antropofagia. Quando extrai o conceito de antropofagia a partir dos relatos dos primeiros colonizadores, Oswald não só revitaliza uma herança “literária” que sempre se ocupou da questão Brasil em alguma medida, como agora assume a condição de país periférico que, mergulhado num mimetismo tacanho das modas, costumes e pensamentos europeus, deglutina o que “vem de fora” para elaborar uma nova perspectiva. No manifesto da Poesia Pau-Brasil, o autor defende o que chama de poesia de exportação, isto é, toda nossa produção que é elaborada a partir dos fatos cotidianos que enxerga nos “casebres de açafrão e de ocre nos verdes das favelas, sob o azul cabralino” fatos estéticos, ou seja, fontes de onde emanam as múltiplas imagens da brasilidade.
O problema que toca Oswald já havia ocupado parte da reflexão de Euclides da Cunha, n’Os sertões, quando denuncia que a campanha de Canudos foi um “refluxo ao passado”, pois ali estavam jogados na “penumbra secular em que jazem, no âmago do país, um terço de nossa gente”. De fato, desde o processo de debate da Independência, a reflexão sobre a autonomia estética e política comungavam da mesma agenda e cruzavam as mesmas questões. Aceitar os “casebres de açafrão e de ocre nos verdes das favelas” como elementos estéticos necessariamente tocaria uma ferida narcísica que era cara para a República, então vigente, e para a aristocracia que financiou a Semana de 22. Um problema com o qual a geração de 1922, na sanha de um tateamento da sua realidade contemporânea, teve de lidar. E de algum modo ofereceu importantes perspectivas para repensarmos nossas raízes culturais.
A questão da herança negra africana, em toda a sua complexidade e dinamicidade, não se tornou centralidade nesse processo de pensar o Brasil, ou quando muito, ocupou a “periferia” da produção intelectual. Surgindo na afirmação que o “carnaval no Rio é o acontecimento religioso da raça” ou na “formação étnica rica”, a questão cultural negra não ocupa muita agenda no Modernismo. Não é de surpreender que, sob a mesma égide, o movimento tenha acolhido figuras tão díspares. Ao passo que, em seu bojo, o Modernismo oferece uma impressionante coleta mitopoética, protagonizada pelas viagens de Mário de Andrade pelos interiores do norte e nordeste do Brasil, num trabalho etnográfico que recolheu muita tradição literária oral popular, além de fundamentar um laborioso estudo de proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, do outro lado, o movimento nos oferece panoramas que beiram a absurdidade de um Graça Aranha que conclui, na sua conferência de abertura, “não termos o passado de civilização aborígene”, o que facilitou nossa “liberdade criadora”. Não explica, no entanto, o porquê. A perspectiva de desdém que lança sobre a cultura de outras matrizes civilizacionais é ignorada pelo membro da Academia, para quem “o Brasil não recebeu nenhuma estética dos seus primitivos habitantes, míseros selvagens rudimentares”.
Assim, o Modernismo vai se constituindo numa conjugação genuína de contradições, erguido sobre uma “ruína-que-fermenta ou resto-que-fecunda”, para citar Lima Barreto, sintetizando paradoxos, e exibindo o hibridismo do povo brasileiro. A Semana de 1922 era filha de um panorama que aspirava mudanças profundas nos campos estéticos, mas que necessitava de uma marcha histórica que abarcasse as suas aspirações. Se inicialmente a reflexão sobre câmbios na temática artística era central — num laborioso trabalho para romper com os paradigmas árcades, simbolistas e parnasianos —, o passar do tempo ofereceu novos panoramas para o modernismo que requeriam um amadurecimento de suas reivindicações e propostas passando a pensar a dinamicidade que a questão Brasil implica.
Modelos europeus
Mas a compreensão de Brasil ainda era complexa para ser abarcada em profundidade pelo Modernismo paulista. Rio e São Paulo, eixos produtores de então, estavam mergulhados numa sanha de projetar o futuro baseando suas instituições (científicas, educacionais, artísticas, governamentais) nos modelos europeus que efervesciam com novas teorias sociais e científicas que tentavam elaborar bases para constituição de um Estado. Se de um lado as ideias de revoluções estéticas apontavam um horizonte de novas possibilidades de construção, do outro emergia uma profunda necessidade de “ajustar” essa elaboração da cultura popular aos anseios de um país que se queria mostrar em sua dinamicidade. Era preciso romper com o autocentrismo que o Modernismo se impregnou inicialmente.
Apesar de o Modernismo gerar potentes construções artísticas como os manifestos literários que pululam durante a década de 1920, torna-se evidente que um problema perpassa suas construções: como lidar com o hibridismo cultural na sua mais efervescente manifestação. Alguns manifestos exibem vitalidade, outros validam percepções já superadas quando comungam da “ingenuidade” do indígena do romantismo que beira uma passividade delirante e utópica. Alguns outros manifestos muitas vezes validam uma percepção que buscava na miscigenação uma negação da recusa patente da herança negra na formação do país. Em suas linhas o manifesto Nhenguaçu afirmou que “não há entre nós preconceitos de raça. Quando foi o 13 de maio, havia negros ocupando já altas posições no país”, e chegava à absurdidade de afirmar que “antes, como depois disso, os filhos de estrangeiros de todas as procedências nunca viram os passos tolhidos”. Num país marcado pelo sistema escravagista que jogou à sorte milhões de negros sem assistência do Estado, e que cerceou as liberdades autóctones, essa afirmação parece deslocada de uma realidade factual, ou tenta perfazer uma imagem inapreensível de país.
A cultura brasileira, portanto seu povo, é fruto de uma colonização mercantil com ares de iluminismo teleológico calcado num catolicismo miscigenado de um “Portugal do século 16 (…), o Portugal mouro, judaico, ibérico, grego, romano, germânico, enseada de incontáveis afluentes étnicos carregando superstições”, como afirmou o folclorista Câmara Cascudo. Agregue a esse não singelo mosaico lusitano o contato com uma cosmogonia indígena, temperada com o mito indígena tupi da “terra-sem-males”; e por fim, a mais híbrida e diversificada cultura do panteão africano trazida nos porões dos navios tumbeiros. Esse encontro protagoniza o que de mais candente e pulsante temos de uma cultura, misticismo, língua e religiosidade no Brasil, e que de alguma maneira são alçadas, a partir do modernismo, mas não tributária apenas dele, a outros patamares de manifestação.
O Modernismo vai se constituindo numa conjugação genuína de contradições.
Ferida narcísica
Nessa perspectiva, a valorização da cultura negra constitui uma ferida narcísica pela qual o Modernismo não pôde escapar. A Semana de 22 poderia ser considerada como nossa carta de alforria intelectual e como o roubo prometeico do fogo inaugurador da consciência de si? Difícil resposta, mas de interessante reflexão. De fato, o Modernismo rearranja nossa própria forma de pensar, mas não rompe de todo com a episteme anterior, nem promove inéditos avanços na elaboração do estatuto de cidadania de pensamentos de grupos minoritários. No entanto, nos legou uma complexa reflexão sobre a nacionalidade, fecundou pensadores das mais variadas perspectivas, resultou numa plêiade de revistas que renovavam a construção estética e possuiu forte influência no Cinema Novo. Realocou nossa própria forma de lidar com a língua, reconhecendo nela o valor intrínseco da manifestação genuína da expressão de um povo, por isso uma aceitação de um hibridismo constitutivo se faz imperiosa para a expressão e o cultivo de uma construção poética baseada numa “língua sem arcaísmos, sem erudição. Natural e neológica. [que contenha] a contribuição milionária de todos os erros. Como falamos. Como somos” (Poesia Pau-Brasil).
Um século depois, o quão modernistas somos? O que elaboramos desde então enquanto pensamento e estética genuínos? Revisitar a Semana de 22, focalizar suas consequências imediatas e assentadas ao longo do tempo, perceber sua recepção e construir um panorama de seus frutos, consonância e dissonâncias, pode nos fornecer interessantes perspectivas. Cabe refletir, o que pode ainda o Modernismo?
…
Para saber mais sobre a Semana de 22 e o Modernismo

Modernidade em preto e branco – Arte e imagem, raça e identidade no Brasil, 1890-1945
Rafael Cardoso
Companhia das Letras
372 págs.

Lira mensageira
Sergio Miceli
Todavia
264 págs.

1922, a semana que não terminou
Marcos Augusto Gonçalves
Companhia das Letras
376 págs.

Semana de 22: Antes do começo, depois do fim
José De Nicola e Lucas De Nicola
Estação Brasil
648 pás.
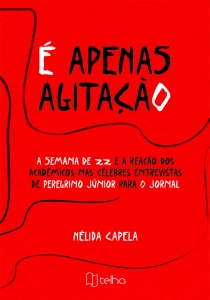
É apenas agitação: A semana de 22 e a reação dos acadêmicos nas célebres entrevistas de Peregrino Júnior para O Jornal
Nélida Capela
Telha
196 págs.

A revista Verde, de Cataguases: Contribuição à história do Modernismo
Luiz Ruffato
Autêntica
192 págs.












