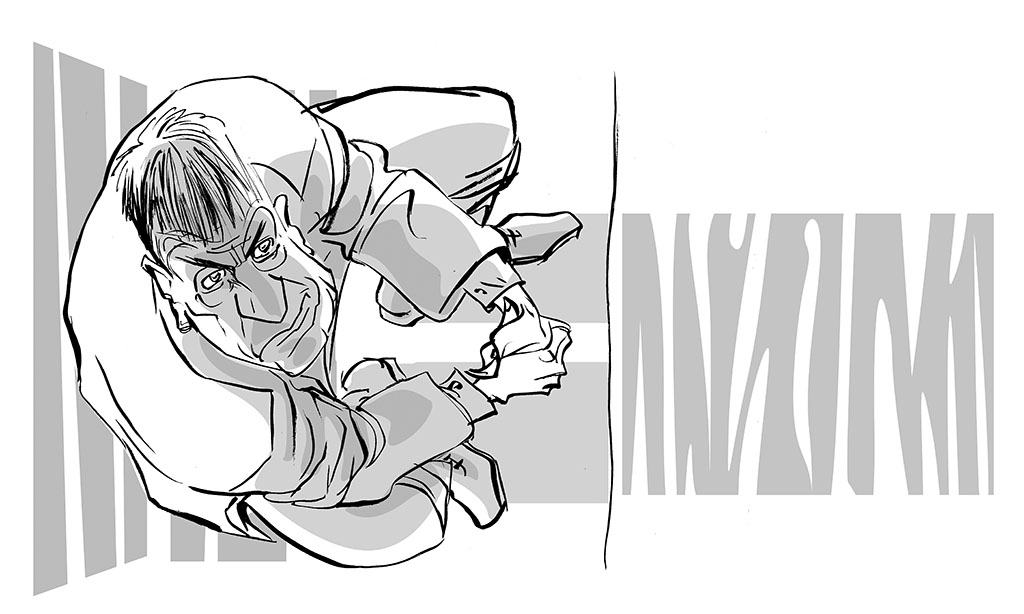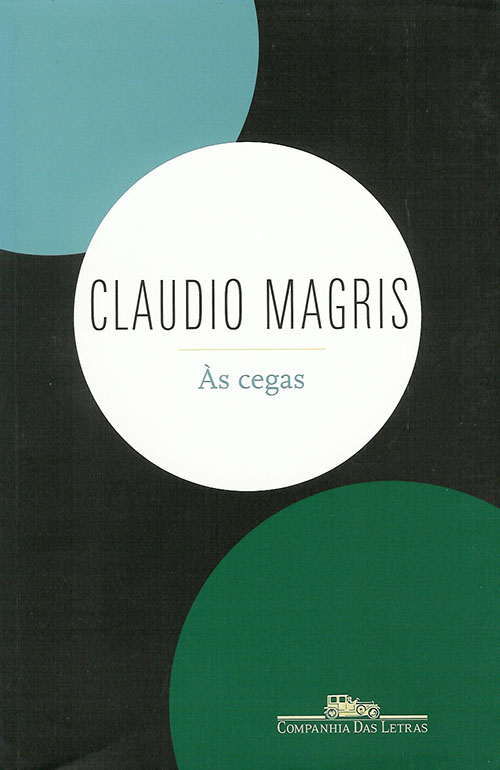O escritor italiano Claudio Magris tem sido um nome cada vez mais freqüente nas estantes dos autores traduzidos há pouco no Brasil, bastando apenas que lembremos de O senhor vai entender e deste último Às cegas, recém-chegado entre nós na impecável tradução de Maurício Santana Dias.
Além de romancista, tradutor, ensaísta, colaborador do Corriere della Sera é, também, professor de língua e literatura alemãs na Universidade de Trieste, cidade em que nasceu.
A narrativa de Magris costuma ser analisada como extremamente complexa, digna de leitores que tenham muito fôlego, já que pressupõe, no mínimo, a decodificação de elementos que remetem, de modo refinado e erudito, a diversos níveis do que passou a ser um dos ícones da literatura moderna e, especialmente pós-moderna: o da chamada intertextualidade.
Assim é que não são raras as associações que se estabelecem entre seus textos e as inúmeras possibilidades de diálogo com grandes obras literárias e seus personagens, particularmente as que, de certo modo, revisitam ou recuperam, numa instigante releitura, alguns mitos clássicos como, por exemplo, os de Orfeu e Eurídice, o sinuoso périplo de Ulisses em sua longa viagem e as aventuras de Jasão em busca do velocino de ouro, entre outros.
Neste romance Às cegas, publicado em 2005, não é diferente. De fato, evidencia-se, logo à primeira vista, a recorrência a todos esses mitos, e não há que negar o quanto a cultura grega e a grandeza de sua épica, além das tragédias, impregnam o texto de Magris, autorizando como plausível linha de análise de sua obra as múltiplas relações intertextuais, magistralmente elaboradas pelo autor, como artimanhas das estratégias de seu narrar.
Odisséia da desilusão
Nesse sentido, a primeira inevitável imagem que nos vem quando Salvatore Cippico, o louco narrador que passa a contar sua história ao doutor Ulcigrai no Centro de Saúde Mental de Barcola, é precisamente a de uma fatigante e infindável viagem, uma verdadeira odisséia. Talvez, recuperando as palavras do próprio Magris, no ensaio O romance é concebível sem o mundo moderno? — publicado no primeiro volume de A cultura do romance, organizado por Franco Moretti —, este seu romance seja “a história de um indivíduo que busca um sentido que não há, (…) odisséia de uma desilusão”.
Cippico é apresentado como um militante comunista, obrigado a viver em trânsito, totalmente desenraizado, por questões políticas, numa eterna viagem, empunhando a bandeira vermelha da utopia, arriscando a própria vida em prol dos ideais do Partido, que eram visceralmente os seus. Utopia que durou por longo tempo, enquanto os torturadores, carcereiros e tiranos que o submetiam não eram os próprios companheiros.
De fato, os dados que aparecem em seu prontuário o revelam como um caso raro de sobrevivente, que teria resistido a vários tipos de cárcere:
Demitido depois de detenção por propaganda e atividade antifascista. Militante do Partido Comunista clandestino. Várias vezes detido. Participou da Guerra de Espanha. Militar na Iugoslávia; depois do 8 de setembro, membro da Resistência. Deportado a Dachau. Em 47, emigra para a Iugoslávia com dois mil “monfalconenses” para construir o socialismo. Depois do rompimento entre Tito e Stálin é preso pelos iugoslavos como membro do Cominform e deportado em 49 para o gulag de Goli Otok, a ilha Nua ou Calva, no Quarnero. Submetido, como os demais, a trabalho inumano e massacrante, sevícias e torturas. Provavelmente remontam a esse período seus distúrbios e suas acentuadas manias de perseguição.
Aos poucos, vamos nos dando conta de que a única chama capaz de mantê-lo vivo nas situações mais aterrorizantes, como, por exemplo, a de sua deportação ao lager de Dachau era o fato de ter sido muito bem treinado pela intelligentsia do Partido a resistir, aferrado à idéia da construção de um mundo em que todos os companheiros deveriam se unir. Porém, a total aniquilação de seu ideal revolucionário, a viagem sem retorno, significando morte em vida, já que, para ele, “vida é revolução” e a “revolução é uma volta para casa”, ocorre a partir do inevitável desgaste das bases do Partido e dos desmandos do então “companheiro Tito”.
Aqui, a odisséia que se concretiza é a da desilusão, a do fim das utopias, pois se Ulisses consegue voltar, tendo sua cicatriz identificada, a dele, que é a de quem volta de Goli Otok, é irreconhecível de tão monstruosa, pois Salvatore Cippico, Cipiko, Čipiko, profissão: detido/deportado, transforma-se apenas num anti-herói multifacetado, vivendo uma total dissociação identitária, no limite da esquizofrenia, carregando pirandellianamente todas as máscaras de ser um, nenhum, cem mil, uma displaced person, eterno estrangeiro, sem lugar no mundo, rotulado como louco, restando-lhe apenas o cárcere da clínica psiquiátrica. Confinamento dessa vez obrigatório, não pela nobre causa da bandeira vermelha que ele, simbolicamente, comparava ao velocino de ouro, procurado e encontrado por Jasão, mas a do confinamento trágico de uma existência que se percebe vã:
Retornar com o velocino de ouro, não importa depois de quantas circum-navegações…
Por que a viagem foi tão longa? O companheiro professor Blasich diria que os argonautas devem sempre fazer muita estrada; segundo alguns, eles sobem até o Danúbio ou talvez o Don, atravessa a Sarmátia e o mar Crônio e descem pelo oceano para voltar pelas portas de Hércules — mare tenebrarum, grandes águas de ocidente, pôr-do-sol dourado como o velocino —, uma antiga moeda encontrada em Ribadeo, na Galícia, traz a efígie de um aríete de pelo de ouro. Ele, Jasão, volta com o velocino, mas eu, se procuro no bolso, não acho nada, no máximo essa sua bolacha, doutor, uma moeda de ouro que dissolve na boca e faz dormir; o dragão adormece, como quando bebe as poções mágicas de Medéia, e quando acorda o tesouro não está mais lá. Onde está a bandeira vermelha, quem a roubou?
Nenhuma viagem é demasiado longa e perigosa se traz de volta a casa… Como, voltar de Goli Otok para onde?…
Abaixo a retórica
Além da sinuosidade de uma narrativa que oscila como um barco à deriva da fragmentação, que titubeia na voz e nas vozes desse narrador difícil de apreender, há que se notar outra possibilidade de leitura do texto, subjacente ao diálogo explícito com os flagrantes da história do comunismo no século 20 — numa releitura da história oficial — e das relações intertextuais com a literatura épica e a tragédia grega.
Chama a atenção que, por meio da ironia, Salvatore, quando já considerado louco e no momento específico em que conta sua história ao médico narratário, assuma ares de total reprovação, diante de discursos que classifica como “retóricos”.
Assim, lembra de sermões de igreja em que as perguntas do reverendo eram feitas com as respostas já implícitas, e de todas as outras situações traumáticas que vivera nas salas de tortura, em que a mesma insistência persuasiva e manipuladora direcionava certos interrogatórios, através da violência, a fim de obter informações secretas.
Importa notar que ele também percebe esse tipo de discurso persuasivo nas questões que o doutor lhe propõe, porém, pelo menos este “não ergue as mãos, ao contrário, sendo gentil” e não se incomoda se fica calado.
Segundo Abbagnano, a retórica é a arte de persuadir com o uso de instrumentos lingüísticos, tendo sido a grande invenção dos sofistas. No diálogo de Platão intitulado Górgias se evidencia o caráter positivo, a habilidade do retórico em “falar contra todos e sobre qualquer assunto, de tal modo que, para a maioria das pessoas consegue ser mais persuasivo que qualquer outro com respeito ao que quiser”. Na evolução do conceito, só com Aristóteles, a retórica passa a assumir função específica, compreendida em chave dialética, enquanto “faculdade de considerar, em qualquer caso, os meios de persuasão disponíveis”. O cartesianismo, adotado maciçamente no século 19, teria sido a maior causa da decadência da retórica.
Embora em termos de análise do discurso possamos reconhecer vários níveis de persuasão explícita ou subliminar, em qualquer tipo de intenção lingüística cumpre observar que o narrador, mesmo tendo aceitado, em certa fase da vida, todo chamado retórico do Partido, sendo, inclusive propagandista das idéias revolucionárias, somente quando “enlouquece” adquire a lucidez necessária, a consciência diante do poder traiçoeiro dessas manobras da linguagem: “Nunca há respostas para as perguntas retóricas…”
Então, a recorrência aos fragmentos delirantes do que a memória consegue resgatar, o apelo ao simbólico, especialmente pela recuperação e projeção de passagens vivenciadas ficcionalmente por personagens da literatura, em atitude quixotesca, representando essa loucura do narrar, não são apenas procedimentos narrativos, encontrados pelo autor para tratar do discurso de alguém perturbado psiquicamente.
Ao optar por essa aparente desordem da linguagem, nos termos propostos por Lacan, em suas teorias sobre psicoses e esquizofrenia, o narrador investe nessa desconexão que tangencia certas deficiências infantis em aceder plenamente ao domínio da fala, mas capaz de traduzir, muitas vezes poeticamente, desnorteantes sensações de irrealidade.
O que Salvatore Cippico pretende, em síntese, por meio de suas múltiplas e esquizofrênicas vozes, é libertar a narrativa da camisa-de-força do dirigismo retórico, que aprisiona e tortura a todos, inclusive a nós, leitores. Daí, também, porque se justifique que nele habitem todos e nenhum, numa ode à anarquia de contar a história a seu bel-prazer, já que a suposta e previsível ordem discursiva que possa nos convir está intimamente relacionada à onipotência de um único narrador, cujas rédeas firmes se apóiam na persuasão tirânica que distorce a realidade.
Em vez da oposição do racionalismo de Descartes no combate aos sofismas, o que aqui se tem como contraposição é a apologia da não linearidade, travestida sob as formas da loucura e da relativização, como inteligente fuga das malhas da teia do discurso centralizador que só quer persuadir e submeter.
Sobrevivente: a palavra
O que sobrevive em quem sobrevive ao cheiro de morte dos fornos crematórios de Dachau, aos porões e celas fétidas de tortura, às SS, às cabeças nas latrinas, aos cassetetes nos ouvidos, à Goli Otok? O que sobrevive a isso?
Nós, pijeskari, cavadores de areia, devíamos estar com aquele mar até o peito, inclusive no inverno, raspando-o fundo com a pá para recolher a areia e carregar os batéis, para cima e para baixo com a pá na água gelada. Depois de um tempo nem se sente o gelo; a pá sobe e desce, se não se move com rapidez e cheia de areia vem a bordoada, um deles quebrou o nariz e continuou ali, de molho até o peito, a cara arrebentada, sangue e muco de gelo. A pá se levanta e se abaixa, não se sente mais a mão. O sal esfola a pele mais que o vento, não é uma surpresa. O mar não tem piedade, mas por que só ele deveria ter?
Um homem e sua inenarrável dor, a cicatriz monstruosa que ninguém consegue reconhecer… Um homem, para sempre estrangeiro ao mundo, extirpada sua raiz, Ulisses sem volta para casa, Jasão sem o velocino de ouro. Um homem — É isto um homem?, indaga Primo Levi — e sua palavra que, na mais louca lucidez rompe a retórica da censura, das lavagens cerebrais do silêncio, e conta, com suas infinitas vozes, ainda que simbólica e metaforicamente, a crua realidade.
Segundo Claudio Magris, em ensaio mencionado anteriormente, a “literatura contemporânea é marcada pelo sentimento de uma ferida profunda que a história parece ter infligido ao indivíduo, impedindo-o de realizar plenamente a própria personalidade em acordo com a evolução social e fazendo-o sentir a impossibilidade e a ausência da vida verdadeira, o exílio dos deuses e a fragmentação de sua própria existência”. É desse indivíduo que trata seu romance Às cegas, daquele que, na escuridão da loucura, é o único Tirésias capaz de profetizar verdades.