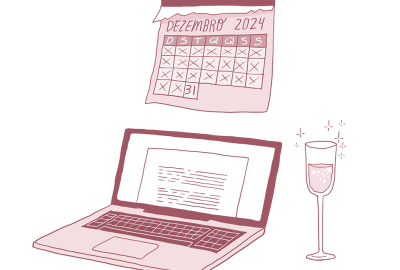O mundo contemporâneo — e particularmente o contexto brutal do nosso país — não está sendo construído por escolhas de cidadãos livres, mas por encruzilhadas que nos submetem.
Pela ótica da política pública predominante nesses dias de extrema violência, pelas ações e omissões dos que nos governam, a sensação é de que essas encruzilhadas caem sobre nós num processo contínuo de fomento à desesperança por conta da truculência, da irracionalidade, da crueldade dos raciocínios e ações que nos atingem. Exemplos não faltam nesse princípio de maio: a omissão e o negacionismo governamental na pandemia ceifaram 422.418 vidas e infectaram 15,2 milhões de brasileiros. Às barbáries governamentais na pandemia, junta-se a índole miliciana dos atuais chefes do poder na sustentação a ações policiais alicerçadas no extermínio e não na repressão legal ao crime, obrigação do braço armado do Estado. A comunidade de Jacarezinho, no Rio de Janeiro, acaba de vivenciar um banho de sangue — 27 execuções.
Diante de um poder central negacionista e idólatra da violência, a população vê-se frente às encruzilhadas impostas por uma sociedade deformada pela desigualdade estrutural, que cria e preserva a ignorância, e por uma tradição histórica não democrática, distante do ideal buscado por legisladores progressistas que projetaram uma sociedade mais equânime, como aquela esboçada para dar seus primeiros passos na Constituição de 1988.
Apesar da dor das enormes perdas pessoais e coletivas, o trauma da pandemia pode nos abrir para um exame profundo de nossas escolhas livres e conscientes e das encruzilhadas impostas. Apesar da complexidade de nossa sociedade, não é preciso muito esforço para compreender quais são os períodos históricos nos quais tivemos escolhas ou encruzilhadas: essas últimas ocorrem invariavelmente em períodos em que a força da violência estatal se sobrepõe à ideia original de administração pacífica dos conflitos que caracteriza a atividade política.
Acossados por mais um período de autoritarismo, agora associado ao nefasto neoliberalismo, aqui apelidado de “Posto Ipiranga”, vivenciamos ininterruptamente violações tanto à Constituição quanto à obediência de procedimentos jurídicos legais e afeitos à prática democrática.
Se esses tempos banhados pelo sangue de milhares de brasileiros vitimados pelo negacionismo e pela violência conseguirem abrir uma brecha para reflexão das lideranças civis no amplo espectro político do centro à esquerda, talvez consigamos lidar melhor com as escolhas que pudermos fazer nas políticas públicas de desenvolvimento sustentável do Brasil. É preciso refletir.
Se os tempos presentes estão difíceis, se já tivemos tempos piores, esses fatos não anulam as escolhas equivocadas das elites políticas e econômicas em períodos de melhores ares do Estado. Analisemos dois momentos das décadas de 1980 e 1990.
O poema do grande Affonso Romano de Sant’Anna perguntava em 1980: “Que país é este?”, desnudando um Brasil que precisava ter escolhas melhores nos estertores da ditadura militar de 1964. Essa mesma pergunta ganharia nova força dois anos após empossado o primeiro presidente eleito pós-autoritarismo: em 1987 a banda Legião Urbana lançava com sucesso “Que país é esse?”, clamando por um país “sem sujeira pra todo lado”.
Na esteira das exigências da sociedade, a “Constituição Cidadã” de 1988, batizada por Ulysses Guimarães, criou avanços institucionais que colocaram a nação em um patamar mais elevado na política democrática, buscando saldar dívidas sociais com a maioria da população em muitos dos seus aspectos.
Era de se esperar que após o trauma social de 21 anos de ditadura, encurralados que fomos em encruzilhadas autoritárias do tipo “Brasil: ame-o ou deixe-o”, as escolhas pudessem ter a virtuosidade de caminhos iluminados pela ciência, pela educação, pela cultura, pela literatura e as artes.
No entanto, a mesma elite que deu sustentabilidade à Constituinte reformadora, fez escolhas políticas contraditórias nessa mesma década ao permitir que os operadores policiais e militares dos porões da ditadura começassem a cultivar seus tentáculos arbitrários e se imporem paralelamente ao poder público em muitas comunidades brasileiras, notadamente no Rio de Janeiro. Refiro-me à formação das milícias e baseio-me no excelente livro de Bruno Paes Manso, A república das milícias — dos esquadrões da morte à Bolsonaro, editado pela Todavia em 2020.
Junto à Nova República, gestava-se o horror do crime organizado que pouco a pouco chegaria aos poderes legislativo e executivo, tornando o país campeão da taxa de homicídios no mundo em pleno regime democrático. As consequências dessa escolha, acobertamento de crimes contra o Estado de Direito e pela impunidade dos crimes do período ditatorial e seus assassinos, fez crescer o ovo da serpente que infalivelmente acabou rompendo sua casca no curso da história, parindo monstros como aqueles com que hoje convivemos.
Quando tratamos de escolhas, falamos de caminhos a construir, e naquele mesmo período histórico, em que se podia escolher os rumos do Brasil, um arrojado programa de política pública foi desenhado pelo poeta, autor de “Que país é este?”. Affonso Romano de Sant’Anna assumiu de 1990 a 1996 a presidência da Fundação Biblioteca Nacional. Tive o privilégio da amizade de Affonso, e conheço essa história desde os tempos em que dirigi o Plano Nacional do Livro e Leitura, em 2006, mas sua saga pela implantação de políticas públicas baseadas num tríptico sistêmico — biblioteca/livro/leitura —, pode ser lida no seu excelente e saboroso livro Ler o mundo, editado pela Global em 2011. Para o tema aqui tratado, o último capítulo — Biblioteca Nacional: uma história por contar — é fundamental.
Aquela proposta de política demonstrou às elites dirigentes uma escolha diametralmente oposta de país daquele que fomentou o surgimento das milícias. Ao criar o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas e o Proler, Affonso projetou um país leitor aos três presidentes da república que serviu e aos seis ministros da cultura com quem conviveu. Além de suas tentativas em fazer da leitura e bibliotecas uma ação política de todos os ministérios da república, perspectiva que retomamos quando da implantação do PNLL, ele trabalhava com a ideia de que as bibliotecas e a formação de leitores teriam o potencial de transformação necessária ao país que queríamos e que se tornaria distante daquele de seu poema — o país do “ajuntamento”, do “regimento”, do “confinamento”.
A ação política de Affonso e sua equipe se mostrou virtuosa, ao estilo das grandes propostas formadoras do país realizadas por intelectuais que, como ele, não apenas opinaram sobre as relações de cultura e poder, mas se dispuseram a enfrentar a “hidra de várias cabeças que é a administração pública”, como escreve à página 204 do livro citado.
Duas escolhas, dois caminhos opostos num mesmo período histórico. O da milícia frutificou o seu horror. O de Affonso, abortado em 1996, em período democrático com um intelectual presidente.
Daqueles anos 80 e 90, a escolha pelas opções que fomentaram as milícias e que tornaram possível o projeto de implantação de um Estado miliciano no país foi incontido e fomentado. A saga de Affonso, que retomamos em 2006 com o PNLL e com a Lei 13.696/2018 da Política Nacional de Leitura e Escrita, definhou também neste novo período. Até hoje as escolhas de nossos dirigentes políticos, com o consentimento das elites econômicas, preservam a violência e negligenciam a palavra. Ao tratarem cultura e educação como supérfluos, detonaram o florescimento da cidadania.
É na persistência dos que não aceitam a tirania e a violência como modo de vida que se constrói no cotidiano o desenvolvimento baseado na equidade e na justiça social. Aos dirigentes políticos, do centro à esquerda, novas escolhas de construção ou de cruzamentos de ódio se apresentarão quando passarem as trevas. Ousarão transformar a triste realidade ou continuaremos a nos perguntar: “Que país é este”?