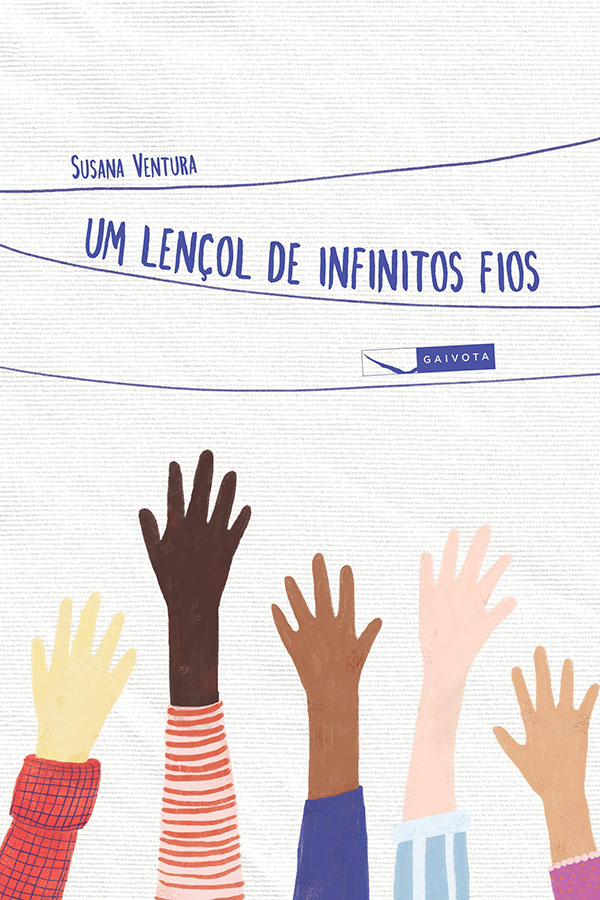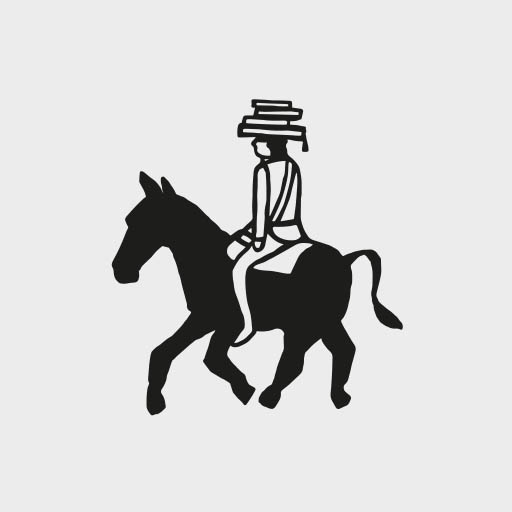Um estrangeiro me revelou minha estrangeirice.
Edmond Jabès
Uma boa história é aquela que mobiliza, provoca e solicita uma resposta, dentre as possíveis, porque faz pensar, independentemente da idade do leitor ao qual ela é, a princípio, endereçada. A boa literatura é sem adjetivo, como muito bem defende a escritora argentina Maria Teresa Andruetto.
Um lençol de infinitos fios, de Susana Ventura, pertence, a meu ver, à literatura que dispensa adjetivo, porque não parte em busca de um público-consumidor, mas de um sujeito-leitor-cidadão. Aliás, como são os jovens protagonistas da complexa narrativa de infinitos fios. O lençol narrativo acolhe e escuta os jovens e suas famílias, exemplificando como a geografia humana e as cartografias de afeto e hospitalidade de/e entre imigrantes e refugiados são construídas, sobretudo, na cidade de São Paulo. Esta cidade brasileira recebeu e recebe o maior número de imigrantes e refugiados que chegam ao Brasil no século 21, provenientes de vários países, especialmente do Haiti, depois do terremoto de 2010 e das inúmeras catástrofes climáticas; e da Síria, após deflagrada a guerra civil em 2011.
Elas ganham nomes e sobrenomes nas famílias de Maria, que chega da Bolívia; na de Ludmi, que, por perder a mãe no Haiti, veio em busca do pai, um pesquisador brasileiro; na de Manoela, que deixou o Peru; na de Juan, que parte da Argentina; e também na de Jun, que procede da China.
Vozes
A estratégia usada pela autora para nos dar a ver — e o que destaco na minha interpretação, a de ouvir — de modo íntimo estas histórias foi a de pluralizar os pontos de vista e perspectivas, para melhor democratizar as vozes narrativas a fim de poder escutá-las com empatia. A narradora que abre o livro é Maria, adolescente boliviana de 12 anos, que vive com sua família num bairro do Centro da capital paulista. Ela assim se apresenta: “Meu nome é Maria, tenho 12 anos e sou… E agora? Escrevo boliviana ou brasileira aqui?”. Maria, na primeira frase de seu Diário/Caderno de Anotações, ao lançar a pergunta, levanta o problema que, a meu ver, constitui o ponto fulcral do livro: a questão das identidades nacionais e culturais: o que sou? Como sou? Quem sou? A adolescente começa a elaborar, através da escrita de seu Diário, um processo de subjetivação, no qual passa a indagar acerca de sua identidade pessoal, social, nacional, cultural e linguística. Tal processo vai ser intensificado e levado a cabo por meio da pesquisa para a escola em que ela, junto com seus amigos, vai empreender pelos países que compõem a Cordilheira dos Andes. Maria sonha em ser escritora e, por isso, registra no seu Caderno de Escritora seus pensamentos, sentimentos, emoções, ansiedades, e tudo o que importa do pensado, elaborado e arquivado de suas experiências diárias, bem como de todos à sua volta.
A segunda voz narrativa é a de Ludmi, a haitiana de 16 anos que aqui chega em 2014, depois que o país foi devastado pelo terremoto de 2010 e por tempestades tropicais. Diz ela: “Meu nome é Ludmi Greta Diaphana Beaumont de Sousa e sou do Haiti”. Ludmi tem nome de borboleta e voa para o Brasil após a morte da mãe. Sem mais parentes por lá, vendo-se sozinha, vem em busca do paradeiro do pai em São Paulo, um biólogo pesquisador de borboletas. Se Maria puxa um fio da história para a questão das nacionalidades e identidades de cada um do grupo, devido à pesquisa da escola para a Festa da Imigração, Ludmi puxa outro, o da aventura para encontrar o pai. No entanto, os dois fios e as duas vozes cruzam-se e levam-nos ao clímax das narrativas. Aliás, vem da cultura haitiana o provérbio popular em que a autora inspira-se para o título de seu livro. Ficamos a saber por Ludmi o ditado que diz: “Meu vizinho é meu lençol”. Lençol literário, de infinitos fios, a formar um abrigo hospitaleiro para as vozes e nomes de pessoas que, no discurso em terceira pessoa do gênero discursivo notícia, são vistos e tratados com “distanciamento”. Discurso utilizado pela maioria dos meios de comunicação, seja na televisão, no rádio, nos jornais, nos sites da internet, ele tenta “neutralizar” — e naturalizar — uma visão de mundo preconceituosa e xenófoba. Nele os imigrantes são tratados e vistos somente como números de uma grande tragédia social e ambiental, não como gente com “sentimento e voz”.
Assim é a percepção de Ludmi ao ler jornais e sites de notícias brasileiros:
Para ajudar o tempo a passar, olha rapidamente o jornal. Só olha aquele parágrafo sobre o Haiti e nada mais. Pensa em tudo o que faltou dizer e o que o tal jornal não diz. Tudo o que as pessoas se ajudam no Haiti, sem organizações não governamentais, sem tropas, sem ninguém de fora. Vontade de contar para quem escreveu aquilo que há um ditado haitiano, “meu vizinho é meu lençol”, e que vale muito no mundo real.
Temos, então, duas narradoras em primeira pessoa vendo e dando a ver o que é ser e viver como imigrante ou/e refugiado na maior cidade do país. Maria e Ludmi são duas jovens sensíveis, curiosas, inteligentes e sonhadoras, assim como os seus amigos, que buscam, através de seus meios de expressão e pensamento crítico, descobrir quem são, como são, por que são, e como gostariam de reinventar um outro e novo jogo biográfico para poderem estar e habitar uma nova geografia humana e circunscrever uma diferente cartografia afetiva: Maria escrevendo, Ludmi desenhando.
Há, ainda, um narrador em terceira pessoa que acompanha as trajetórias e encontros dos jovens. O que é posto na mesa do jogo de cena dos gêneros discursivos: o Caderno de Escritora de Maria, o Caderno de Desenhos de Ludmi — também com anotações de toda ordem —, as vozes narrativas dos noticiários e redes sociais, a do narrador em terceira pessoa, são os conflitos e confrontos existentes na realidade das personagens, seus pontos de vista e perspectivas em fricção com outros sujeitos sociais, suas realidades, seus discursos e suas ideologias.
Racismo
Da perspectiva e experiência de Ludmi, haitiana negra, vemos a cruel face do racismo estrutural que constitui a sociedade brasileira. Conta ela: “No deserto do dia a dia, sinto o racismo na pele, pelos olhares e nas palavras das pessoas. Sou negra (…) Era ele o racismo. Mais forte quando a gente toma ônibus ou metrô e vários passageiros olham feio, torto, de modo desconfiado”.
Lemos os seguintes “comentários”: “Não bastassem os negros que temos aqui, vem agora essa gente da África e Haiti” e “Coitados desses haitianos… Aquela ali deve ser haitiana. Tenho pena, mas aqui não tem lugar e emprego nem para os nossos. Mais uma favelada para depois pedir bolsa alguma coisa” e “São Paulo anda infestado desses pobres de outros lugares. Olha aquela escurinha, ali. Estrangeira, no mínimo. Era só o que faltava”.
De tudo isso, conclui a personagem: “Preconceito e racismo. Ideias preconcebidas sobre mim, sobre o Haiti, sobre a África, sobre… tudo o que não conhecem”. E questiona: “Eu me pergunto: como as pessoas daqui aguentam isso?”. Como li recentemente num livro de filosofia para o ensino médio, o preconceituoso “é aquele que está seguro de algo que não sabe”.
Identidades culturais
Maria, Manoela, Juan e Jun estão a preparar um trabalho sobre a geografia humana dos sete países cortados pela Cordilheira dos Andes e suas respectivas culturas. A saber: Argentina, Bolívia, Colômbia, Chile, Equador, Peru e Venezuela. A pesquisa será apresentada na escola deles por ensejo da Festa do Dia da Imigração. É a partir da tarefa escolar que o lençol abrangerá escolas-bibliotecas públicas e a leitura/literatura como lugares de descobertas de si e do outro, bem como de suas semelhanças e de suas diferenças.
O grande problema levantado pelo livro de Susana Ventura, que já disse e repito, é como pensar a questão das identidades nacionais e culturais em um momento em que o mundo globalizado — e tudo que isso implica — é potencializado por novas diásporas e pelo deslocamento de um enorme contingente de imigrantes, refugiados e despatriados. Do mesmo modo pela emergência de novas tecnologias que possibilitam o surgimento de novos meios de comunicação, internet e espaços públicos de intervenção e ativismo de toda ordem, como, por exemplo, as redes sociais.
Pois bem, a pergunta de Maria vai ser repercutida na pesquisa que ela e seus colegas realizam para a escola: quem sou? Como me penso? Como me sinto? Como me constituo como cidadã-sujeito, como imigrante, numa palavra, como estrangeira nessa cidade? Nesse país? Nesse mundo? E, óbvio, o problema posto atravessa e é atravessado pela língua ou línguas que se falam, escrevem-se e pensam-se. Quem fala em língua, fala em cultura e percepção e entendimento simbólicos do mundo. A menina, que sonha ser escritora, faz perguntas e mais perguntas: “Outra vez a mesma pergunta sobre o mesmo assunto por conta de uma palavra nova. Qual é a minha nacionalidade? E a de meus amigos? Precisamos escolher?” (grifos meus).
O texto de Susana constrói um lugar de indeterminação/indecidibilidade identitária, porque, como defende Daniel Goldin, a literatura seria um lugar de pôr em questão a “concepção aberta das identidades”. Se tudo é constituído de mudança, as construções das identidades culturais, em um contexto de globalização, deve ser pensada como espaço de negociação entre semelhanças e diferenças. Declara Goldin: “E não é pouco o que a literatura pode fazer nesse sentido. Seu poder deriva de suas possibilidades de gerar desdobramentos, de provocar estranhamento no interior de cada leitor, de colocar em crise sua identidade e questioná-la, de levar à descoberta de que cada um é outro”. (grifo meu).
Peso das palavras
Ludmi, que não faz parte de nenhum país da Cordilheira dos Andes, mas é também imigrante haitiana, lê e escreve em castelhano e fala português, pois seu pai é brasileiro. No entanto, e no fundo sem fundo, todos são, na verdade, estranhos, estrangeiros, como vai concluir Juan, pois, segundo ele, “não é nada fácil ser estrangeiro”. A questão é de singular pertinência, uma vez que vemos, em todo mundo hoje, o ressurgimento e a ascensão de uma ultra direita que quer assentar o seu poder na defesa de um conceito de nacionalismo estreito, de um patriotismo de hino e bandeira que, nos idos dos anos 1930-40, legou-nos o nazifascismo de Hitler e Mussolini.
Maria parece desconfiar do peso ético e estético de cada palavra, por isso o cuidado com elas e com os seus significados e sentidos. Como sonha ser escritora, vive com um caderno de anotações, uma espécie de Diário, na mochila e na mão: pois escreve pensando e pensa escrevendo. E quem escreve, lê. Primeiro lê o mundo. Depois lê as palavras, para voltar a reler o mundo, que, por sua vez, se constitui vário e concreto, logo, múltiplo e complexo. Para, em seguida, reescrevê-lo na intenção e no desejo de transformá-lo. Melhor dizendo: reinventá-lo. Lição paulofreireana? Pois sim.
Ela fala e escreve em português, mas lê em castelhano, pois imigrou aos 3 anos de idade. Sente que é meio brasileira, meio boliviana. A mãe dela só fala o castelhano. Porém, ela fala e escreve, sempre, em português. A avó fala castelhano e o dialeto Quéchua. Manoela, peruana, fala e lê em português e fala o castelhano. Às vezes se sente brasileira, às vezes peruana. A avó dela também fala o Quéchua. Juan, argentino, fala e lê somente em português, sente-se 100% argentino da cidade de Salta, mas veio ainda pequeno para cá. Os pais falam o castelhano, mas os avós falam o italiano, porque fizeram parte da primeira leva de imigração europeia para a América Latina no início do século 20. O jovem carrega e valoriza também como elemento identitário no processo de subjetivação o futebol, já que veste, literalmente, a camisa da seleção argentina. Diz ele: “Sou argentino, 100%”. Jun é brasileiro e se sente brasileiro, nasceu em São Paulo, mas a família fala mandarim. Ele entende, mas não fala e, em conversas com os pais e o irmão, responde em português.
Maria, Manoela, Juan nasceram em países cortados pela Cordilheira dos Andes, logo, a cultura andina, suas características e dialetos constituem elementos de pertencimento e modos de ver, falar, sentir e comer dos adolescentes: de suas identidades culturais e nacionais. As avós de Maria e Manoela falam o dialeto Quéchua, seus pais falam o castelhano, têm comidas bem parecidas, como por exemplo, o Tamales. Também têm em comum o futebol, pois todas as famílias assistem e gostam de acompanhar as respectivas equipes de seus países de origem. A pesquisa revela-lhes o que têm de semelhantes quando descobrem a geografia humana em que se configura a Cordilheira dos Andes. Jun, por sentir-se brasileiro, aparece como o mediador democrático do grupo ao sugerir que a apresentação dos países seja feita pela ordem alfabética, porque segundo ele: “Ninguém é mais importante do que ninguém”.
Bibliotecas públicas
Duas bibliotecas públicas são fundamentais para a pesquisa dos estudantes: a Mário de Andrade e a Monteiro Lobato. A primeira leva o nome de um dos maiores pesquisadores da cultura popular brasileira. Mário foi um incansável coletador de causos, de contos, de músicas populares, enfim, de elementos que passariam a constituir o caráter nacional do Brasil. O livro-rapsódia Macunaíma (1928) pode ser lido como a mais acabada tentativa de construir e revelar a nossa arlequinal identidade. É bom, mais uma vez, lembrar que Mário de Andrade foi, junto com Oswald de Andrade, um dos mentores da Semana de Arte Moderna de 22, um acontecimento histórico-cultural que veio a revolucionar a visão provinciana de arte e cultura da elite paulistana-brasileira, cujo centenário acontecerá em 2022.
Já a biblioteca Monteiro Lobato, que leva o nome de nosso primeiro editor e grande escritor de literatura infantojuvenil, também localizada no centro, foi a primeira dedicada à literatura infantil e possui um acervo referente às culturas populares de diversos países andinos. Outra biblioteca mencionada é a do Sesc-Carmo. Esta é próxima da Casa do Imigrante/Igreja N. S. da Paz/Missão Paz, onde Ludmi, assim como os seus conterrâneos haitianos e outros imigrantes, está albergada, no bairro Baixada do Glicério, região central da cidade de São Paulo. É interessante lembrar e frisar que a Casa do Imigrante, pertencente à Igreja Católica, foi construída para receber a grande leva de nordestinos que desembarcaram na cidade de Mário de Andrade nos idos de 1970.
Maria, Juan, Jun e Manoela conhecem Ludmi nos jardins da biblioteca Mário de Andrade, quando vão fazer a pesquisa para o trabalho da escola. É da moça haitiana a percepção do espaço físico da biblioteca Mário de Andrade: “Como é boa essa área externa da grande biblioteca”. Ludmi frequenta também a biblioteca do Sesc-Carmo. Primeiro: para ler e conhecer e dominar melhor a Língua portuguesa do Brasil e a cultura brasileira, mediante a leitura de contos e lendas populares de diversos autores — as Lendas brasileiras para jovens, de Câmara Cascudo, por exemplo. Como pretende ser uma desenhista profissional, anota em seu Caderno de Desenhos livros diversos com histórias ilustradas que contemplam autores que vão de Câmara Cascudo à escritora e ilustradora de livros infantojuvenis Ângela Lago. Segundo: porque lá há o oferecimento de cursos de português para refugiados e cursos de integração e geração de renda.
Aliás, as muitas caminhadas das personagens, a pé pela região central, dão a ver a ideia da cartografia desenhada pelas inúmeras famílias de imigrantes que trabalham e estudam por lá: são famílias sírias, senegalesas, peruanas, bolivianas, argentinas, haitianas, japonesas, chinesas, brasileiras-nordestinas, e tantas outras que buscam a sobrevivência econômica em meio e a despeito das diferenças de culturas, línguas e países de origem.
Posicionamento crítico
Um lençol de infinitos fios cobre muito mais do que o problema da imigração e refugiados do clima, que ocorre nestes últimos tempos na cidade de São Paulo. Cobre outra importante questão intrinsecamente ligada a ela: a questão da identidade cultural das pessoas que aqui chegam, e que aqui passam a viver, melhor dizendo, sobreviver, e a sonhar na construção de um mundo social e economicamente melhor e mais justo. O livro põe em questionamento e discussão, em um contexto de imigração de toda ordem e em um mundo globalizado e multicultural, as identidades culturais, visando, creio eu, à construção de um posicionamento crítico de seus leitores acerca do complexo tema.
A meu ver, o livro de Susana Ventura propõe — de maneira instigante, especialmente, quando vemos que a história foi pensada e escrita para jovens leitores — fazer do espaço literário um entrelugar de escuta e convívio, bem como o de expor conflitos, preconceitos e a xenofobia. Mas também como um espaço de valorização do encontro inesperado do diverso, de negociação das múltiplas e diferentes identidades que passam a ser imaginadas e narradas a partir do deslocamento de pessoas de diferentes países, línguas e culturas, como Maria, Ludmi, Manoela, Juan e Jun.
Penso com Daniel Goldin, editor e escritor mexicano, sobre o conceito de hospitalidade da leitura/literatura, no sentido de a literatura ser, tanto a da tradição oral quanto a da tradição escrita, um espaço de abrigo, acolhimento e compreensão daquele(a) que se descobre, através da leitura/literatura — como disse o poeta que se dividiu em tantos “eus” — estrangeiro aqui como em toda parte. Descobrimos nossa estrangeirice nos estrangeiros/estranhos de nós mesmos. Também como vai pensar e conceituar Jacques Derrida a hospitalidade: como uma abertura ao outro, receber e aceitar o estranho a partir de sua radical e absoluta diferença, pois, só assim, o receberemos e o aceitaremos como um ser humano, porque preservaremos o seu direito de ser bem-vindo.