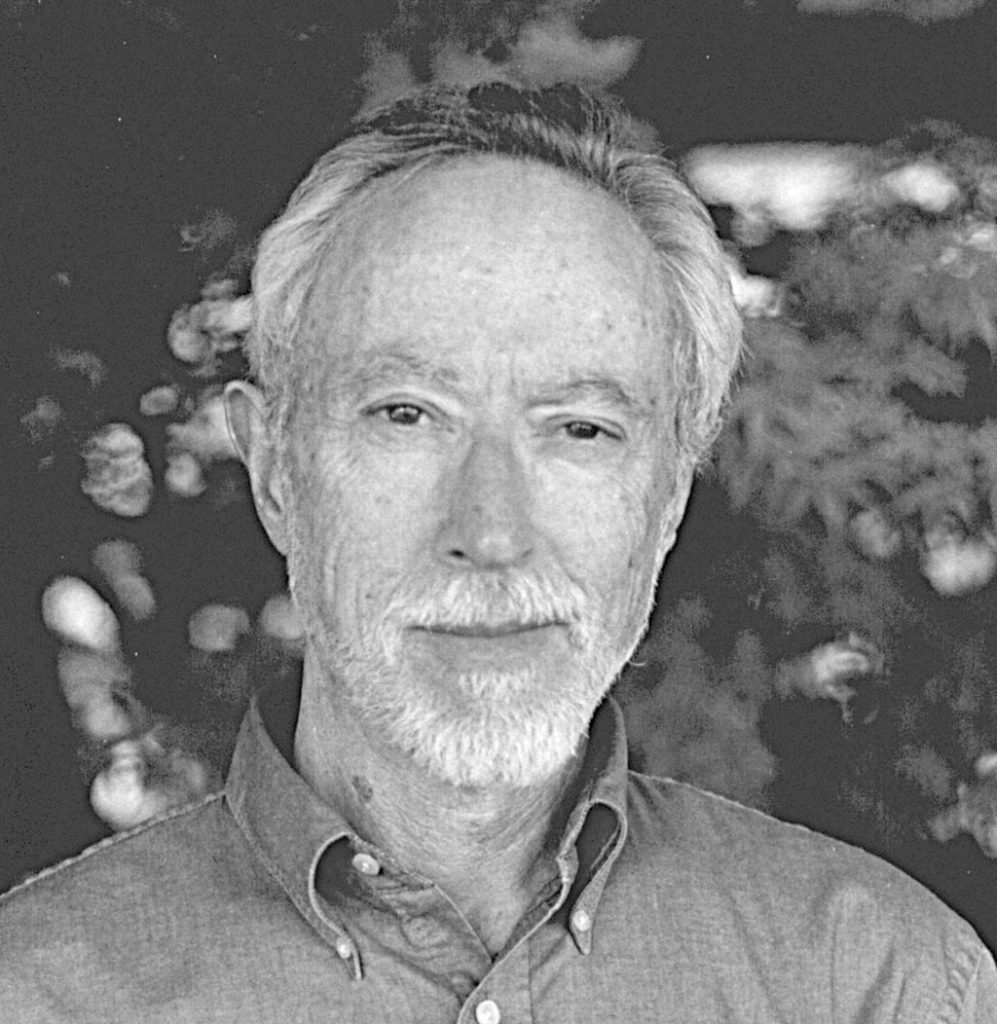Verão, o terceiro romance que compõe a assim chamada “trilogia autobiográfica ficcionalizada” do sul-africano J. M. Coetzee, é bem mais do que um mero inventário de dados sobre a vida do autor, em sua maturidade, a complementar os anteriores Infância e Juventude.
Verão merece ser lido como instigante cilada narrativa, como um sincero elogio da mentira.
Em síntese, trata dos esforços continuados de Vincent, jornalista que pretende reconstituir um possível perfil de John Coetzee (famoso escritor, já morto), buscando revelar o homem por trás do autor. Para cumprir tal feito, dedica-se a entrevistar pessoas importantes na vida do escritor — especificamente na década de 70 — e, por meio de seus relatos, compor-lhe um retrato, que imagina ser o mais fidedigno possível.
A estrutura polifônica do romance respeita o viés da superposição de vozes, permitindo que se manifestem diversas consciências narrativas, relativizando, ao máximo, a representação da realidade, a partir de um ponto de vista único.
Mas ao conceder voz, respectivamente à Julia, Margot, Adriana, Martin e Sophie, Vincent não é apenas o repórter entrevistador, interessado em reproduzir, de maneira precisa, o que eles têm a contar. É também o autor que os ficcionaliza, pois reinventa as histórias, na medida em que as edita, ora acrescentando, ora cortando elementos, mas sempre, ao fim, adulterando-as.
Limites do biográfico
A cilada proposta nessa ficção dentro da ficção, por meio das estratégias metaliterárias do narrar, gravita ao redor da pergunta: se tudo é matéria ficcional, quais os limites e o alcance do que se concebe, no senso comum, como narrativa de cunho biográfico?
A tentativa de resposta parte, por exemplo, de Sophie Denoël — uma das entrevistadas — professora de francês, que teria sido colega e amante de Coetzee na Universidade da Cidade do Cabo. Ela não se conforma com o fato de que o entrevistador prefira se fiar mais na fidedignidade das entrevistas do que nos escritos do próprio autor que, segundo Vincent, não seriam “confiáveis”:
Vincent: Madame Denoël, examinei as cartas e os diários. Não dá para confiar no que Coetzee escreve, não como registro factual — não porque ele fosse mentiroso, mas porque ele era um ficcionista. Nas cartas, ele inventa uma ficção de si mesmo para seus correspondentes; nos diários ele faz a mesma coisa para os próprios olhos, ou talvez para a posteridade. Como documentos, são valiosos, claro; mas quando se quer a verdade, é preciso procurar atrás das ficções ali elaboradas e ouvir as pessoas que conheceram Coetzee diretamente, em pessoa.
Madame Denoël: Mas e se formos todos ficcionistas, como o senhor chama Coetzee? E se nós inventarmos continuamente histórias sobre nossas vidas? Por que o que eu disser sobre Coetzee haveria de merecer mais crédito do que aquilo que ele próprio diz?
O que aqui se observa, portanto, é o questionamento radical da idealização de veracidade nos depoimentos que servem de apoio, em nossos tempos, à construção da tão cultuada imagem do autor.
A propósito, cumpre observar o que já asseverava Milan Kundera, em A arte do romance, ao denunciar como extremamente problemático o desaparecimento da obra, por trás da figura do autor. Não é fácil, hoje, quando tudo, sendo importante ou não, deve passar pelo “palco insuportavelmente iluminado do mass media”, que a obra seja auto-suficiente a ponto de levar o escritor a uma total renúncia ao seu papel de homem público. O nó da questão é que, prestando-se a esse papel, o romancista põe em perigo sua obra, que pode acabar sendo considerada como um simples apêndice de seus gestos, declarações e pontos de vista.
Autor x obra
Não parece ser outra a indagação primeira deste romance que tematiza a necessidade de uma dissociação entre “autor empírico” (o homem) e “autor modelo” (voz ficcional), tal como nos termos propostos por Umberto Eco em Seis passeios pelo bosque da ficção.
Para explicitar o ridículo das situações em que há uma hipervalorização de dados biográficos num primeiro plano, em detrimento da obra em si, os procedimentos narrativos de J. M. Coetzee revertem, por meio da ironia desmistificadora, qualquer tentativa distorcida de vincular o “grande escritor” à idéia estereotipada de “grande homem”. É o que percebemos neste trecho, em que Adriana (representante do senso comum), a bailarina brasileira por quem o personagem Coetzee teria se apaixonado, revela:
É, eu esqueci, quero fazer uma pergunta. É a seguinte. Eu nem sempre erro sobre as pessoas, então me diga, eu estou errada sobre John Coetzee? Porque para mim, francamente, ele não era ninguém. Ele não era um homem de substância. Talvez ele pudesse escrever bem, talvez tivesse certo talento com as palavras, eu não sei, nunca li os livros dele, nunca tive curiosidade de ler. Sei que depois ele ficou muito famoso; mas ele é mesmo um grande escritor? Porque, no meu entender, talento com as palavras não basta se você quer ser um grande escritor. Você tem de ser também um grande homem. E ele não era um grande homem. Ele era um pequeno homem, um pequeno homem, sem importância (…) Como pode alguém ser um grande escritor se é apenas um homem comum?
Eis que se cria a cilada: todo levantamento biográfico, ao buscar dados “demasiado humanos” do autor, corre, também, o risco de denegrir ou retocar a imagem (como no Photoshop), forjando-a, no sentido da idealização daquilo que o público da sociedade multimidiática espera. Dessa forma, cria-se a biografia esperada, a máscara maquiada, a história que quer ser ouvida porque, em termos mercadológicos, é a história que vende mais. É ainda a mesma bailarina, que rejeita as investidas amorosas do personagem Coetzee, quem afirma:
Não era essa a história que o senhor queria ouvir, não é? Queria ouvir outra história para o seu livro. Queria ouvir sobre o romance entre o seu herói e a linda bailarina estrangeira. Bom, não estou lhe dando o seu romance, estou dando a verdade. Talvez verdade demais. Talvez tanta verdade que não haja espaço para isso em seu livro…

Perda do halo
Para provar que a obra independe dos atributos físicos, psíquicos, éticos e políticos do autor, que este não é porta-voz de nada, nem de si mesmo, todas as mulheres entrevistadas acabam por concluir que, como homem, o famoso autor deixava muito a desejar. Melhor dizendo, não há correspondência entre a expectativa tola e limitada entre “grandeza da obra” e “grandeza do homem autor”.
A desmistificação do personagem autor, nesse sentido, funciona muito mais como a equivalente desmistificação do poeta baudelariano (Spleen de Paris) que, passeando pelos lodaçais de macadame, deixa cair aquele halo característico dos seres especiais, únicos que recebiam o fogo prometéico da inspiração divina.
A construção do anti-herói, nessa perspectiva romanesca, levada à máxima potência pelo recurso da auto-ironia, busca o elogio do homem comum em contraposição ao do “grande homem”. Exacerbando as não qualidades do homem ínfimo e insignificante, conseqüentemente, restam as qualidades da obra que passam a um primeiro plano de atenção.
Com certeza, ainda que travestido na roupagem simbólica de romance de cunho biográfico, o que aqui se apresenta é a total subversão desse conceito, tal como tradicionalmente aceito. No inevitável esbatimento de fronteiras entre verdade e mentira, recupera-se, na íntegra, o fingidor pessoano, para quem fingir a dor é tão ou mais verdadeiro do que sentir a dor em si.
Futuro brasileiro
Além das entrevistas apresentadas, chamam a atenção algumas notas do personagem autor, em cadernos esparsos, porém muito bem datados, logo no início do livro: 1972-1975. Ainda que não seja um romance explicitamente engajado com as questões políticas sul-africanas, o fato de frisar a época em que se vivia o auge do Apartheid não pode passar desapercebido. Em mais de um fragmento, encontraremos certa idealização de situações contra a segregação racial quando, por exemplo, um dos personagens femininos, Margot, a prima de Coetzee, percebe que em meio à maioria de bancos dos lugares públicos em que predominavam as inscrições “Brancos” e “Não brancos”, ela encontra um deles em que já não havia mais essa marcação (o que poderia ser indício de alguma mudança positiva).
Às páginas finais, também, quase como fosse a confissão de uma utopia do personagem escritor Coetzee já morto, vem-se a saber que, enquanto intelectual pacifista, teria manifestado o desejo de um futuro brasileiro para a África do Sul:
Ele ansiava por um dia em que todo mundo na África do Sul não se chamasse de nada, nem de africano, nem de europeu, nem de branco, nem de negro, nem de nada, em que as histórias familiares estivessem tão emaranhadas e misturadas que as pessoas fossem etnicamente indistinguíveis… Ele chamava isso de futuro brasileiro. Ele aprovava o Brasil e os brasileiros.
Nesse depoimento percebemos que, de forma diversa do que vinha fazendo anteriormente, a voz que aqui ecoa é a de John Coetzee, homem comprometido com seu tempo. Sem jamais ser panfletário, nem pretender uma literatura engajada, nesse discurso, sua intenção não é mais a da ode à mentira, já que a linguagem é em si mesma enganosa, mas sim a busca de alguma verdade possível.
Ao questionar os limites entre biografia e ficção; ao escancarar os bastidores da construção do texto, sobrepondo e embaralhando as vozes do narrar, elegendo o homem comum, pelo viés da auto-ironia, à condição de criador, esse romance se debruça sobre os processos criativos do fazer literário, sobretudo, no que concerne à interessante discussão de autoria.
Mesmo podendo ser lido, assim, em chave metaliterária, também admite uma guinada de olhar do leitor arguto às questões que concernem à aniquilação de indivíduos apartados pela violência do preconceito. Outro bom motivo que convida à apreciação dos que acreditam na força questionadora da literatura como expressão sensível de nosso tempo.