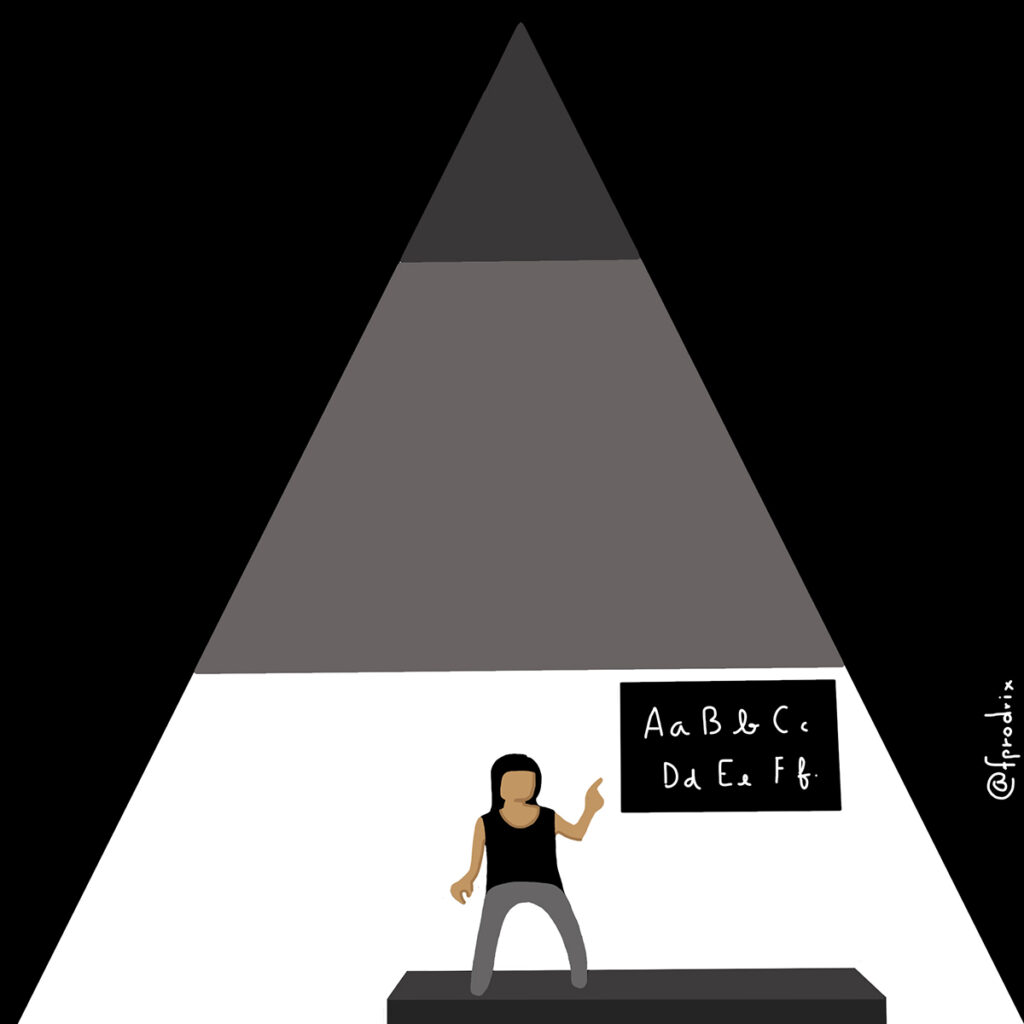(27/11/20)
Não sei se você sabe, considerado(a) leitor/leitora, mas não tive, de maneira geral, o privilégio de estudar em boas escolas. Minha formação educacional se deu de forma bastante errática. Na infância, no que hoje denomina-se pomposamente de Ensino Fundamental I e antigamente chamava-se apenas primário, frequentei o Grupo Escolar Flávia Dutra, onde compartilhavam o mesmo espaço filhos da classe média e crianças oriundas de famílias operárias, como era meu caso. Portanto, nesses primeiros quatro anos, oferecia-se um conhecimento básico mais ou menos democrático – e digo mais ou menos porque, embora estivéssemos sob o mesmo teto, os alunos e alunas eram separados entre “adiantados” e “atrasados”, o que significava, grosso modo, “remediados” e “pobres” – não havia “ricos” nas imediações da escola –, e que, ao fim e ao cabo, redundava quase numa distinção entre “brancos” e “não brancos”. Mas os que se encontravam sentados nas carteiras de madeira – sempre em dupla –, ainda podiam se sentir privilegiados, porque boa parte dos nossos colegas sequer estava estudando – naquela época, 34% da população era analfabeta…
Concluída esta etapa, uma parcela dos alunos seguia em frente para cursar o que se chamava ginasial – o equivalente ao Ensino Fundamental II. Havia poucas opções na cidade – a minha sempre pranteada Cataguases – e a mim coube estudar num colégio cenecista – calma, leitor/leitora não se trata de nenhuma ordem religiosa católica, mas simplesmente de um negócio chamado Campanha Nacional de Escolas da Comunidade (CNEC), uma instituição mantida pela comunidade para ofertar ensino aos meninos e meninas, cujas famílias não conseguiam vagas nas escolas públicas e muito menos tinham dinheiro para pagar escolas privadas. A escola funcionava em prédios ociosos e, com mensalidades bastante acessíveis, oferecia ensino de qualidade duvidosa, suficiente apenas para formar mão de obra não especializada, mas minimamente alfabetizada, capaz de suprir as necessidades das fábricas de tecido e do comércio local em troca de salário-mínimo.
Frequentar o secundário – o que hoje se intitula Ensino Médio – era para pouquíssimos. Aos 15 anos, a maioria dos jovens já estava se inserindo no mercado de trabalho para ajudar a compor o orçamento doméstico. O Colégio Cataguases, entidade pública, tinha um curso científico, pela manhã, destinado aos filhos da burguesia local, preparando-se para a universidade, e para os filhos da classe média, preparando-se para concursos do governo – na época, entrar para o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Receita estadual ou federal, e congêneres, era uma forma segura de mobilidade social. Para os pobres que heroicamente conseguiam alcançar essa etapa, restava o curso de contabilidade, à noite – o que fiz, enquanto trabalhava como operário na Companhia Manufatora Mineira de Tecidos de Algodão, no setor de algodão hidrófilo (algodão Apolo, aquela caixinha azul, ah, você conhece, né?). Depois, por caminhos bastante tortuosos, cheguei até mesmo a me formar na Universidade Federal de Juiz de Fora, mas esta já é outra história.
Toda essa lengalenga autobiográfica, caríssimo(a) leitor/leitora, para comentar – e lamentar – uma pesquisa recente, que mostra que, no mundo, o Brasil é o país que menos valoriza a profissão de professor, segundo o Índice Global de Status de Professores. Baseado em análises de opinião realizadas pelo Instituto Nacional de Pesquisa Econômica e Social da Inglaterra com mais de 35 mil adultos na faixa etária entre 16 e 64 anos e mais de 5,5 mil professores ativos em 35 países, a pesquisa mostra que 9 em cada 10 brasileiros acreditam que não há respeito por parte dos alunos aos seus professores. Tenho certeza de que você já ouviu relatos, alguns assustadores, que confirmam e dão concretude a esses números…
Pois bem, como disse lá em cima, de maneira geral, não estudei em boas escolas, mas garanto a você que, com todos os professores que tive, melhores uns, piores outros, aprendi alguma coisa. Todos, sem exceção, me ajudaram a compreender o meu lugar no mundo, ajudaram a me fazer entender que eu era um ser vivo, diferente dos cachorros e gatos e galinhas, porque falava e pensava, mas também diferente dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus amigos e dos meus vizinhos, porque falava e pensava de uma forma absolutamente singular. E foi isso, a descoberta da minha subjetividade, que permitiu refletir sobre o que enxergava à minha volta e aspirar por uma vida diferente da que tiveram meus pais – vítimas do êxodo rural que, sem instrução, foram ser lavadeira de roupas, ela, pipoqueiro, ele – e meus irmãos, operários das fábricas de tecido. Eu compreendi que o meu destino estava em minhas mãos – e que eu podia modificá-lo, caso quisesse.
O que esperar de uma sociedade que despreza o professor, a mais nobre das profissões, pois as outras todas dependem umbilicalmente dela? Ano a ano, cada vez menos alunos se interessam por cursos de formação pedagógica, pois sabem que os esperam um futuro de baixos salários, preconceito, desprestígio social e violência – as próprias universidades tratam as licenciaturas com desdém. E não há segredo: todos os países que conseguiram dar um salto econômico, e, por consequência, social, alavancaram a mudança na oferta de uma educação universalizada, pública e de qualidade. Nós estamos trafegando no caminho contrário… Não é coincidência que, se ocupamos o último lugar no ranking de valorização do professor, também ocupamos o último lugar na avaliação dos alunos pelo PISA… Trata-se de um beco sem saída…
Luz na escuridão
Ronaldo Cagiano, cronista, poeta, ficcionista: “Sigo escrevendo a novela Esse país sem nome, percorrendo a história de uma família dividida pelos conflitos políticos do país após o golpe contra Dilma e a ascensão do fascismo bolsonariano. Terminei um novo livro de poemas, que escrevi durante a quarentena (não motivado, nem sobre a quarentena): Autópsia do instante. E estou lançando Cartografia do abismo, safra de poemas escritos nesses quatro anos de vivência em Portugal” – livro que você pode encontrar aqui.
Parachoque de caminhão
“A impotência gosta de refletir sua nulidade no sofrimento alheio.”
Georges Bernanos (1888-1948)
Antologia pessoal da poesia brasileira
Casimiro de Abreu
(Casimiro de Abreu, RJ, 1839 – Casimiro de Abreu, RJ, 1860)
Meus oito anos
Oh! Que saudades que tenho
Da aurora da minha vida,
Da minha infância querida
Que os anos não trazem mais!
Que amor, que sonhos, que flores,
Naquelas tardes fagueiras
À sombra das bananeiras,
Debaixo dos laranjais!
Como são belos os dias
Do despontar da existência!
– Respira a alma inocência
Como perfumes a flor;
O mar é – lago sereno,
O céu – um manto azulado,
O mundo – um sonho dourado,
A vida – um hino d’amor!
Que auroras, que sol, que vida,
Que noites de melodia
Naquela doce alegria,
Naquele ingênuo folgar!
O céu bordado d’estrelas,
A terra de aromas cheia,
As ondas beijando a areia
E a lua beijando o mar!
Oh! dias da minha infância!
Oh! meu céu de primavera!
Que doce a vida não era
Nessa risonha manhã.
Em vez das mágoas de agora,
Eu tinha nessas delícias
De minha mãe as carícias
E beijos de minha irmã!
Livre filho das montanhas,
Eu ia bem satisfeito,
De camisa aberto ao peito,
– Pés descalços, braços nus –
Correndo pelas campinas
À roda das cachoeiras,
Atrás das asas ligeiras
Das borboletas azuis!
Naqueles tempos ditosos
Ia colher as pitangas,
Trepava a tirar as mangas,
Brincava à beira do mar;
Rezava às Ave-Marias,
Achava o céu sempre lindo,
Adormecia sorrindo
E despertava a cantar!
Oh! Que saudades que tenho
Da aurora da minha vida,
Da minha infância querida
Que os anos não trazem mais!
Que amor, que sonhos, que flores,
Naquelas tardes fagueiras
À sombra das bananeiras,
Debaixo dos laranjais!
(As Primaveras, 1859)