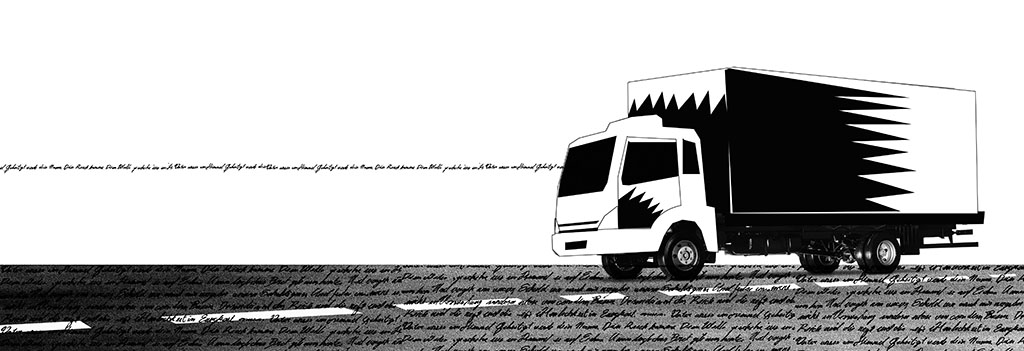Faz meia hora, está sozinho num carro de polícia parado à beira da estrada. Apóia a cabeça à janela: faço de conta que não estou no mundo. O cansaço lhe arria as pálpebras, devagar, devagar… — Que nem beber água pelo fundo do copo — soa a voz de tuba, forte e breve, do seu Nestor, na pinguela que leva da vigília ao sono. Arregala os olhos assustado. O mesmo aconteceu de manhã. O timbre continua envelopado no ar. Nestor, o carvoeiro padrasto. Por que Nestor agora e de manhã?
Manhã raiando, escancarou os olhos com essa frase na cachola e deu com um sol recortado de folhas bailando no pára-brisa. Dormido na cama da boléia sem fechar as cortinas. Ficou ali quieto, cabeça vazia um tempo perdido, até que um suspiro subido do assento do passageiro o trouxesse para este mundo. No banco, recostada de qualquer jeito, cabeça pendente para um lado, um terço de cara visível, pixaim bordando a quadrilátero da minissaia de jeans, blusa rosa-choque tomara-que-caia adivinhada para baixo de uns ombros ossudos, coxas finas entreabertas, sem que o resto das pernas se visse, o todo na perspectiva de cima para baixo, quem? Quem? QUEM?
Nome ele não sabia, e aos poucos se lembrava da fala de pífaro:
— Tá a fim, moço?
— Quanto?
— Vinte tá bom?
— É muito.
— Quinze então.
Doze, treze, catorze anos no máximo.
— Monta aí, vai.
Do que veio depois não estava lembrado.
— Hei, acorda. Pica a mula.
A menina abriu os olhos, e isso ele percebeu pelo movimento das pontas recurvas dos cílios do olho direito, testa abaixo.
— Não adianta fingir que está dormindo. Pica a mula.
A menina olhou para cima:
— Fiquei aqui pra chatear o senhor, não. Só tô esperando meu dinheiro.
— Que dinheiro?
— Quinze, moço.
— O que foi que aconteceu… entre nós?
— Nada, não. O senhor arriou aí, chapado. Fiquei esperando, peguei no sono.
Ele desceu para o assento.
— Então não te devo nada. Você é que me deve o pouso no caminhão.
— Isso aqui não é hotel.
– …
– Me deixa no posto da cidade?
— Te deixo no posto ali da frente.
— No outro, na cidade.
O arranque de um motor cala estranhado na manhã deitada sobre os morros, mais um motorista se livra da blitz e segue caminho. Ele continua no carro. Atrás, parado, seu caminhão, corpanzil morto sem ele. Os policiais vão e vêm, esquecidos, parece, de sua presença ali.
Ela fez um gesto de desconsolo, quase cara de choro. Ele engatou a ré com vagar e foi levando o caminhão de volta até a beira da estrada, de onde tinha saído na noite anterior. Manobrou com a manha de costume, até que no retrovisor da esquerda penetrasse uma faixa de asfalto deserta, a sumir rebrilhosa no horizonte atrás, espelho adentro. Entrou na pista e olhou para a menina como quem vê um corpo estranho, um acidente no panorama da cabine. Sorte não ter topado com uma pistoleira escolada. Mas de onde lhe tinha saltado mesmo aquela taquarinha seca? Olhou para frente, o caminhão comendo chão, levado ao sabor das marchas, chegando-lhe de fora o choro do asfalto debaixo dos pneus, ruído ferindo o corpo do dia que vinha já querendo crescer.
— Tá bom, vá. Te deixo no posto da cidade.
A voz do Nestor continua no ar, feito um cheiro. É a mesma que ele ouvia toda tarde, acompanhando o rangido do portão: — Tô chegando, precisado de banho. 338 era o número da casa. 338 o quilômetro da rodovia, ontem. As coisas, quando se encontram na nossa cabeça, a gente tem a impressão de que uma é sinal da outra, quando na verdade não. O que haveria de ter o número da casa da mãe com o quilômetro do acidente? Nada, só a coincidência. A não ser pela voz do Nestor, a ditar um nexo. Tinha tomado consciência da importância dos números quando ouviu a voz de tuba dizer num dia da infância: — Mataram a mulher do 344. Lá — brota-lhe agora a lembrança — as pernas de uma mulher, estiradas porta afora. E por que brota agora essa lembrança? Porque sempre lá. Os vizinhos apinhados no portão, contidos por um guarda do lado de dentro. Quatro, cinco metros além, as pernas atravessadas no corredor, aparecidas do buraco de uma porta. E ele se esgueirando entre os curiosos, já dando um passo pela fresta do portão, a mão da mãe lhe agarrava a camisa: não, senhor, não podia. Deixava-se reter. Ficava lá, olhando as duas pernas ensangüentadas, pés ainda em chinelos. Fechados na frente, os chinelos. Uns meses depois a mãe vendia a casa: geminada, ela jurava ouvir o grito da mulher toda tarde às cinco, como no dia da morte. A ele, a certeza de que lhe tinha faltado terminar o trajeto do começo do corredor à porta, das pernas ao rosto. Teria cumprido um destino. Mas não, ficava, preso por um colarinho.
Oito e meia de ontem, ele pretendendo entrar no 341, faltavam 3. Pela esquerda, começou a ultrapassar um Mercedes antigo, o sacana acelerou na descida e se adiantou. Pensou em desistir da ultrapassagem, já a cem, iria para mais de cento e dez, com carga. Emparelhado, vacilou. Nunca tinha sido de vai não vai, mas começou a achar melhor deixar o sujeito avançar; contentar-se com a rabeira seria coisa de mais juízo. Mas aí apareceu o outro, atrás dele, grudado, piscando, pressionando, enchendo. Ele acelerou. Encarou a descida a quase 120, conseguiu entrar na frente do Mercedes velho quando a outra subida já começava. Então o apressadinho perdeu o embalo e os dois ficaram lado a lado, duas bestas parelhas, sem cabresto nem varal. Iam, iam, metro a metro, ele não querendo avançar, só para ter o prazer de ouvir o motor acelerado, o do outro, ao lado do seu, num galope de montaria esfalfada sem forças para a reta final. Metro a metro crescia a raiva vingativa e ele buzinava, buzinava desembestado. E buzinando olhava para a esquerda, tentando decifrar na escuridão a cara do outro na cabine, cara de entrego-os-pontos, dou-a-mão-a-palmatória, mas não enxergava. E buzinava. E buzinando gritava
— Vai, ultrapassa agora se é macho.
— Lá no posto o senhor me paga uma média?
Estremeceu. Olhou para a menina, e era como se a escuridão da noite lembrada estivesse coagulada no rosto dela. Os gambitos oscilavam no balanço do caminhão.
As pernas da vizinha eram carnudas. Seriam brancas ainda naquela tarde, não tivesse o sangue se empastado, roseando tudo. Aquelas pernas coloriram seus pesadelos durante muitos meses. Acordado, olhava as pernas das mulheres e as via ensangüentadas, deitadas, atravessadas num corredor. Demorou a esquecer. Até hoje. Não teria trazido em sã consciência aqueles gambitos finos para dentro da cabine do seu caminhão. Nunca tinha gostado de pernas finas, muito menos infantis, ou quase. Ainda mais com aquele afogo medonho no peito que não desapertava de jeito nenhum.
O primeiro posto ia ficando para trás. Mais sete quilômetros, a cidade.
— Se o senhor quiser, ainda pelos 15… Tô precisando de dinheiro.
— Quero não. Pode deixar. Pago a média e dou a diferença.
— Tá bom. Liga o rádio?
Ligou:
— Você não pode impedir de acontecer…
— Isso! Eu gosto.
E começou a acompanhar a música, mexendo o tronco, o pescoço, os braços numa ginga de mamulengo. O caminhão parecia seguir no andamento da música, a manhã tinha passado a existir só para aquilo, ele abaixou o vidro, o vento entrou e abraçou o som.
— É sua mulher?
A música ainda soava, ela gingando apontava o retrato no painel.
— É.
Rosalva sorria, a menina olhava Rosalva. Outra música começava. Rosalva sorria na foto, mas só em fotos sorria Rosalva. No resto do tempo, trancava. Aurora nevoenta, entrava ele pela porteira do sítio, parava o caminhão ao lado da casa, à espera do dono. Ia lá pela segunda vez, embarcar um carregamento de couve-flor. Quem aparecia era Rosalva, emergindo da casa, embrulhada num xale: — Não tem colheita pra levar, não. O pai morreu. E abaixava o rosto. Como não sabia da existência dela? Descia, para dar os pêsames ao resto da família: a mãe e um irmão menor. Depois de uns dias voltava lá para saber do destino das coisas. Estavam vendendo o sítio. Ele arranjava comprador e pedia a moça em casamento. Rosalva passava a usar a roupa do domingo para cuidar da casa e comprava num shopping a dos domingos vindouros. Ele tinha medo de um dia chegar em casa, cinco horas da tarde…
— Vai, ultrapassa agora se é macho.
Mas o cara não conseguiu ultrapassar, e as duas faixas vazias da estrada, duas pernas esguias, se ofereceram à frente, inesgotáveis, mergulhando a melhor parte no túnel da escuridão, convidando, instigando, excitando. Ele quis a do outro, mas o outro não cedeu nem avançou.
— Não é macho pra ir? Vou eu.
Acelerou, avançou e empurrou o caminhão para a esquerda.
Um guarda chega perto, ensaia abrir a maçaneta, desiste. Ele abre os olhos, mas é por pouco tempo.
Foi tamanha a fechada, que o outro caminhão arrombou a defensa, cruzou o canteiro e entrou na pista de lá já tombando, arrastando o que encontrava pela frente, arrancando chispas do asfalto, feito um fósforo gigante. Foi só o que ele viu pelo retrovisor. O resto era um breu percorrido pelos estrondos do choque, dos choques, enquanto ele engatava uma reduzida e ganhava força para acabar a subida e sumir das vistas de quem estivesse atrás. Entrada 341 chegando, ele desabalou e enfiou pela direita com tanta pressa que perigou não conseguir fazer a curva. Era aquela estrada de agora, uma pista, duas mãos. Àquela hora da noite, vazias a ida e a vinda. Corria como quem corre de fantasma. Na traseira do Mercedes, tinha lido: Herói é o covarde que não teve tempo de fugir. Está tudo escrito, pensa.
Três quilômetros adiante, um poste alumiava um cartaz:
Recanto do caminhoneiro.
Lugar de se comer prato feito e lavar sovaco e cara num banheirico de nada. Limpeza tem, mas sem exagero, dizia o sujeito que lhe indicava o bar pela primeira vez.
Precisado de esconder o caminhão, entrou numa picada uns cinqüenta metros adiante do bar e encostou num recorte da mata, esbarrancado que formava uma reentrância, um remanso. Desligou o motor, desceu do carro e começou a voltar para a estrada. No silêncio frio só ouvia o zunido dos próprios ouvidos e os passos dos próprios pés, invisíveis. Defronte ao bar, um caminhão estacionado. Capô frio. Luzes, a que saía do bar e vinha se rojar no alpendre e deste ao chão fronteiro de pedrisco, mais a do poste à beira da estrada, chuviscando seu clarão de abajur sobre a placa. Entrou, acenou para os presentes
— … noooite
ouviu de trás do balcão a voz do dono.
Sentou-se, apareceu a mulher com o bloquinho de pedido.
— Um prato pronto e uma caipirinha.
A mulher sumiu detrás da cortina de uma porta encimada por aparelho de tevê, enquanto o outro motorista, voltando do banheiro, se sentou diante de um prato já vazio, em mesa mais à frente, à esquerda. Ele se levantou e pelo caminho inverso foi ao banheiro. Fechou a porta, o cheiro da merda deixada pelo outro era sufocante. Com um palavrão entre dentes puxou a corda da descarga: nada. Aliviou a bexiga, saiu: na pia, ao lado da porta, nada de água. Cara e sovaco!
Voltou, o prato não tinha chegado. A caipirinha, sim. Tomou um gole, pegou o copo e saiu para a varanda. Encarou a noite. Mas o silêncio dela não lhe veio, abafado que estava pela repetição infernal dos estrondos de meia hora antes, para sempre incrustados nos seus tímpanos. No fundo, uma conversa entre o homem do balcão e o motorista, tudo entremeado por um noticiário… Dá pra mais de cem mil real… no duro? … O Presidente do Banco Central… coisa de cair o beiço … taxa de juros … rapaz, não é que outro dia… [pergunta pro moço se o bife é bem passado ou mal passado] … comentando as declarações… bem ou mal passado? A ministra-chefe da Casa Civil … bem ou mal passado? Moço! … Moço! — Bem passado. Alzira, traz pra mim aquela… disputa das próximas eleições … dos copo… ficou meio louco com a separação… [a branca?] … e fez um… é, a branca … mau negócio, viu… plantão … ah, era melhor ter vendido depois… Grave acidente… não dá, uma coisa assim… km 338… se não tem cabeça fria… olha aí, rapaz…
Na tela, os holofotes lançavam rodelas de luz sobre destroços: carros, ônibus e um caminhão… Ele não viu, estava de costas. Quando se voltou, o repórter dizia:
— acredita-se que tenha dormido ao volante…
Emborcou o copo de caipirinha.
O prato chegou, ele voltou à mesa e, sentado, abaixou a cabeça no arremedo de comer comer comer. Mas não se enxergava no que fazia, olho posto no que lhe ia dentro, ouvidos atentos ao que se diria dele. A conversa continuou neutra, agora com a participação da mulher. Ele pediu outra caipirinha. Fazer uma coisa daquelas com um companheiro de estrada… Tu é um bicho ruim mesmo, vociferava a mãe, trombeteando a voz do Nestor. Não dá pra confiar. É que nem beber água pelo fundo do copo. Tomou várias, até que deitou a cabeça na mesa e escapou de si. Não viu quando o outro motorista saiu, quando passou por sua mesa e comentou esse embarcou e o outro respondeu vai dar trabalho, quando o primeiro se abaixou e lhe disse ao pé do ouvido olha o bafômetro, companheiro. Não ouviu a risada do dono, não escutou meia hora depois ser chamado uma vez nem duas, só sentiu o cutucão no ombro moço, a gente vai fechar.
Aí levantou a cabeça, pagou e saiu. Mais de dez e meia, decerto. Quando o ar fresco lhe bateu de chofre na testa afogueada, ouviu a voz de pífaro:
— Tá a fim, moço?
— Sai pra lá, menina.
E foi andando para o caminhão. Ela atrás.
— Quinze tá bom. Me deixaram aqui, não tenho lugar pra dormir.
Ele subiu na cabine, fechou a porta, ela ficou lá fora, sumida na escuridão, deixando de si um vulto e duas escleras voltadas para cima. Uma batida de porta lá atrás, o bar se fechou, o silêncio frio, o vulto parado…
— Monta aí, vai.
De que roça descuidada teria brotado aquele caniço? Acredita-se que tenha dormido ao volante. Então morreu.
A menina gingava.
— Você nunca fica chateada?
Ela fez que sim com a cabeça, parecendo parte da ginga.
— E o que você faz quando fica chateada?
— Me enfio num buraco e faço de conta que não estou no mundo.
— Buraco?
— me leva aonde você for, estarei muito só sem o teu amor…
Ele pisou no freio.
— A polícia! — a voz de pífaro quase gritava.
Ele já tinha visto. O policial fazia sinal, ele desacelerou e parou; aquietado o suspiro escandaloso do freio, ficou berrante a música do rádio. Ele desligou. Restou o silêncio. Um silêncio sibilante de campo em dia quente.
Ela já não gingava, estava deitada no assento.
— Documento.
Ele estendeu os papéis, pelo retrovisor viu dois outros policiais subindo na carroceria. Iam examinar a carga. O sol já estava bem gordo.
O policial caminhou com os documentos na mão em direção à frente do caminhão: olhar a placa. Era possível ouvir o ruído dos passos dele naquele silêncio de sonho. Pensou em perguntar — Algum problema, seu guarda? Se a resposta fosse — Não, só rotina, ele esperaria paciente a devolução dos documentos e iria embora. Mas, se fosse outra?
O policial voltava com os documentos e perguntava aos outros:
— Tudo certo aí?
— Tudo — gritou um de lá de trás.
— Algum problema, seu guarda?
— Não. Fiscalização de rotina.
Ele pegou os documentos, abriu a carteira e começou a encaixar os papéis. Foi aí que a porta da direita se abriu e apareceu o outro, que tinha revistado a carga.
— Olha só o que é que tem aqui! Carga nobre, companheiro.
O dos documentos subiu no estribo da esquerda, assomou na janela e riu, e os dois riam, riam:
— Com essa cara de santo, olha só! Corrupção de menor, cara…
Ele não explicou nada. Desceu como mandaram. E tudo o mais que mandaram cumpriu em silêncio.
Faz meia hora está no carro da polícia, esperando ser levado à delegacia. Desencosta a cabeça na janela. O mundo continua lá. Um dos carros de polícia dá a partida e sai. Dentro, a menina. Passando ao lado do seu, larga pela janela um som de pífaro:
— …média?