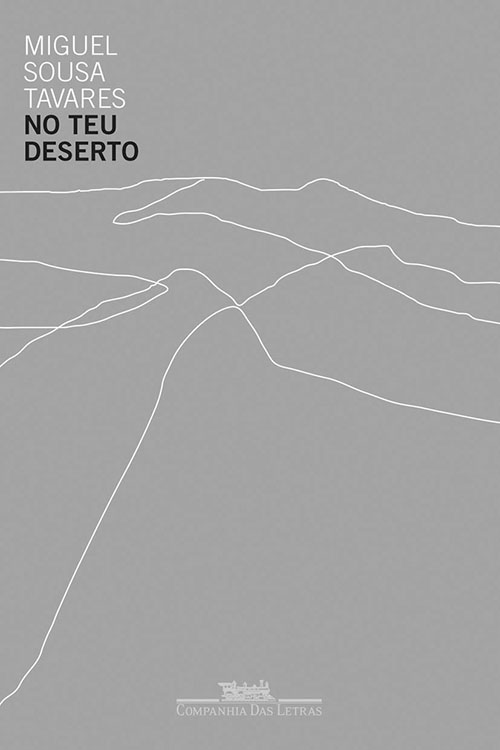Nas muitas formas de representação artística em que paisagens do deserto roubam a cena, temos como elementos recorrentes a vastidão do espaço a perder de vista, a sinuosa ondulação de um universo infinito feito de areia e um mar de estrelas, em noites suspensas, a brotar de um céu, aparentemente tangível, que até parece sólido.
É assim mesmo que o romance No teu deserto, de Miguel Sousa Tavares, apresenta as descrições de uma viagem, empreendida por um jornalista anônimo e sua bem mais jovem companheira de viagem, Claudia, pelas dunas desafiadoras do Saara.
Nesse sentido, o deserto como pano de fundo do cenário da travessia amorosa não é tão diverso do que aparece, por exemplo, nas belíssimas fotografias do filme de Bernardo Bertolucci, O céu que nos protege (The sheltering sky, 1990), ou do premiado Babel (2006) dirigido por Alejandro Gonzáles Iñárritu.
Duas vozes
O que é particular na obra do autor português, entretanto, é a originalidade em permitir que se entrecruzem as duas distintas percepções dos protagonistas, na vivência intensa e conjugada, por 40 dias, naquele mundo solitário e, ao mesmo tempo, exuberante. Trata-se de uma partitura para duas vozes em que contam, muito mais, as respectivas interpretações acerca do vivido, do que a contemplação fascinante do novo ambiente que as circunda.
Se é verdade que o deserto age como fator determinante no comportamento dos personagens, marcando-os para sempre, a relativização do narrar, aqui proposta, em forma epistolar e memorialística por Tavares, manifesta-se como metamorfose de crescimento, como experiência epifânica de redenção.
Daí por que, embora identificado, a priori, com o nada, o vazio absoluto, o impacto das sensações vividas pelos narradores no Saara, a partir do modo como o percebem, faz com que se revelem, aos poucos, os desertos existenciais de cada um. Da somatória dessa solidão a dois frutifica o vínculo amoroso capaz de redimi-los enquanto a travessia durar.
Tal como uma folha em branco, pronta a receber a escritura que se quer narrar, o deserto exerce, aqui, o papel de suporte para reflexões sobre a aridez e a falta de sentido da vida. Mas é o deslocamento dos pontos de vista que cria o jogo instigante, em que a voz do narrador se inscreve na página desértica da existência de Claudia e vice-versa.
Deserto subjetivo
Por isso, de antemão, o título já nos esclarece que não se trata, apenas, de descrever a perplexidade absurda à la Camus, diante dos impasses de existir, suscitados pelos chamados do cenário. Trata-se, isso sim, de um deserto subjetivo, em que as consciências narrativas preenchem o nada da paisagem, conferindo-lhe sentido.
Embora, no início, o narrar se concentre nas explicações do jornalista, dando detalhes do itinerário a percorrer e também do fascínio masculino a perscrutar a bela aparição de Claudia, logo as rédeas do narrar trocam de mãos e o andamento fica à mercê do ritmo e da entonação da menina-mulher, que conta como vê aquele seu companheiro de travessia.
Ambos descrevem o deserto em sua plenitude, mas este se relativiza e se humaniza, na medida em que privilegia a capacidade dos personagens de ter olhares recíprocos, mesmo que tragados por aquele cenário arrebatador.
Saber olhar
O que resulta, em conseqüência dessa visada fenomenológica do narrar é que, quando se sabe olhar, tudo adquire significado, e o mais deserto dos mundos se preenche de cor, luz e revelações:
Creio que estaria como tu estavas naquele dia, o mesmo olhar perplexo perante a vastidão daquele cenário: há alturas em que a beleza é tão devastadora que magoa. Devia haver qualquer coisa na forma como eu olhava aquela paisagem, todo aquele despojamento humano, que fez com que o alentejano que estava comigo, e que antes tinha sido pastor naqueles vales, comentasse:
— A terra pertence ao dono, mas a paisagem pertence a quem a sabe olhar.
E era assim conosco naqueles dias, também. Éramos donos do que víamos: até onde o olhar alcançava, era tudo nosso. E tínhamos um deserto inteiro para olhar.
Luz na Argélia
Os olhos dele aprendem a ver, sobretudo, Claudia e sua beleza loura e jovem, na aridez da paisagem:
Mais uma vez, o que impressiona agora é ver como tu eras nova — nova e luminosa, o sol batia-te por trás dos cabelos louros e tu eras mesmo a miúda de Botticelli, uma Primavera transplantada da luz suave da Toscana para aquela luz dura da Argélia. Tudo, tudo parecia ao teu alcance. Uma vida toda à tua espera, o mundo a teus pés. Se o quisesses. Ou um deserto.
Mais do que os apelos de uma sensualidade tangenciando as insinuações da mulher, nas vestes de criança desprotegida, qual “Marilyn que todos os homens desejam poder um dia proteger”, a presença dela se intensifica nele, para além daquele tempo suspenso de convivência, já transcorridos 20 anos, como oásis no areal sem fim:
Depois disso, voltei onze vezes ao Sahara. Nunca como contigo, nunca tão fundo, tão longe, tão perdidamente. Mas voltei, porque o deserto tornou-se quase um vício e a minha íntima religião, o único divino a que prestava contas e onde me reencontrava. E, de cada vez que voltei, pensei em ti e pensei como seria bom, incrivelmente bom, voltar contigo.
A voz nostálgica de Claudia também o evoca depois da viagem, quando obrigatoriamente se separam, enredados pela realidade da qual cada um tem que dar conta, ainda que involuntariamente:
Gostei tanto de te ter encontrado, não me deixes agora… Não me deixes à beira do poço: ouve, não me faças nunca acordar destes dias, destas manhãs geladas na areia, dos teus resmungos de sono e má disposição, porque os teus dedos estão enregelados e não consegues acender o lume do fogão para o primeiro chá do dia. Não me acordes agora, não me fales alto antes de me falares ao ouvido, não me tragas de volta do deserto.
Compartilhar o silêncio
Nessa poética travessia do narrar, celebra-se o encontro de duas solidões. Dois seres que, a partir da necessidade de enfrentar o nada, tornam-se mutuamente necessários, permitindo-se tocar um pela presença do outro.
Um dos episódios mais significativos do romance talvez seja o do espetáculo amedrontador e fascinante da tempestade de areia que eles presenciam. O desafio maior seria, então, o de aprender a compartilhar o silêncio, num ritual contemplativo que, assim comungado, equipara-se a momentos singulares de fecunda intimidade a dois.
Cena análoga e muito bem realizada é aquela na qual os protagonistas em crise conjugal de O céu que nos protege, de Bertolucci, buscam abrigo em meio à temerosa vastidão, amando-se e contemplando juntos, em silêncio, o céu do Saara. Essa apologia do apelo dos sentidos — provocados pela estranha vertigem causada pela terrificante tempestade de areia ou por um estonteante e sólido céu que transmite alguma paz no turbilhão de emoções que se vivem em espaços tão abertos — sugere outros significados.
Se pensarmos, como o narrador do romance, que ninguém, hoje em dia, quer se atrever a esse tipo de experiência, perceberemos o quão complexo é o tipo de questionamento que ele se propõe fazer.
Medo da solidão
De fato, em um recorte profundo do comportamento da sociedade contemporânea, ele conclui, desapontado, que ninguém tem tempo a perder com o deserto. Isso se deve a parâmetros em que não há mais espaço para a introspecção, para a pausa que induz à temerosa, mas imprescindível viagem de busca ao autoconhecimento:
Todos têm terror do silêncio e da solidão e vivem a bombardear-se de telefonemas, mensagens escritas, mails e contactos no Facebook e nas redes sociais da net, onde se oferecem como amigos a quem nunca viram na vida. Em vez do silêncio, falam sem cessar; em vez de se encontrarem, contactam-se, para não perder tempo; em vez de se descobrirem, expõe-se logo por inteiro: fotografias deles e dos filhos, das férias na neve e das festas de amigos em casa, a biografia das suas vidas, com amores antigos e actuais. E todos são bonitos, jovens, divertidos, “leves”, disponíveis, sensíveis e interessantes. E por isso é que vivem esta estranha vida: porque, muito embora julguem poder ter o mundo aos pés, não agüentam nem um dia de solidão. Eis porque já não há ninguém para atravessar o deserto.
Tecendo uma narrativa epistolar de cunho amoroso a duas vozes, mesmo sem arroubos formais mirabolantes, a obra de Miguel Sousa Tavares toca em questões fundamentais dessa nossa “modernidade líquida”, mas não nos termos propostos pelo filósofo Zygmunt Bauman.
O discurso indignado do narrador, aqui, adquire tom apocalíptico, quase acusatório. Explicita, sem condescendência, que estamos vivendo tempos em que não há fronteiras entre o público e o privado; que as relações humanas de toda natureza se tornaram descartáveis; que a preservação da intimidade não mais importa; que a proliferação excessiva de vozes não permite que se ouça a própria voz…
E no deserto, metáfora da solidão e do silêncio, em que as estrelas à noite são tão próximas que, se estendermos a mão parece que podemos tocá-las, só o que ouvimos, além de nossa voz interior, segundo o autor português, é o ruído delas.
Da porta de sua tenda no Sahara, inabalável, ele aconselhava à Claudia: “Xiu, ouve o ruído das estrelas!”.
A nós que, com Olavo Bilac, já nos habituamos a ouvi-las, perdendo o senso, talvez valesse a pena empreender essa aventura pelo deserto… Deserto como espaço simbólico, não de desorientação ou de abandono, mas de encontro consigo mesmo ou com quem se atrevesse, conosco, a partilhar a solidão.