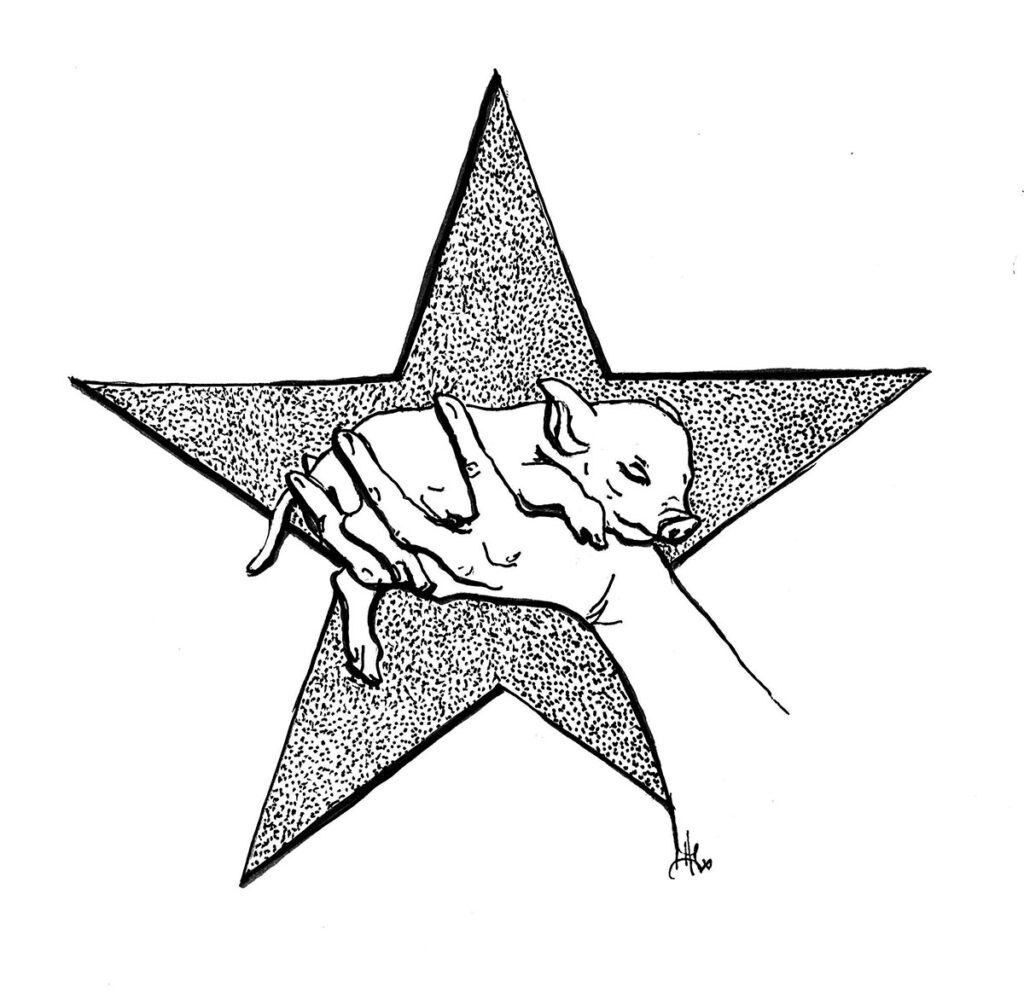No mês passado, chegou às livrarias uma nova tradução brasileira de Animal farm (1945), novela clássica de George Orwell. Essa versão, assinada pelo ótimo Paulo Henriques Britto, tem causado comoção e debates interessantes. Para entender melhor as razões, é preciso voltar um pouco no tempo, mais precisamente para 1964, ano do golpe militar que instaurou a ditadura no país. É exatamente nessa ocasião que a obra é publicada aqui pela primeira vez. A tradução intitulada de A revolução dos bichos, assinada por Heitor Aquino Ferreira, foi a única que nosso mercado editorial conheceu por seis décadas.
Agora, quando a edição crítica da Companhia das Letras não apenas rebatizou a obra como A fazenda dos animais, mas também a contextualizou, muita gente ficou espantada. No posfácio, o organizador Marcelo Pen, professor de Teoria Literária e Literatura Comparada na Universidade de São Paulo (USP), apresenta um breve e rico panorama da conjuntura original da publicação da novela, em 1945, bem como da conjuntura brasileira em 1964. A informação que circulou pouco, ao longo de todo esse tempo, é a de que Heitor Aquino Ferreira, o primeiro tradutor, era também um oficial militar — na época, tenente —, e chegou a ser secretário do general Costa e Silva e, dez anos depois, também do general Geisel. A versão foi inclusive financiada pelo Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais (Ipes), também ligado ao regime, que parece ter visto na fábula de Orwell uma espécie de “propaganda anticomunista”.
Nesse ensaio, Pen também examina algumas escolhas da primeira tradução e coteja com as escolhas de Britto. Fazendo uma pesquisa para a escrita de outro texto sobre a recepção e a tradução de Animal farm no Brasil, acabei me reaproximando de uma discussão que gostaria de desdobrar aqui: a natureza política da linguagem, que, afinal, é o instrumento de toda tradução. A escolha de cada palavra, por mais fiel ao original que possa ser, também é uma escolha política. E se existe essa camada de mediação tão importante, talvez também seja importante que seja debatida, em especial num mercado com um número tão significativo de obras traduzidas. Britto concorda que o tema deveria receber mais atenção ao menos da crítica literária.
É verdade que o espaço para resenhas de livros nos jornais está cada vez menor, mas muitas vezes observamos que a questão é negligenciada até mesmo em revistas literárias e veículos culturais digitais, onde o limite de caracteres é diferente. Indo um pouco mais longe, talvez essa seja uma questão a ser trabalhada desde a escola, já nas primeiras leituras. A mera tomada de consciência de que existe uma mediação em curso talvez seja um bom começo, ainda que as crianças não tenham nenhum conhecimento de línguas estrangeiras.
O caso de Animal farm pode ser um convite instigante para esse debate. Em 2021, ano em que a obra de Orwell entra em domínio público, outras editoras também preparam traduções da obra. Entre as quais, a L&PM, com Denise Bottmann; a Biblioteca Azul (selo da Globo Livros), com Petê Rissatti; e a Novo Século, com Luísa Geisler. Se antes só tínhamos acesso a uma tradução, em breve teremos ao menos cinco boas versões diferentes para cotejar.
A tradução de Denise Bottmann, como a de Britto, aposta no título A fazenda dos animais. Bottmann também tem ressalvas em relação ao uso da palavra “revolução”: enquanto Orwell não empregou a palavra nenhuma vez na novela (e sim “rebelião”), Heitor Aquino Ferreira utiliza a expressão mais de vinte vezes, entre elas no título agora consagrado.
Para Bottmann, a posição do autor “investe contra o tipo de cristalização autoritária não só soviético, mas capaz de ocorrer em qualquer projeto revolucionário após se instaurar como regime. Me faz lembrar um pouco aquela ideia da Hannah Arendt de que uma revolução, após consumada, torna-se conservadora (Max Weber também dizia algo parecido); então acho que a distinção — não insignificante, a meu ver — passa meio por aí”.
Já Petê Rissatti escolheu manter A revolução dos bichos, decisão tomada em comum acordo com seu editor: “Nunca pensamos em mudar o título porque já é bastante conhecido e, de alguma forma, já está embrenhado na recepção histórica da obra. Além disso, o contexto de hoje não é o mesmo da primeira tradução da obra, e podemos extrair desse título outras visões que não àquelas que se impregnaram no texto da época da ditadura”. Mas é importante lembrar que, uma vez que a obra ainda não está publicada, essa decisão sempre pode mudar.
Rissatti concorda que toda decisão que tomamos é política, e a tradução não foge disso: “Quando decido, por exemplo, diferenciar como os seres humanos chamam os animais e como os animais se chamam (respectivamente, ‘animal’ e ‘bicho’), tomo a decisão de estabelecer um limite entre os dois mundos, que é rompido em determinado momento. Politicamente, foi a minha maneira de expressar a polarização que sempre existiu e que hoje, por diversos motivos, está apenas mais acirrada.”
Quanto a esses termos, Bottmann estabelece um critério diferente de distinção, partindo do pressuposto que Orwell usa a palavra animals exclusivamente para animais domésticos (de criação e trabalho), e beasts para animais em geral, a bicharada, indiferenciadamente; para animais silvestres, ou não domesticados, o autor usa wild creatures. Estando esses animais dentro de um determinado regime, com hierarquia, divisão do trabalho, fornecimento de moradia e alimento em troca de trabalho e produtos, para ela é evidente que o que temos é a alegoria de uma sociedade.
“É contra o regime vigente nessa sociedade que os animais se rebelam (sem nenhum projeto concreto de construção de uma nova sociedade: apenas um vago idealismo igualitário de tipo cooperativista). No sonho de liberdade encarnado no hino Beasts of England (‘Bichos da Inglaterra’), todos os animais, domesticados e silvestres, vivem em liberdade. Aliás, a certa altura, um dos porcos até cria um comitê para a domesticação dos ‘camaradas silvestres’ — a igualdade se dá por serem todos bichos, alguns domésticos, outros não, mas o projeto social após a instauração do novo regime é o de domesticar os demais”, diz.
Bottmann se considera adepta de uma linha tradutória que procura manter certa aderência à obra original, por isso acredita que textos com ampla liberdade de interpretação e recriação deveriam ser chamados de adaptações — “assim se evita o risco de atribuir indevidamente a quem escreveu a obra primígena coisas que jamais estiveram lá. Em suma, tradutor/a é Houdini, não Isadora Duncan”. A imagem interessante contrasta o húngaro Harry Houdini, um dos mais importantes ilusionistas da história, conhecido por escapar de diferentes formas de armadilhas e prisões, e a dançarina e coreógrafa Angela Isadora Duncan, nascida nos Estados Unidos e considerada a precursora da dança moderna, que seguia seus instintos e improvisava.
A escritora e tradutora Luisa Geisler, como Rissatti, ficou com o título antigo: “Optei pelos nomes já canônicos (do título e dos animais) e fiz escolhas um pouco diferentes quando conveniente. Mas acho legal e até divertido podermos discutir essas escolhas e trazer isso para o público leigo”.
De fato, como as traduções literárias ainda são feitas por pessoas e não por máquinas, é esperado, e até mesmo desejado, que tenhamos resultados diferentes. Ao cotejar essas versões de forma mais detida, quem sabe possamos lembrar que, por trás de cada obra traduzida, existe um trabalho artesanal valioso — que pode ser realizado de forma mais ou menos competente —, capaz de estabelecer pontes que ligam lugares, culturas e idiomas distintos. Ao atravessar essas pontes, talvez seja conveniente verificar se não estão bambas, mas também apreciar a paisagem que elas nos permitem avistar, bem como os meandros do caminho que nos leva até lá.