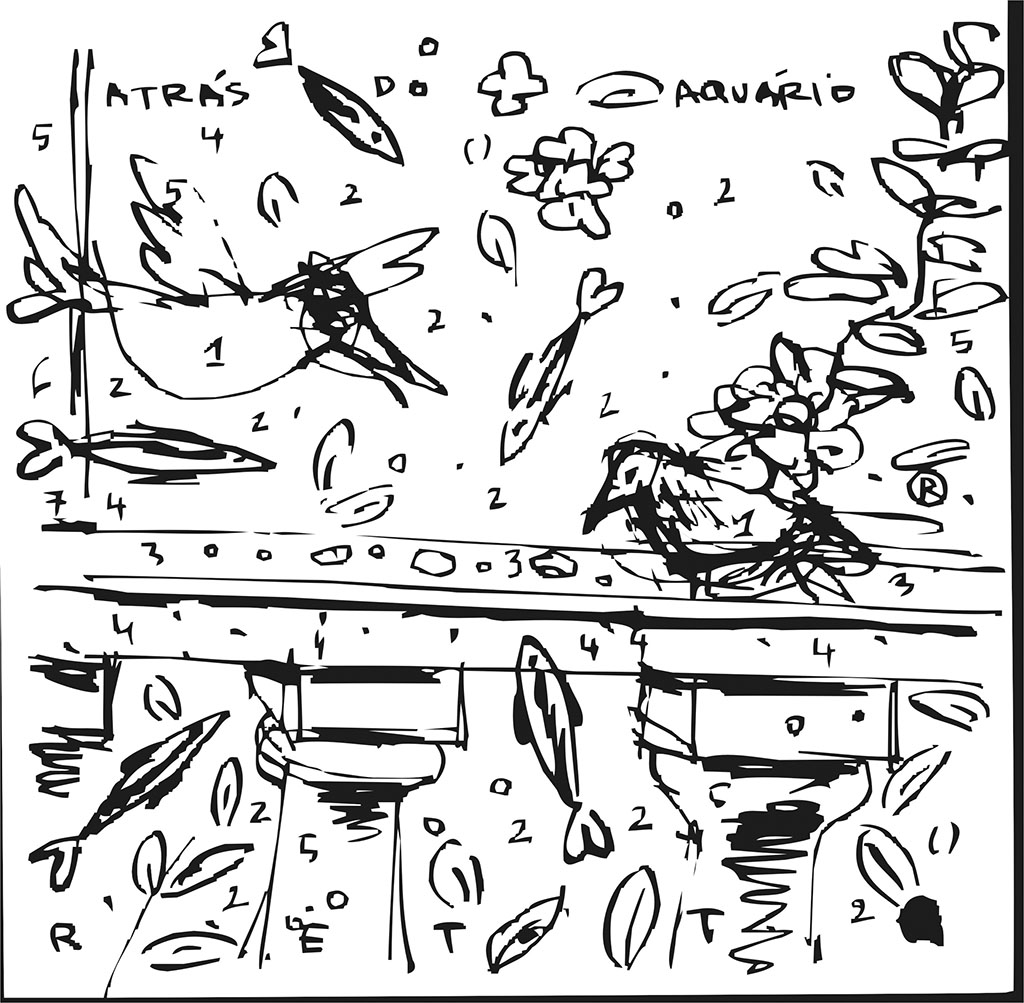1
Não chega a ser complicado escrever a história de um país. Mais difícil, porém, é esboçar a de um homem. Para um país, existem antecedentes, sob a forma de livros e tratados, mapas e registros iconográficos, arquivos e depoimentos, lendas e fabricações. Ou seja, todo um patrimônio acumulado de informações, matizes, inferências e sugestões. Uma nação, além do mais, possui um entorno geográfico, alimenta-se de contextos próprios que varam fronteiras, reais ou imaginárias, e se prestam a análises de todo tipo. Mas um homem? De que antecedentes dispõe? Quais serão seus mapas mais secretos? Ou suas fronteiras? O que esconderá por detrás de sua fachada? E o que saberá ver em seu olhar se, em uma noite de crise ou ansiedade, sucumbir à tentação de se contemplar no espelho?
A primeira lembrança que conservo de meu personagem data de 1968 e foi em certa medida premonitória: a projeção de sua sombra sobre minha mesa no Ministério — no qual eu próprio ingressara havia pouco menos de um ano. Sem que eu ouvisse seus passos, ou de alguma forma notasse sua presença, ele surgira por detrás de minha cadeira, um móvel de espaldar alto de madeira talhada, e se debruçara sem grande cerimônia sobre o texto que eu escrevia. Escrevia à mão, como era habitual na época, em uma folha de papel almaço que seria mais adiante datilografada pela secretária. No Ministério, esse gênero de intimidade, de surgir do nada e bisbilhotar o que o colega redigia, era privilégio reservado aos mais antigos.
A sombra não chegara propriamente a soar um alerta, e isso por uma razão prosaica: naquele instante meus olhos buscavam ao longe a palavra que melhor ilustrasse a frase contra a qual eu me batia. O texto, tomado em seu conjunto, era seguramente anódino. Mas a frase, não. Por uma questão de simetria tão cara aos jovens, a irrelevância do conjunto tornava imperativa a necessidade, na oração, de um termo que brilhasse com a força de uma lâmina ao sol.
— Fortuito… — murmurou a sombra.
Como eu me virasse na direção da voz, o desconhecido inclinou a cabeça de lado e, com um sorriso, insistiu em um tom encorajador:
— Fortuito. É o termo de que você precisa aqui. Vem do latim, “fortuitu”.
A essa altura, eu já estava de pé. Conhecia-o apenas de vista, pois ele trabalhava na Secretaria-Geral. Apresentou-se, estendendo a mão:
— Marcílio Andrade Xavier. Pode me chamar de Max.
— Max?
— Minhas iniciais. Uma invenção de minha ex-mulher.
Apoiou-se, então, na borda da mesa. E cruzou os braços, conferindo ao diálogo o clima de informalidade que o momento exigia.
— Ela não conseguia pronunciar meu nome inteiro. Era americana.
Corrigiu-se a tempo:
— É americana… Está viva. Bem viva, aliás.
E riu, mas de um jeito amargo. Em seguida emendou:
— Aqui no Itamaraty o apelido pegou de vez, por causa das iniciais que aparecem nos expedientes que redigimos. Virei Max para a eternidade. Com sorte, para a posteridade.
Sorri da brincadeira. Mas continuava sem entender o que ele fazia em minha sala.
— Vim te convidar para almoçar… — meu visitante esclareceu. — Por sugestão de um amigo comum, cujo nome, por ora, não revelarei. Ele me pediu que esperássemos em sua sala enquanto termina um relatório. Garantiu que Vossa Senhoria é “eminentemente almoçável”.
— Almoçável?
— Segundo ele, você faria parte de um raro grupo de pessoas com as quais é possível compartilhar uma refeição sem sofrer de indigestão aguda (“indigestione acuta”), provocada pelo tédio tão comum em nosso meio.
— Taediu… — arrisquei por minha vez.
E foi assim, rindo e trocando meia dúzia de frases em um latim de minha parte precariu, que saímos em busca de nosso amigo. Recordo-me de que me sentia bem contente com o colega. E levemente gratificado por ser alvo das atenções de pessoa mais antiga na carreira, assessor do segundo homem do Ministério ainda por cima. Nossa conversa corria célere. Quando se é jovem, com toda uma vida pela frente, e um vago sabor de imortalidade a pairar a nossa volta, são grandes e variados os anseios que nos cercam e até dominam. Anseios por virtuosismos de todo tipo, que nos levam a acender refletores em causa própria e produzir frases de efeito. Ou por afinidades, que nos enraízem em territórios familiares.
No que tange às afinidades, Max e eu tínhamos pelo menos uma. E das mais relevantes, como logo descobrimos perambulando entre escadas e corredores: a paixão pela leitura. Tínhamos lido os mesmos autores: Joyce, Proust, Flaubert, Tchekov, Fitzgerald, Machado, Borges, mas também (e com igual apetite) Debray, Gramsci, Chomsky, Lukács… Com isso, falávamos por metáforas. Poderíamos até, se necessário, erguer a qualquer momento barreiras intransponíveis entre nós e nossos colegas. Mesmo porque boa parte destes somente externava um pensamento depois de submetê-lo ao filtro da razão e cozinhá-lo em fogo baixo. Bom senso e comedimento era o que não faltava a nossa volta. E esse excesso de cuidados retirava das alegorias seu frescor e espontaneidade.
Mas não entre nós — e isso ficou claro em quinze minutos de conversa: em um ambiente onde prevalecia a discrição, operávamos na fronteira da irreverência. Sem corrermos riscos, bem entendido, pois não convinha criticar excessivamente as chefias, nem expor os poderosos a suas vulnerabilidades, ainda que apenas a nossos olhos. Afinidades dessa natureza abrem espaço para desejos de outro nível — e, em seu bojo, para perguntas. Max logo demonstrou curiosidade por minha história mais pessoal. Sabia que eu era filho de diplomata, mas isso só não lhe bastava. Estava interessado em confirmar as lendas que corriam no Ministério a respeito de meu pai. Tivera mesmo origens tão humildes? Viera da escola pública? Trabalhara duro como professor de geografia em escolas de subúrbio? Como lograra ingressar no Itamaraty?
— Ele foi seminarista — expliquei. — Lia muito…
— Assim mesmo… — insistia Max. — Um feito raro.
E era. Tanto que, no ano anterior, constara do obituário de meu pai. O jornal realçara suas origens. Raros eram aqueles que, em sua classe social, falassem línguas ou tivessem condições de se dedicar a estudos que lhes franqueassem o acesso ao Ministério das Relações Exteriores.
A insistência de Max me fez ver que, para ele, o tema tinha sua importância. Apesar disso, não me recordo de haver demonstrado curiosidade por suas raízes familiares naquele momento. O desejo de me aprofundar viria com o passar dos anos, por força de acontecimentos que iriam aos poucos se sucedendo, e que provocariam em mim, em seu devido tempo, uma necessidade de explicações. Decifrar as engrenagens secretas de Max evoluiu, assim, de um sentimento nascido do afeto, para se instalar em outro, vizinho ao mal-estar e, mais adiante, ao constrangimento.
Nesse lento processo, descobriria que Max descendia do ramo menos favorecido dos Andrade Xavier, que vinha do interior de Minas (e não do Rio de Janeiro). O que fazia dele, em suas palavras, um ser duplamente desfavorecido pela sorte — dadas, a um tempo, “a proximidade e a distância” em que se encontrava do ramo mais afluente e aristocrático de sua família. Perdera o pai muito moço. E, na seqüência dessa perda, sua mãe vira todas as portas da família do ex-marido se fecharem por motivos nunca explicados. Com isso, Max encontrara no Ministério — a que pertencia, a seu ver, por direito de nascença — a oportunidade de resgatar os cenários e paisagens de que se vira privado em sua infância.
Entendi, assim, a razão pela qual o tema da descendência, que não se revestia de grande importância para mim, se confundia, para ele, com sua razão de ser. Não terá sido por outro motivo que se dedicava com afinco a traçar a genealogia de colegas e chefes. Da mesma forma com que se referia aos bons casamentos que uns e outros haviam feito, segundo ele em busca de alianças que avançassem suas carreiras. Imagino, inclusive, que sua união com a americana, que durara apenas dois anos (“um ligeiro equívoco de juventude”, como gostava de proclamar), poderá ter fracassado por não servir a esse gênero de propósitos.
Seja como for, e com respeito a essa temática social, guardei de nosso almoço uma impressão clara: na imaginação de meu novo amigo, o simples ingresso no Itamaraty “aristocratizara” meu pai e, com maior razão ainda, a mim mesmo — como membro que era de segunda geração dessa família palaciana. Daí, provavelmente, as verdadeiras raízes de minha condição de “almoçável”.
Lembro-me que, naquele dia, esforcei-me, sobretudo, por estar à altura das expectativas criadas a meu respeito. Falei de filmes e literatura. Louvei Eros e Civilização, pois haver lido Marcuse contava ponto — já que conciliava, como um crítico assinalara, Freud e Marx. Citei versos de Pound. Falei de política, de esporte, de samba. Criticamos em voz baixa os militares e o golpe de 64 com uma franqueza rara mesmo entre os mais jovens. Também soube rir das histórias de Max (boas) e das de nosso amigo comum (razoáveis).
Na hora da sobremesa, trocamos igualmente confidências sobre mulheres. Aos vinte e oito anos, Max era mais velho e mais experiente do que nós — e desquitado ainda por cima. Brilhava a nossos olhos como homem do mundo que imaginávamos ser, dotado de experiências várias que parecia disposto a nos confiar sob a forma de conselhos ou sugestões. Falava da pílula anticoncepcional como sendo a única invenção relevante do século 20. E considerava que o incipiente movimento feminista era a maior oportunidade jamais oferecida aos homens, cujos apetites mais secretos seriam agora saciados em níveis nunca antes imaginados.
Durante o café, Max me distinguiu com um convite para ouvir em sua casa na companhia de alguns amigos uns discos de Art Blakey e Thelonious Monk que acabara de receber de Nova York. Passou-me seu endereço. Morava em um pequeno apartamento na Urca, de frente para o mar. Revelou que tinha um programa de jazz na Rádio MEC, que ia ao ar uma vez por semana, e que apresentava pessoalmente. Falou-me de seus dotes de locutor e das histórias que inventava para suprir lacunas quando, por preguiça, descuidava-se de preparar seus textos. De minha parte, como que inspirado por uma súbita idéia, perguntei-lhe se poderia me indicar um alfaiate. Fez-me então herdeiro de conselho recebido de veterano embaixador: “Faça poucos ternos.” (Longa pausa.)
“Em Londres…”