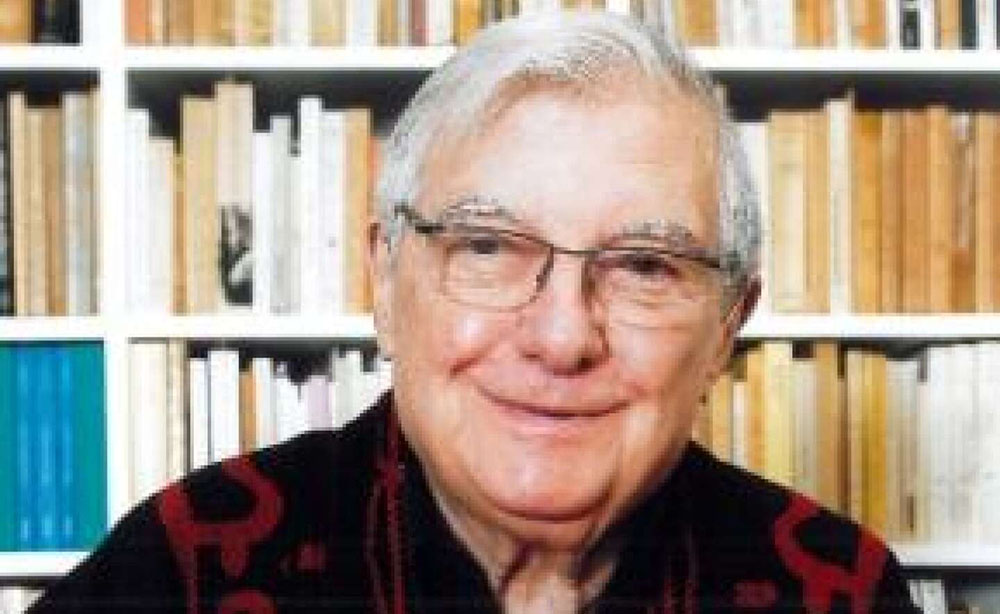Onze homens treinados e uniformizados entram em campo e se preparam para enfrentar outros onze homens igualmente treinados e uniformizados. Em torno dos vinte e dois, uma platéia digna do Coliseu nos tempos áureos do panem et circenses: cristãos aos leões. Mas se quase não há mais leões, nem mesmo nas planícies africanas, que dizer de cristãos dispostos a morrer pela fé?
O futebol, da mesma forma que as demais modalidades de competição em equipe, é a metáfora da guerra. A Copa do Mundo, as Olimpíadas e todos os outros campeonatos internacionais, ao colocarem no campo de batalha as nações do mundo, instauram a guerra pacífica.
No Dicionário de símbolos, Jean Chevalier e Alain Gheerbrant definem apropriadamente o jogo como sendo fundamentalmente um símbolo de luta. Luta contra a morte, no caso dos jogos funerários. Contra os elementos, no dos jogos agrários. Contra as forças hostis, no dos jogos guerreiros. E, interiorizando seu significado para que englobe também a paisagem íntima do ser humano, luta contra si mesmo, contra o medo, a fraqueza e as dúvidas.
Ah! a guerra… Desde o dia — ou terá sido uma noite? — em que Lúcifer, por inveja e despeito, rebelou-se contra os desígnios de Deus e incitou as hostes revoltosas contra o Criador, muito sangue já foi derramado nos campos de batalha, em nome de todo tipo de crença e ideologia.
Em praticamente todas as cosmogonias conhecidas, o mundo tem início com uma contenda de proporções cósmicas. Na mitologia grega há três gerações divinas: a de Úrano, a de Crono e a de Zeus. Cada qual tem de destronar a anterior, para que possa reorganizar o universo à sua imagem e semelhança.
Luta de filhos oprimidos contra pais opressores. Crono contra Úrano, primeiro. Zeus contra Crono, depois. E a forma mais eficaz de subjugar o pai e tomar o trono é sempre a castração. Úrano e Crono são alijados do membro viril. E a raça humana ganha, além do fogo, a obsessão pela figura do falo, cuja semelhança formal com a lança, a metralhadora e o míssil, faz que o ato de inseminar, de criar a vida, esteja associado em nossas mentes ao de matar, de trazer a extinção.
Em quase todas as tradições, da hindu à cristã, da chinesa à nórdica, o mundo chegará ao fim após um hediondo combate. Afinal, o mito de origem de cada povo, além do nascimento, já traz dentro de si a inevitável morte do universo.
Até mesmo para o mundo dos deuses está previsto um fim terrível. Quando tormentas de fogo e água castigarão a terra, estrelas cairão do céu incendiando cidades, irmãos lutarão contra irmãos e a loucura e o crime triunfarão.
Tal dia chegará também para o Ásgard, na mitologia escandinava. Nesse dia os deuses liderados por Odin, tendo Thor, o deus do trovão, à frente, enfrentarão e sucumbirão, numa imensa labareda, ante as forças do mal comandadas por Loki. Em seguida as chamas tomarão conta do mundo dos deuses e dos homens, colocando término à era de Odin.
Ah! a guerra… Coerentemente caracterizada, ao lado da fome, da morte e da peste, como um dos quatro cavaleiros do Apocalipse. Como começa? Sempre com uma forte gana de poder e riqueza.
Um homem deseja os campos que há do outro lado do rio? Simples: basta convencer os companheiros de que, diferentes dos seus, os deuses do povo vizinho não possuem qualidades que devam ser louvadas. Então o pau come.
O mesmo homem deseja escravos que cultivem os campos recém-anexados que há do outro lado do rio? Don’t worry, man: basta convencer os companheiros de que, por adorar deuses sem qualidades, o povo vizinho é genética e intelectualmente inferior, não passando de uma raça posicionada apenas um degrau acima à dos chimpanzés.
Continentes lançam-se contra continentes porque em algum lugar, em algum livro sagrado, alguém morto há milênios escreveu em língua hoje desconhecida: “Não adiciones pimenta-do-reino ao café, se não quiseres criar, entre as visitas, um pandemônio”. Sentença que foi traduzida por um de seus obscuros seguidores como: “Não confies no reino cujo rei não tem fé, se não quiseres ter sobre ti, súbito, as vistas do demônio”. Chegando até nós assim, depois de diversas versões imprecisas: “Não toleres o rei que não professar nossa fé; elimina-o, e a todos os seus súditos, pois seu reino é o reino do demônio”.
Não há dúvida de que o telefone sem fio é o pai da maioria dos conflitos históricos.
E quem poderá dizer que a hipocrisia não é a mãe de todas as guerras? Talvez o cientista. Para quem a vaidade humana e o amor-próprio ferido por uma mesura malfeita diante do sultão de um país exótico têm menos importância, na deflagração de um conflito, do que as tempestades elétricas na camada mais funda do cérebro: o complexo reptiliano.
Talvez o intelectual. Que, mesmo aceitando a hipocrisia e a vaidade como instigadoras do extermínio em massa, não acha que devam ser extirpadas de nossa cultura. Se achasse, não estaríamos falando ainda hoje como o Eclesiastes: “Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Eis o que eu vi, quando um homem domina outro homem, para desgraça deste último: vi ímpios receberem sepultura e gozarem de repouso, enquanto os que tinham feito o bem eram expulsos e esquecidos na cidade”.
Para certos sujeitos eruditos e bem-pensantes, a guerra põe ordem no mundo, controla a densidade populacional, estabelece limites à expansão desmesurada.
“De maneira geral, a guerra tem por fim a destruição do mal, o restabelecimento da paz, da justiça, da harmonia, tanto no plano social quanto espiritual; é, pois, a manifestação defensiva da vida.” (Dicionário de símbolos)
Quem há de negar que boa parte da melhor literatura — a Ilíada, o Bhagavad gita, Henrique V, Guerra e paz, A cartuxa de Parma, O emblema rubro da coragem, Os sertões, Grande sertão: veredas — teve origem no desejo de um autor de expressar, de forma sublime, os horrores da guerra?
Concordo com José Paulo Paes, que no final do século passado afirmou preferir se manter informado a respeito da Guerra de Tróia a acompanhar as notícias da Guerra do Golfo. Todos nós, amantes dos livros, pelo menos nesse ponto estamos de acordo: a guerra fica melhor em Shakespeare do que no noticiário da telinha. Quando filmada, preferimos as cenas de Kurosawa, intelectualmente organizadas e cheias de sentido poético, às da CNN, vazias, caóticas, sem significado algum.
Tróia caiu, centenas de navios foram incendiados, milhares de combatentes morreram, tudo por culpa da volúpia e da luxúria de Páris e Helena. As Cruzadas foram um dos maiores contra-sensos da história — muitos mais viriam — e um abuso da semântica, ao serem caracterizadas como guerra santa.
Mais uma vez Jean Chevalier e Alain Gheerbrant: “A guerra santa é a luta que o homem trava em si mesmo. É a confrontação das trevas e da luz dentro do homem. Cumpre-se na passagem da ignorância para o conhecimento”. Ou seja, associar a expressão guerra santa a combates armados com vista a ganhos materiais é demagogia pura. “Segundo a tradição, nenhuma guerra desse gênero é santa. Aplicada às Cruzadas, a expressão é um erro grave. As armas e os combates da guerra santa são de ordem espiritual.”
A Guerra dos Cem Anos, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a guerra na antiga Iugoslávia, todas as guerras — ao fim de cada conflito, renasce nos participantes o desejo de que um evento tão odioso não volte a se repetir jamais.
Desejo que permanece enraizado no chão da pátria, no monumento erguido à memória dos que perderam a vida em combate, na luta equilibrada — onze contra onze — e sem vítimas dos campeonatos de futebol. Desejo que, como o amor, será eterno, pelo menos até a próxima grande guerra, levada a cabo em nome dos deuses mais excêntricos, cujos nomes nem conhecemos ainda.