Finalmente sou um homem livre. Melhor dizendo, um leitor para quem o sol da liberdade brilhou em raios fúlgidos. Depois de várias tentativas e de haver lido as primeiras 500 e as últimas 60 e tantas páginas do Ulisses, decidi abandonar definitivamente sua leitura. Percebi que não vale a pena o esforço e livrei-me do terrível peso de uma obrigação. Não, não sou doido, não nego a importância do romance de James Joyce. Seu surgimento, em 1922, sacramentou a modernidade literária.
Naqueles começos do novecentos, vivia-se a era das vanguardas, discutia-se o papel da arte como esforço de conhecimento, desenhava-se uma nova sensibilidade no bojo das mudanças tecnológicas e sociais. A Literatura entrou em trabalho de parto. Joyce, tomado por uma epifania, assumiu-se o parteiro. E trouxe à luz o rebento Ulisses, perfeitamente alinhado ao espírito desse tempo trepidante, veloz, caótico e fragmentado, onde tudo que é sólido desmancha no ar. O livro, como um recém-nascido, procurou seu lugar no mundo aos berros. E cumpriu as promessas do pai-parteiro de abalar as convenções literárias.
Joyce já era escritor consagrado àquela altura, por Dublinenses (1914) e Retrato de um artista quando jovem (1917). Mas ele aspirava à glória em vida. Desde quando começou a gestar Ulisses, ele tomou a decisão radical que muitos replicam até hoje: escrever para o público ou para os iniciados? A escolha foi anunciada, com uma clareza desconcertante, na célebre frase: “Coloquei tantos enigmas e quebra-cabeças que manterão professores ocupados durante séculos, argumentando sobre o que eu quis dizer, e essa é a única maneira de garantir a imortalidade de alguém” (grifo meu).
Salvo engano, é uma confissão clara: o livro foi escrito para a comunidade acadêmica latu senso, capaz de legitimar uma obra de arte per omnia saecula saeculorum. Naturalmente, é um direito do autor trocar o amor instável dos leitores pelo reconhecimento supostamente imortal da irmandade. Ulisses concentrou a carga simbólica dessa clivagem. E se tornou o obscuro objeto do desejo da intelectualidade acadêmica.
Mas, afinal, o que contém a enigmática obra?
Penso que o romance pode ser visto como uma tese: um tratado empírico sobre a modernidade na literatura e, também, um manual prático do programa modernista. Uma “gramática” da modernidade literária. E, como “gramática”, sua leitura nada tem de prazerosa, exceto para os “gramáticos”. Como romance, em si, ele se frustra, apesar de suas proezas técnicas. Sofre de celulite textual: em meio a sacadas geniais, poéticas, engraçadíssimas, abusa da exibição de virtuosismo, das acrobacias linguísticas, afogando-se na enxurrada de detalhes insignificantes, de erudição exibida, do localismo hiper-realista, dos truques, trocadilhos, neologismos, referências históricas e, sobretudo, de charadas irrelevantes. A principal inovação da narrativa — o uso de estilos diferentes a cada capítulo ou episódio, tomados de empréstimo às fontes mais diversas — termina secundarizada. O celebrado fluxo de consciência tenta reproduzir com fidelidade milimétrica o jorro de pensamento dos personagens, em “tempo real”, abolida a mediação do autor, numa mixórdia exasperante. O texto parece ter a pretensão de ser não a representação da coisa, mas a própria coisa e tenta imitar de forma fotográfica o pensamento em ação. É a busca da mimese perfeita, um eletroencefalograma feito de palavras.
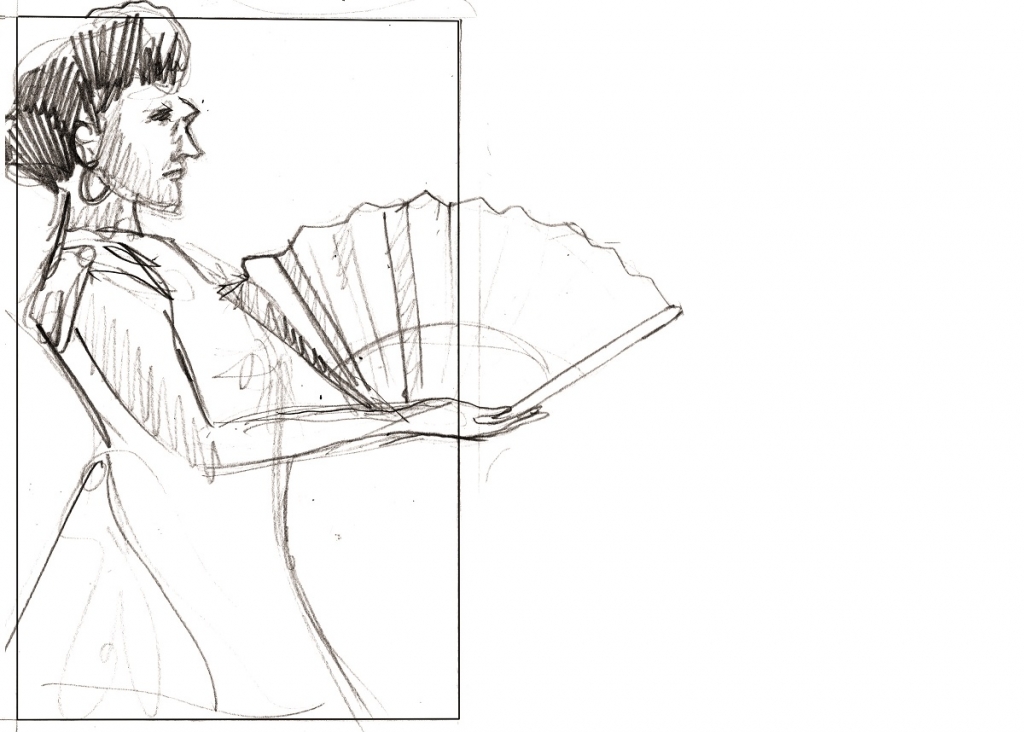
Ulisses é um estranho livro que, como um eletrodoméstico, precisa de um manual de instruções para ser lido.
O mito
O mito do livro precedeu à sua própria publicação. Ao contrário de um Kafka, cuja baixa autoestima em nada ajudou no reconhecimento da revolução detonada por sua prosa, Joyce pendia para a megalomania. Tinha plena consciência de seu valor e tratou de alardeá-lo sem pudores pequeno-burgueses. E contou com padrinhos poderosos, entre os quais, como se sabe, se destacam os grandes poetas e críticos Ezra Pound e T. S. Eliot.
Ulisses já era um sucesso, antes de ser publicado. As amostras publicadas nas revistas culturais The Egoist (Inglaterra) e The Little Review (EUA) e a intensa badalação dos admiradores do genial irlandês criaram uma recepção prévia muito favorável entre a elite literária. Após sua publicação, veio a crisma: o influente Pound, em célebre artigo para a revista The Dial, chamou-o de “super-romance” e foi categórico: “Todos os homens devem se unir para louvar Ulisses; aqueles que não o fizerem, contentem-se com um lugar nas ordens inferiores dos intelectuais”. T. S. Eliot, tão respeitado quanto o colega, escreveu, solenemente: “Considero esse livro como a expressão literária mais importante da atualidade, um livro perante o qual todos temos uma dívida e do qual nenhum de nós pode se subtrair”. Outra sumidade, W. B. Yeats, arrematou, consagrando o conterrâneo Joyce: “o escritor mais original e influente de nosso tempo”. A ação da censura, em sua burrice ontológica, deu uma força: catando menções e alusões a sexo e práticas escatológicas, os censores baniram a obra durante anos em vários países, gerando o infalível efeito propagandístico: o irresistível charme do fruto proibido.
Por fim, Joyce, manejando artifícios de marketing hoje usuais, propalou secretas conexões entre o Ulisses irlandês e a Odisseia grega. Isso fez com que, apesar da clave irônica da prosa, uma legião de caçadores da arca joyceana perdida se esfalfassem na busca daquela associação. O mito se alimenta do que se sabe sobre ele e, sobretudo, do que não se sabe. Durante oito anos, o malvado do Joyce deixou os hermeneutas enlouquecidos, procurando pistas de Homero na Irlanda. Em 1930, achou que era tempo de reavivar as curiosidades e autorizou o amigo Stuart Gilbert a publicar um roteiro de leitura. Ora, quem ousaria questionar tal arquitetura gótica?
Caiu a ficha:
— Ah! — Como alguém podia não ter compreendido que um charuto fedorento num bar de Dublin era a ponta incandescente da lança com que Odisseu vaza o olho do Ciclope?
— Oh! — Como não se viu logo que aquele bêbado nacionalista de ego gigantesco, politicamente caolho por seu fanatismo, era o próprio Polifemo?
— Por Zeus! — Como não entendi que quando Bloom passa entre Stephan Dedalus e Buck Mulligan, bêbados e à beira de uma briga, está a navegar perigosamente entre o rochedo Cila e o redemoinho Caribde?
Antes da providencial boia de salvação, muita gente boa havia naufragado naquele pélago revolto. Até Edmund Wilson confessou, candidamente, n’O castelo de Axel, haver fracassado, antes de ler o tal roteiro, em encontrar as ruínas do Reino de Ática na República de Eire. A obscuridade erudita seria o ópio dos intelectuais? Ao longo do tempo, a aura do romance só fez aumentar, alimentada por estudiosos encantados com sua própria sagacidade. Nosso primeiro tradutor do livro, Antônio Houaiss, observa em As obras primas que poucos leram: “Depois dele o romance estaria fadado a morrer, porque teria atingido tal clímax que daí por diante tudo seria declínio”. Os mais radicais decretaram o fim da Literatura: après Joyce, le déluge.
A recepção da obra na academia, apesar de tímidas objeções de Virginia Wolf, Evellyn Waugh, George Bernard Shaw, foi como um tsunami ao qual era impossível se contrapor. O caso Edmund Wilson é significativo. Ele faz sérios reparos técnicos ao texto, flagrando “excesso de planejamento”; “virtuosismo desconcertante e capaz de confundir”; recursos “totalmente inadequados à situação”, opções “de todo indefensáveis artisticamente falando”, “feitos irrelevantes”, trechos “opacos e desconvidativos”, “pura e fantástica pedantice”. Acusa o autor de exageros e cita uma curiosa estatística pela qual “160 páginas deliberadamente tediosas constituem peso morto excessivo mesmo para os brilhantes arroubos das outras 199”. E lamenta que Joyce “quase sepultou a história sob o virtuosismo dos artifícios técnicos”. Mas Wilson se rende ao clima dominante e praticamente pede desculpas pelas objeções, concedendo que mesmo os trechos que criticou “contribuem com algo valioso para o Ulisses”. Por fim, destaca o “surpreendente gênio de Joyce” e consagra-o como “o grande poeta de uma nova fase da consciência humana”.

Pelos tempos afora, gerações de professores, críticos, teóricos, escritores — entre os quais pesos pesados como Samuel Becket, Roland Barthes, Michel Foucault, Jacques Derrida — nutriram o mito. Estava definitivamente implantada a Era da Teoria. As interpretações não tinham limite. A reputação da obra e o prestígio do autor alcançaram as alturas do Olimpo: um estudioso atual adverte os incautos de que aquela prosa labiríntica pode ser, em alguns casos, “intencionalmente mal escrita”. Ou seja, Joyce tinha a capacidade de escrever certos por linhas tortas. Quem mais pode fazer isso?
Delírios interpretativos
Jorge Luis Borges, em entrevista à Paris Review, fala em mistificação: “Acho que Eliot e Joyce queriam que seus leitores ficassem mistificados e, assim, se preocupassem em descobrir o sentido do que eles tinham feito” (grifo meu). A primeira mi(s)tificação, penso eu, tem a ver com as referências à Odisseia. A começar pelo título, a intenção irônica é cristalina: o modelo épico não cabe na modernidade. Seus protagonistas são anti-heróis, do Odisseu corno à Penélope adúltera, passando por um Telêmaco ambicioso. Os estudiosos dividem-se entre os que enxergam mínimas correlações mecânicas entre a Odisseia e o Ulisses e os que argumentam haver Joyce apenas tomado a epopeia como quadro referencial para a estrutura ao texto. Antônio Houaiss encontrou apenas “filamentos de conexão” entre as obras. José Maria Vilaverde, tradutor do Ulisses para o espanhol, considera as referências apenas andaimes para a construção da obra: “É inútil buscá-las no texto”. Mas a gincana não parou.
Exemplo 1: A miragem da letra O
No brilhante episódio em que a deambulação de Leopold Bloom o leva à praia, a personagem central é Gertrude McDowell (Gerty), uma donzela safadinha. Ela está reclinada no areal conversando com amigas, quando explode um show pirotécnico. O carente Leopold Bloondão se masturba olhando as pernas de Gerty. O professor Declan Kiberd, autor da eruditíssima introdução à mais nova edição do livro entre nós, engendra uma extravagante ilação: “… o êxtase de Bloom ante a visão das pernas de Gerty McDowell é capturado pelo crescendo de sons em ‘O’”... Coloquemos, porém, uma lupa na parte crucial do texto referido:
And Jacky Caffrey shouted to look, there was another and she leaned back and the garters were blue to match on account of the transparent and they all saw it and they all shouted to look, look, there it was and she leaned back ever so far to see the fireworks and something queer was flying through the air, a soft thing, to and fro, dark. And she saw a long Roman candle going up over the trees, up, up, and, in the tense hush, they were all breathless with excitement as it went higher and higher and she had to lean back more and more to look up after it, high, high, almost out of sight, and her face was suffused with a divine, an entrancing blush from straining back and he could see her other things too, nainsook knickers, the fabric that caresses the skin, better than those other pettiwidth, the green, four and eleven, on account of being white and she let him and she saw that he saw and then it went so high it went out of sight a moment and she was trembling in every limb from being bent so far back that he had a full rung through the ages. And then a rocket sprang and bang shot blind blank and O! then the Roman candle burst and it was like a sigh of O! and everyone cried O! O! in raptures and it gushed out of it a stream of rain gold hair threads and they shed and ah! they were all greeny dewy stars falling with golden, O so lovely, O, soft, sweet, soft!
O trecho é notável, transmitindo alternadamente o espetáculo de fogos de artifício e o clima entre Gerty e Bloom, sincronizando a explosão de um foguete com o gozo que “jorra como um fluxo de fios de cabelos de uma chuva dourada”. Creio que jamais uma ejaculação foi descrita dessa forma. Porém não existe nessa passagem nenhuma prevalência da quarta vogal, apesar das muitas exclamações tipo “O!” ou “look!” Dei-me a pachorra de contar as vogais: são 130 “ee”, 104 “aa” e 76 “oo”, além de 54 “ii” e 27 “uu”.

Exemplo 2: o caso da calcinha azul
O mesmo episódio, por sinal dos mais brilhantes, ensejará uma interpretação tirada a fórceps. Gerty deixa entrever languidamente sua calcinha azul e alguns exegetas viram entre as pernas da moça… a bandeira da Grécia! Mas o que diz a prosa, saborosamente jocosa, parodiando a linguagem das revistinhas para senhoras? A cor da calcinha é explicada claramente por uma superstição de moçoila casadoira: Gerty está de azul porque a cor dá sorte, inclusive para as noivas, e ela está louca pra casar e só pensa naquilo. Cadê a Grécia?
Exemplo 3: o enigma da batata
Ricardo Piglia dedica longo ensaio a decifrar uma enigmática batata no bolso da bunda de Bloom, quando ele aparece pela primeira vez. Sai procurando o legume por todo o texto. Encontra-o 167 páginas adiante, quando Bloom coloca no bolso um sabonete. E novamente, na cena do hospital, onde se ouve uma algaravia de várias vozes e alguém diz que “batata é bom pra reumatismo”. O legume murcho aparece de novo na cena do bordel, nas mãos da jovem puta Zoe Higgins e Bloom explica ser um “talismã, uma herança”. Eureca! Piglia conclui: o portentoso enigma da batata é uma referência à “tradição irlandesa que Bloom herdou da mãe: serve para curar dores reumáticas”. E daí?
Exemplo 4: a oferenda
Logo que somos apresentados ao protagonista, conhecemos seu lado gourmet: ele sai cedinho, compra, prepara e come rins fritos no café da manhã, aparentemente um acepipe da culinária irlandesa. O tradutor Caetano W. Galindo, em Uma visita guiada ao Ulisses de James Joyce, assinala na prosaica cena uma referência sutil ao poema homérico: “O rim queimando e fumegante evoca os sacrifícios dos gregos de tempos homéricos (…). Logo, feita sua oferenda, Odisseu pode comer”.
Os casos apresentados são apenas exemplos pinçados. Abundam pesquisas empenhadas em decifrar uma Pedra de Roseta em cada dobra do texto. Ulisses é um estranho livro que, como um eletrodoméstico, precisa de um manual de instruções para ser lido.
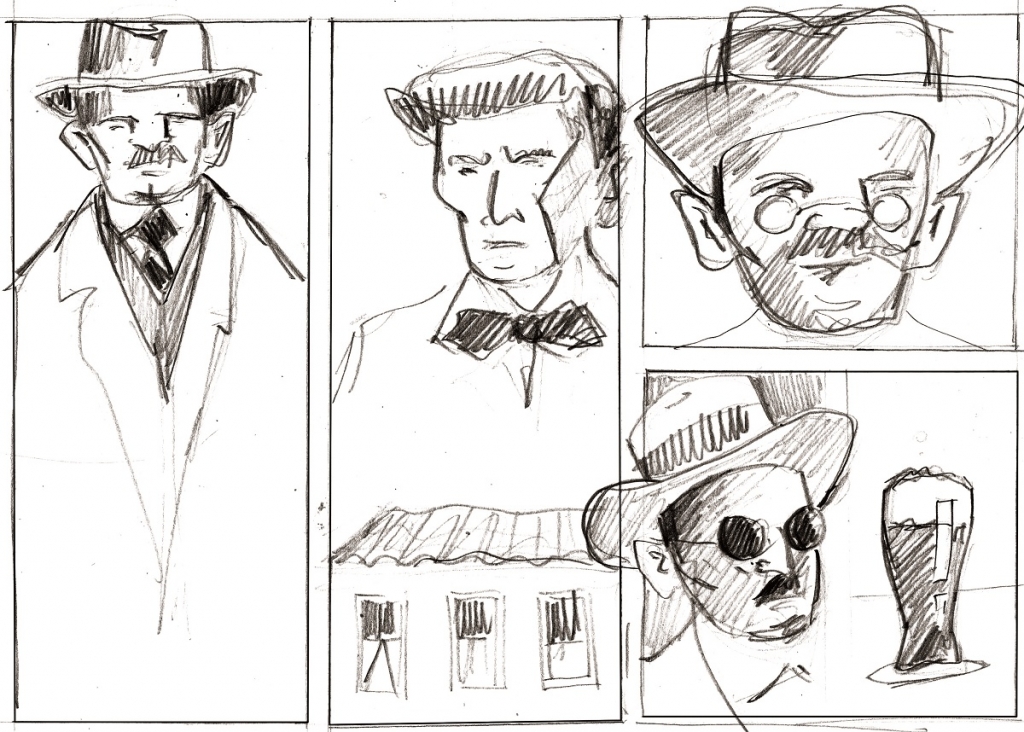
A exclusão do leitor
O efeito colateral mais funesto do pacto Joyce/academia foi a expulsão do leitor comum do Éden literário. Os epígonos passaram a escrever apenas para o público especializado. E não escondem, como o Mestre, um desdém sesquipedal a esse ser sem rosto que, em priscas eras, foi um dos vértices do triângulo amoroso: Autor-Obra-Leitor. “Joyce não facilita a vida do leitor. Na realidade, esforça-se para dificultá-la” — registra o professor Sérgio Luiz Prado Bellei, em Hipertexto e literatura, citando críticos importantes. Leo Bersani adverte os incautos: “Ulisses é um texto para ser decifrado, mas não lido”. O professor Wayne Booth esclarece: “Em todos os guias de sala de aula está claro o pressuposto de que a sua obra tardia, Ulisses e Finnegans Wake, não pode ser lida; pode apenas ser estudada”. E o estudioso Hugh Kenner desvela intenções sádicas em J. J.: “Sua postura é de alguém que se diverte com o infortúnio do leitor que tenta decifrar o texto”. Santos numes!
Daí o constrangimento dos leitores não profissionais por carregarem o pecado de não haver lido Ulisses. Para esses irmãos, invoco São Jorge Luis Borges:
Eu (como o resto do universo) não li Ulisses. (…) Ninguém ignora que para os leitores desprevenidos, o vasto romance de Joyce é indecifravelmente caótico. (…) A mera notícia dessas imperceptíveis e laboriosas correspondências [com a Odisseia] bastou para que o mundo venere a severa construção e a disciplina clássica da obra. (“Fragmento sobre Borges”, revista Sur, B.A., nº 77, 1941).
Roddy Doyle, o escritor irlandês contemporâneo mais conhecido hoje, autor de Paddy Clarke Ha Ha Ha (The Man Booker Prize 1993), diz sobre o clássico de seu conterrâneo: “muito longo, monótono e superestimado”. E mais: Ulysses poderia ter recebido uma boa editada.” Na mesma linha, o crítico e tradutor José Maria Valverde, mesmo ressaltando a “revolução linguística” joyceana, sugeriu que se podia jogar fora “uma terça parte da obra” por seus excessos e inchaços.
Quanto a mim, insignificante leitor, após compreender que a colossal obra não foi escrita para ser lida, mas dissecada, ouso, sem culpa nem constrangimento, soltar meu brado rouco: Chega! Adeus, Ulisses. Sou um leitor livre.










