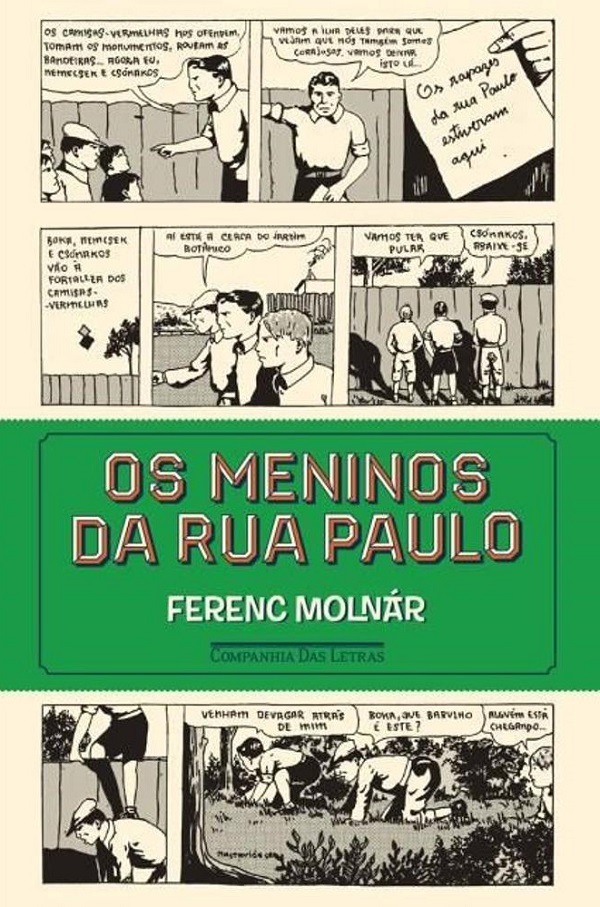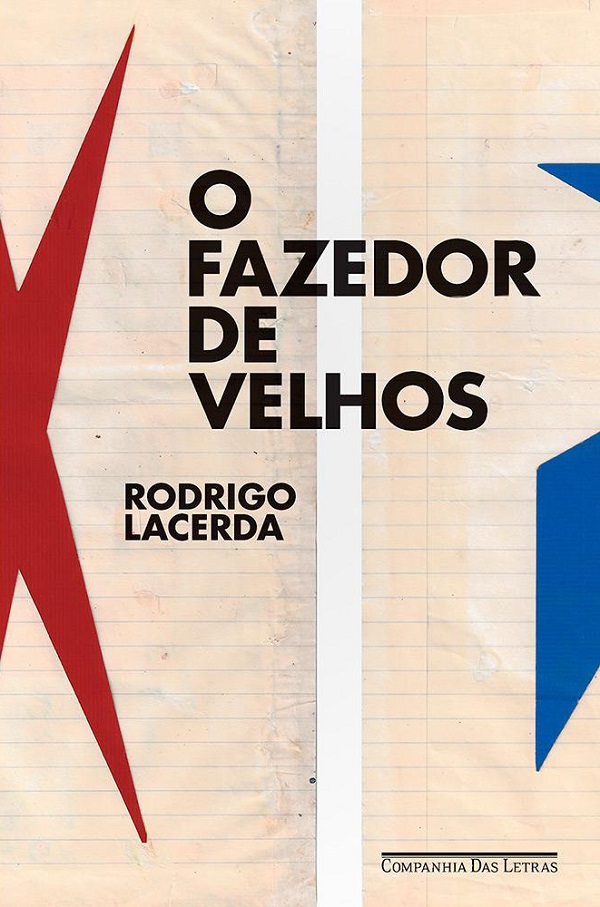Cresci em uma rua de uma quadra só. Rodrigo de Brito, transversal entre as ruas Álvaro Ramos e Arnaldo Quintela, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Muito antes dos programas da prefeitura, a criançada — eu incluída — “fechava” a rua aos domingos e feriados. Por fechar, entenda: colocar o gol do campinho improvisado de futebol no asfalto bem na entrada da rua, transformando a vida daqueles que caíssem na besteira de tentar entrar com o carro em um verdadeiro inferno. Éramos mestres do corpo-mole, da operação-padrão, da operação-tartaruga. Inventamos, tenho certeza absoluta, a estratégia de vencer pela desistência do adversário. O adversário, no caso, era o adulto. Qualquer adulto. Éramos uma turma nem um pouco coesa, bastante heterogênea, com muitas brigas, alguns namoros e nenhuma noção. Já lá se vão uns bons 35, 40 anos. Somos amigos até hoje e mantemos contato através de um grupo no WhatsApp. Ainda nos faltam coerência e noção, mas pelo menos chegamos em 2017.
(Re)li Os meninos da Rua Paulo, de Ferenc Molnár, com sede. Procurava tanto pelo livro que li na infância quanto pela minha infância, a minha rua Paulo/Rodrigo.
Vou partir do pressuposto que o leitor do Rascunho não precisa de mais uma resenha falando sobre como o livro mais famoso da Hungria tem personagens tão emblemáticos, sobre como os valores humanos são instituídos na infância, sobre como as vivências desses meninos podem ser extrapoladas para qualquer situação humana, etc. Não, eu não acho que o nosso leitor, aqui, do Rascunho, precise dessa crítica wikipédica. Darei, então, um salto e falarei de problemas que vejo na Rua Paulo. Fica a ressalva, entretanto, de que uma leitura não exclui a outra, de que eu não sou dona da verdade e de que o livro tem qualidades inquestionáveis.
A tradução de Os meninos da Rua Paulo é de Paulo Rónai e eu estou absolutamente convencida de que esse é um daqueles casos em que um bom tradutor melhora o livro. Nesse caso em específico, um tradutor que melhora qualquer livro. Ainda assim, em pleno 2017, causa estranheza a escolha de palavras como usurário, apalpadelas e patavina ou expressões como arfavam-lhe as têmporas. Apesar de corretíssimas e de serem usos exemplares da língua pátria, parece-me pouquíssimo provável que sejam familiares do leitor da faixa etária à qual o livro se destina. Sim, eu sei que a tradução é antiga. Sim, eu sei que as editoras têm pudores em mudar uma tradução tão famosa, importante e competente.
Não vou nem entrar aqui na questão de que a única personagem feminina do livro inteiro é a mãe do menino Nemecsek e mesmo assim, só aparece no momento de sua morte. Até porque, em 1906 provavelmente o livro não seria nem publicado se mostrasse meninas brincando na rua lado a lado com meninos. Aliás, esse negócio de personagem principal da idade do leitor, com o qual o leitor se identifica, morrer é bem complicado, mas também não vou entrar nisso. O que me chama mais atenção negativamente é o quanto o livro é datado. Um grupo só de meninos, que se relaciona de forma militarizada, que mastiga betume (oi?) e que briga na rua é coisa que acabou lá pelos idos de 1950.
Não podemos esquecer, obviamente, o contexto histórico da Rua Paulo. Estamos falando de uma Hungria com a Primeira Guerra Mundial batendo à sua porta. Compreende-se, então, a militarização dos meninos. Compreende-se o patriotismo, o ufanismo, etc.
Olharam para o terreno e para as pilhas de lenha, iluminadas pelo sol sereno da tarde primaveril. Via-se nos olhos que amavam aquele pedacinho de terra e estavam prontos para defendê-lo. Era uma espécie de patriotismo, como se, ao gritarem “Viva o grund!”, tivessem gritado “Viva a pátria!”. Os olhos brilhavam, os corações transbordavam. (Os meninos da Rua Paulo, p. 55)
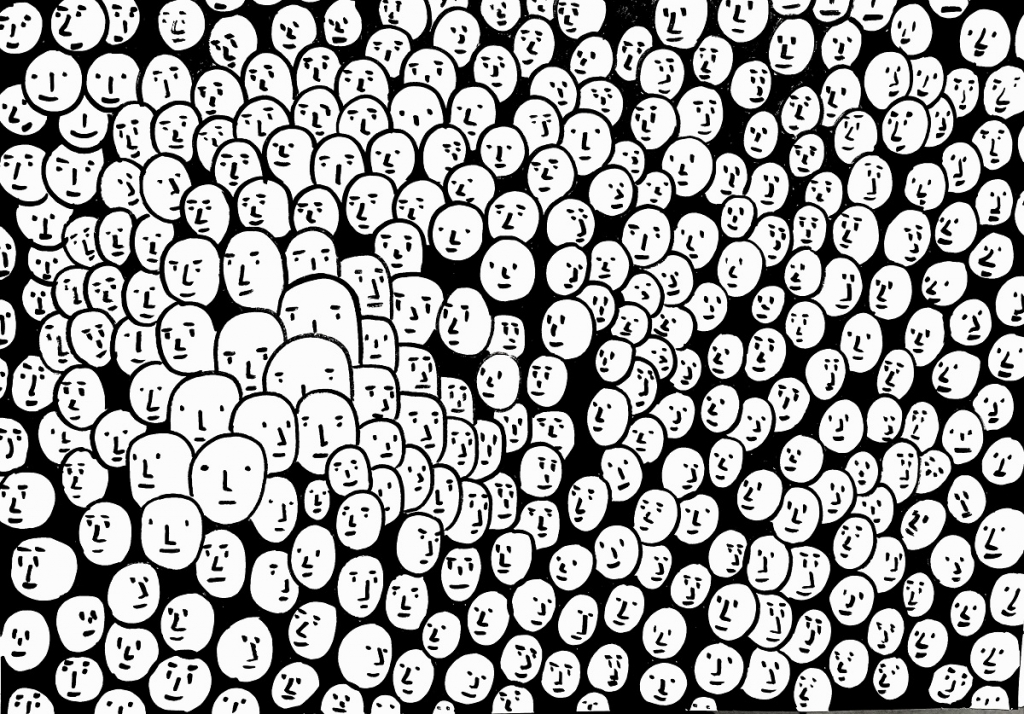
O que me chama mais atenção negativamente é o quanto o livro [Os meninos da Rua Paulo] é datado. Um grupo só de meninos, que se relaciona de forma militarizada, que mastiga betume (oi?) e que briga na rua é coisa que acabou lá pelos idos de 1950.
Contos de fadas
Os meninos da Rua Paulo bebeu na fonte dos contos de fadas dos irmãos Grimm (Jacob, 1785-1863; Wilhelm, 1786-1859), Hans Christian Andersen (1805-1875) e, claro, Lewis Carroll (1832-1898). Ao contrário dos contos de fadas, na Rua Paulo não temos a presença do sobrenatural, do mágico, do mitológico. Entretanto, temos os outros elementos: núcleo problemático existencial, rituais de iniciação, travessia, encontro, conquista, etc. É, portanto, uma história moralizante. Estamos no início do século 20 e as histórias moralizantes ainda são o padrão para os jovens leitores. Essa não é exceção. Temos até uma certa redenção cristã oferecida ao grupo com a morte de Nemecsek.
Leio Os meninos da Rua Paulo e, mesmo não me importando com o festival de mesóclises, só consigo entender o sucesso que faz ainda hoje pela via do saudosismo. E olha que sofro desse mal. Como contei para vocês no começo, brinquei na rua. Sei o que é uma corrida de carrinho de rolimã, passar cerol na linha da pipa, colar rabiola de pipa, empinar pipa… a turma gostava muito de pipas. Torci por amigos no futebol semanal, andei de bicicleta na rua com cachorro correndo do lado. Tinha conta no jornaleiro da esquina que deve — espero — ter comprado uma pequena mansão só com as figurinhas vendidas pro “meu” pessoal. Fazíamos piqueniques na escada do prédio, festinhas no terraço, festinhas em garagens, festinhas na rua mesmo. Tínhamos bloco de carnaval e, pasme, querido leitor, esta que vos fala já foi até porta-bandeira-mirim. Tenho motivos para o saudosismo. Entretanto, me aproximo muito mais de Capitães da areia, do nosso (de fato amado) Jorge Amado, do que dos meninos que formam um “exército” no terreno baldio em Budapeste.
A sacralização tem desses problemas. Não lemos mais o que está de fato escrito, lemos as camadas e camadas de significados e interpretações que décadas de consagração depositaram sobre o livro.
Nem todos os clássicos são assim. Shakespeare, cronologicamente mais distante, está bem mais vivo. Bem mais próximo.
Passagem de formação
Shakespeare, aliás, é o estopim da história narrada em O fazedor de velhos, o delicioso livro de Rodrigo Lacerda. A passagem que intitula o livro (diretamente ligada ao Shakespeare, tentando aqui não dar spoiler) também é da aventura de um menino, também trata, assim como Os meninos da Rua Paulo e Capitães da areia, de ritos de passagem, de momentos de amadurecimento. É uma passagem de formação.
O resumo no site da Companhia das Letras diz o seguinte:
O fazedor de velhos conta a história de Pedro, um garoto inteligente que está às portas da vida adulta. Com o amadurecimento, chegam questões fundamentais: que profissão escolher? Como lidar com os amores frustrados, os amigos deixados pra trás, os sentimentos confusos que teimam em perturbar? Quem guia o garoto em meio a esses dilemas é Nabuco, um professor experiente, excêntrico e misterioso. Insatisfeito com a faculdade de História, Pedro encontra na literatura um destino possível. Mas essa não é uma descoberta simples — e para chegar até ela é preciso trilhar um caminho de perda e sofrimento.
Não sei quem faz esses resumos, mas o livro não é um caminho trilhado de perda e sofrimento. É uma história que, apesar das perdas que sim existem, escolhe a alegria, escolhe o riso, a felicidade, a vida. O livro é Rodrigo Lacerda nos mostrando como se conta uma história com personagens suficientes (nem poucos, nem muitos, exatos), que sejam complexos, heterogêneos, falhos, humanos, ricos, interessantes, como a vida é. Ou deveria ser.
Anteriormente, em Shakespeare para todos, publicado na edição 182 deste Rascunho, eu elogiei o Lacerda. Então acho bom explicar que sequer o conheço. Não é meu amigo, não é conhecido, não é amigo de amigo, não é vizinho, não é conhecido de conhecido, não passeia o meu cachorro, não estaciona o carro do lado do meu, não é primo do farmacêutico, nada. Não sei nem em que planeta mora. Não tenho absolutamente nenhum contato com o autor. Fora, claro, o fato dele ser muito, muito bom e, portanto, gostar de lê-lo.
O fazedor de velhos não é vendido como um livro para jovens leitores. E nem deveria, porque eu, de jovem, não tenho nada. Entretanto, me sinto uma mãe muito melhor dando esse título para o meu filho do que Os meninos da Rua Paulo.
Voltando, O fazedor de velhos tem passagens maravilhosas como
Na terceira noite, fomos ao Teatro Municipal. Sim, pois, apesar das diferenças, tínhamos gostos em comum. Sorvete era um deles. Nós dois achávamos sorvete, sem favor, a melhor sobremesa da história da humanidade. Das hecatombes em homenagem aos deuses gregos, passando pelas orgias dos imperadores romanos, até os menus-degustação dos milionários do mercado financeiro, nenhum produto do hedonismo humano jamais ficou tão gostoso quanto sorvete. Sorvete, no nosso modesto entender, era compulsão.
Além de gostar de Shakespeare, pelo visto tenho mais esse ponto em comum com o Lacerda (ou, pelo menos, com um personagem dele): o sorvete. Se for de limão siciliano, então, vixe.
O fazedor de velhos não é vendido como um livro para jovens leitores. E nem deveria, porque eu, de jovem, não tenho nada. Entretanto, me sinto uma mãe muito melhor dando esse título para o meu filho do que Os meninos da Rua Paulo. Não quero meu filho pensando que se relacionar com seus amigos como se estivesse em um exército é uma coisa boa. Entretanto, a ideia de ele usar Shakespeare para conseguir o que quer me é saborosa. A noção de que ele conquista seu espaço — e seus afetos — através do pensamento, do raciocínio, da inteligência, da persistência e da simpatia é muito mais importante (e próxima) para mim do que conceitos como honra, hierarquia, etc.
Vou resistir aqui bravamente a falar de como as personagens femininas de Lacerda são fortes, bem resolvidas, profissionais, independentes, tudibom. Vou resistir, vocês vão ver.
Falarei das menções carinhosas que Lacerda faz a nomes canônicos da literatura mundial a partir do ponto de vista do menino.
Embora vivesse nesse ritmo, não sei como ele encontrava tempo para ler tal quantidade de literatura. Desde que me entendo por gente, lembro dele com um livro na mão. Os do Eça, que, como já disse, eram os seus preferidos, e uns outros romances mais complicados, dos quais eu nem chegava perto. Eram imensos e tinham 450 mil personagens, todos com um monte de nomes pra lá de estranhos. Os próprios autores tinham nomes esquisitos e difíceis de pronunciar, como Dostoiévski, Turgêniev, esses bichos. “Os russos”, meu pai me ensinava, rindo, e eu achava que aqueles livros, como vinham da Rússia, eram coisa de comunista (uma vez, num almoço de família, meu avô e meu pai tinham desandado a discutir política; terminaram aos berros, e me lembro do meu avô chamando meu pai de “comunista!”. Então, pensei…)
Como não amar?

Lacerda, entretanto, brilha mesmo é quando fala de Shakespeare.
O Rei Lear é uma peça que tem duas histórias, ambas duplamente paralelas. Explicando: as duas histórias são paralelas porque acontecem ao mesmo tempo, e também porque falam dos mesmos assuntos.
A primeira é a de um rei velho que decide se aposentar e dividir o reino entre suas três filhas. A segunda é a de um barão que tem dois filhos, um deles é legítimo, filho da baronesa, e o outro, bastardo, ou seja, filho do barão com alguma mulher que não sua esposa.
O rei, já de miolo meio mole por causa da idade, mete os pés pelas mãos na divisão dos seus domínios e poderes. Dá tudo para as duas filhas puxa-sacos, que no fundo são ultramalvadas, e escorraça da corte a única filha que o ama de verdade. O barão, por sua vez, se deixa enganar pelo filho bastardo, que, para ficar com a herança, joga o pai contra o filho legítimo.
Quando entendi como funcionava essa estrutura de apoio duplo, tudo ficou mais fácil. Parei de confundir os personagens e de me perguntar o tempo todo qual relação um acontecimento tinha com outro. Ao longo da peça acontecem mil e um desdobramentos, mas partem sempre dessas duas tramas básicas. Enquanto assistia ao vídeo, fui ficando animado.
Enquanto isso, ainda damos a história de um grupo de meninos militarizados que mastigavam betume (uma massa usada por vidraceiros, que contém cal) para jovens leitores.
Juntamos isto, Sr. Professor, durante um mês. Eu o mastiguei durante uma semana, mas então estava menor. O primeiro pedaço foi trazido pelo Weiss, e foi com aquilo que fundamos a sociedade. O pai dele tinha andado com ele de fiacre, e ele então retirou o betume da portinhola. Ficou até com as unhas sangrando. Depois, um dia, a janela da sala de música se quebrou e eu vim de tarde e esperei a tarde toda que o vidraceiro chegasse, e às cinco ele chegou, e eu lhe pedi que me desse um pouco de betume, e ele nem me respondeu, porque não sabia responder: tinha o focinho cheinho de betume. (Os meninos da Rua Paulo)
Ou, ainda, damos um romance em que crianças apanham dos pais, como se fosse a coisa mais aceitável do mundo, para adolescentes do Fundamental II:
— E me deu uma bofetada, e depois outra, porque me perguntou onde tinha roubado, e eu não quis dizer, porque me teria dado uma terceira, e então disse que foi Kolnay que me tinha dado a estampilha, e então ele me disse: “Devolva-a imediatamente a Kolnay, pois ele deve tê-la roubado”, e eu a devolvi ao Kolnay, e é por isso que estamos agora com duas estampilhas
Ah, mas você está comparando um texto de 1906 com um de 2017, me dirá o nobre leitor. Então, se você, querido leitor, vai defender fiacre e estampilha, permita-me defender Rei Lear, mencionado por Lacerda de forma compreensível e bem humorada.
Rei Lear teve sua primeira apresentação em 1606, trezentos anos antes da publicação de Os meninos da Rua Paulo.
Uso aqui a tradução do Millôr Fernandes, para ficar à altura de Paulo Rónai.
LEAR: Qual é a tua idade?
KENT: Não sou tão novo, senhor, que ame uma mulher pelo seu canto;
nem tão velho que me deixe levar pelo seu pranto:
carrego nas costas quarenta e oito anos.
(Rei Lear, Ato I, Cena IV)
Em nome da justiça, mostro também um trecho com substantivos errrr… datados.
OSVALDO: Bom dia, amigo; pertences a esta casa?
KENT: Pertenço.
OSVALDO: Onde podemos botar nossos cavalos?
KENT: No pântano.
OSVALDO: Por favor, me diz, bom amigo.
KENT: Eu não sou teu amigo.
OSVALDO: Pois então também não sou teu.
KENT: Se eu te pegasse ali no curral eu te faria meu.
OSVALDO: Por que me tratas assim? Eu nem te conheço.
KENT: Mas eu te conheço, camarada.
OSVALDO: Por quem você me toma?
KENT: Por um canalha, um patife, um comedor de restos; um velhaco arrogante, estúpido, indigente, apenas com três roupas, não mais de cem libras e meias fedorentas, um filho da puta covarde, sem sangue no fígado, que foge da luta e se queixa à justiça; trapaceiro afeminado e sabujo. Um escravo que herdou apenas um baú, que presta qualquer serviço numa alcova, um alcoviteiro; no fim, uma mistura de canalha, mendigo, covarde, rufião, filho e herdeiro de uma cadela bastarda; a quem eu espancarei até que estoure em berros, se negar a menor sílaba destes títulos.
(Rei Lear, Ato II, Cena II)
Molnár é bom mas não é Shakespeare.
Reconheço que alcoviteiro, rufião e sabujo estão tão na moda quanto fiacre, mas garanto que o jovem leitor de hoje entende com muito mais facilidade o vocabulário de Rei Lear do que o de Os meninos da Rua Paulo. E, isso, só lembrando, é a peça que o personagem de Lacerda explica, não é o texto de O fazedor de velhos.
Rodrigo Lacerda é o fazedor de velhos, de jovens, de curiosos, de pesquisadores, de poetas e de leitores. Agradeço.