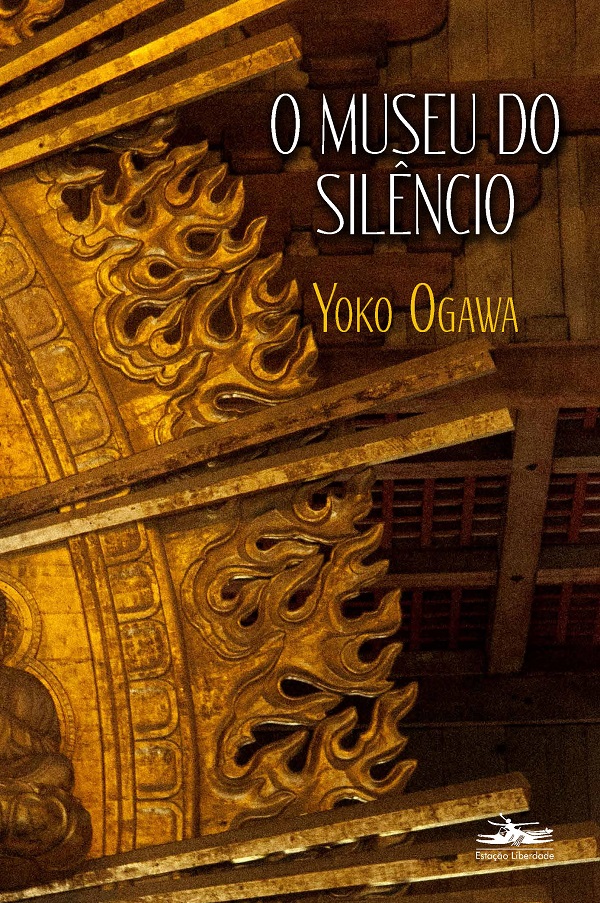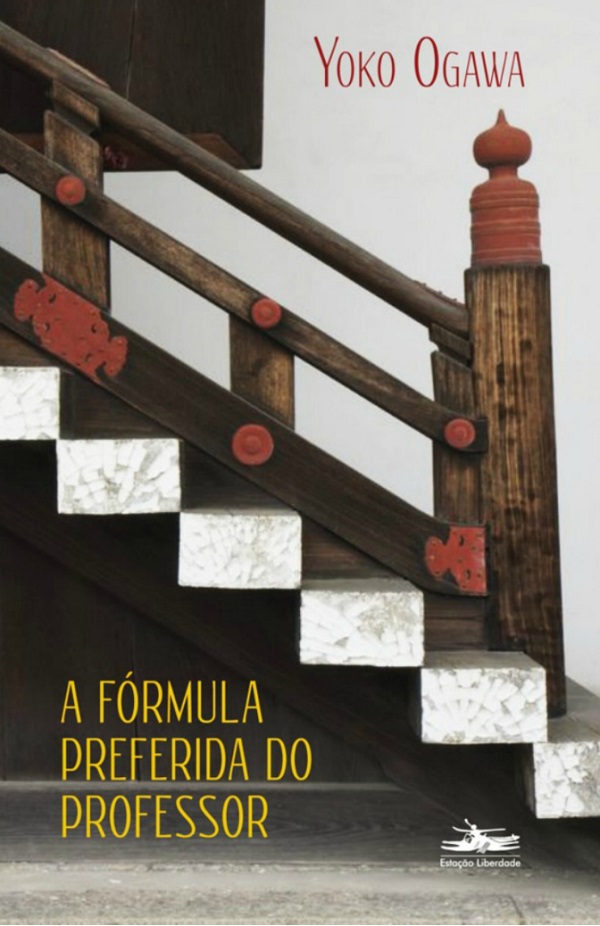Não é propriamente inédita a trama que faz o personagem principal mergulhar numa cidade isolada, povoada de figuras estranhas e situações incomuns, da qual não se consegue desvencilhar senão passando por reiterados percalços, mas o que distingue o romance O Museu do Silêncio, da japonesa Yoko Ogawa, é o tom com que o narrador relata os acontecimentos: as páginas estão permeadas de um olhar que rapidamente naturaliza o insólito. A voz que conta é de um museólogo. Ele foi contratado para organizar e expor as peças de uma coleção cuja temática é a essência dos mortos de uma pequena cidade. Ao longo dos anos, a responsável pela ideia, uma velha senhora de rabugice característica, roubou, não há outra palavra, um objeto, o mais representativo possível de cada falecido, guardando-os na lavanderia de seu antigo casarão. Dar continuidade à coleta era também tarefa do novo profissional.
Junto com a filha adotiva da velha e os dois empregados da residência, um jardineiro e a mulher, o sujeito, que assim como os outros segue inominado até o fim do livro, acaba se vendo num trabalho que, a despeito das partes maçantes, está cercado por incidentes singulares. Uma bomba explode no centro da vila, religiosos fazem voto de silêncio num mosteiro próximo, as cartas enviadas ao irmão nunca são respondidas, um festival glorifica o pranto, a velha baseia seus hábitos num almanaque místico — tudo contribui para uma tensão permanente, que só se aprofunda quando surge ameaça de novas bombas e mulheres começam a ser assassinadas tendo os mamilos arrancados, como outrora já havia acontecido na cidade. Além disso, a referência a O diário de Anne Frank, livro que o personagem conta ter levado à aventura logo no primeiro parágrafo, paira como um mau agouro.
Mas essa ambiência não é propriamente opressiva, porque o jogo de suspense tem seu contrapeso numa certa placidez. Singelas descrições da natureza aliadas a observações sobre o correr das estações do ano sublinham a beleza do lugar e a voragem do tempo; mas ali, nessa aparente banalidade, reside o trágico fato de que o personagem está sujeito a uma espécie de cativeiro sem grilhões. Além disso, o jardineiro e a filha da velha mostram-se bastante receptivos, levam-no a jogos de beisebol, conversam sobre a vida, apresentam curiosidades do lugar. Que propósitos não ditos têm essas distrações é indagação que persiste sobre a relação deles.
Não abalado por essa preocupação, o protagonista aparenta um afeto sincero pelos dois. Repara positivamente nos trejeitos da menina, desfruta de sua companhia quando ele vai comprar um presente para o sobrinho; ganha do jardineiro uma faca produzida por ele, delibera longamente sobre as reformas no estábulo para abrigar o museu. Entretanto, se esses mimos aproximam-nos do museólogo e nublam-lhe a percepção, nada é suficiente para escamotear ao leitor serem aqueles dois, de bom grado, parte de um museu que flerta com a ilegalidade mais aberta e talvez esconda as intenções mais espúrias. Eles, afinal, não são amigos, mas apenas simpáticos ameaçadores. O que, a princípio, os impediria de aumentar artificialmente a coleção do museu?
Inveja do assassino
A obtenção dos objetos não deixa de se revestir da dubiedade entre o inusitado e o natural que perpassa todo o romance. Roubar os mortos para expandir a coleção, igualmente presente no bizarro acordo firmado entre o homem e a velha, adquire contornos sempre perigosos. As implicações éticas disso, porém, pouco entram na equação. O embaraço do personagem encontra-se muito mais na boa execução das tarefas; enquanto isso, relegam-se os questionamentos que possam atrapalhar o museu — os comos ganham proeminência diante dos porquês.
Por isso, na página 102 ele afirma numa carta: “Se alguma coisa pode ajudar na coleta, acredito que seja um certo sentimento de veneração diante deste mundo envelhecido”. À página 154, sobre o resgate das peças ele reflete: “Todas as vezes eu hesitava, engolia a seco, minhas mãos tremiam. Esquecendo até mesmo de lamentar o morto, me quedava, imóvel”. No parágrafo imediatamente anterior, havia perguntado à velha sobre o que deveria trazer-lhe da pessoa morta: a angústia era, em verdade, com o próprio desempenho. Após invadir o apartamento da moça que teve o seio decepado, o pensamento dele, na página 158, torna-se: “Tive inveja do assassino. Dele, que recolhera aqueles dois pequenos pedaços de carne e simplesmente desaparecera com eles nas mãos”.
Outros episódios também são marcados por um ar de suspeição pouco questionado. É o caso da visita ao mosteiro. O museólogo e a moça são conduzidos até lá pelas mãos de um monge iniciante, que, por não ter confirmado os votos, pode ainda falar irrestritamente. A afabilidade do noviço contrasta com um universo de clausura e segredos. Já que nunca se expressam, também nunca denunciam o que podem presenciar, e as engrenagens que movem a vila continuam sem interferências ou interrupções. Um comentário do narrador deixa claro como funciona o mundo por lá: “[O] jovem […] não parecia incomodado com a roupa da menina [a roupa estava ao avesso], nem com a cicatriz em seu rosto [após a bomba]. Ele não demonstrava nenhuma grande surpresa, nem fingia indiferença, apenas aceitava aquela aparência como algo que estivera ali desde sempre”. A cada página, percebe-se que o museólogo, de algum modo, pertence àquela lógica de silêncios da qual, mesmo se quisesse, não poderia sair.
Cartas banais
As cartas endereçadas ao irmão, único contato que procura manter com a dinâmica exterior à cidade, longe de se valerem da intimidade que o meio possibilita para revelar a real consciência dos problemas que atravessa, enchem-se de pura trivialidade. Essas missivas repetem aqueles chavões comunicativos que pouco esclarecem. Na primeira delas, escreve: “Eu estou bem”. Após o atentado: “Tive apenas ferimentos leves, não se preocupe”. Ao mencionar a frequência com que tem de lidar com a coleta de itens: “Mas não precisa se preocupar”. Quando sublinhar brevemente que talvez sua estada já tenha se estendido ali tempo demais: “Mas não precisa se preocupar. Está tudo bem”. Verdade é que, a essa altura do livro, ele está sendo perseguido por dois policiais que o consideram suspeito das mortes. Não é sem justificativa que os oficiais foram nesse rumo investigativo. Pela natureza do trabalho que ele desenvolve, seus passos se confundem com os rastros do assassino.
Esses textos ao irmão, mesmo coalhados de superficialidades, são cruciais para entender o que está acontecendo porque atuam como a audição de nossa própria voz numa gravação ou o reflexo de um espelho no outro: deixam ver o mecanismo a que o próprio leitor foi submetido no restante da história. Tal modo circunspecto de se dirigir ao parente, minimizando os acontecimentos e ignorando outros, é também o que temos acesso quando o museólogo repensa os fatos naquele lugar. Trata-se de um narrador absolutamente não confiável.
O tema da museologia não é novo na obra de Ogawa. Já habitou três das narrativas fantásticas de Kamoku na shigai, midara na tomurai, publicado em 1998, com tradução para o inglês, mas ainda inédito em português. Ali o museu é devotado à tortura, e, em algum momento, encontra-se um tigre passeando nos jardins das mulheres que o fundaram. Não é, afinal, muito diferente deste romance originalmente lançado em 2000: fala-se agora da morte e ao redor dele perambulam um assassino e seus apetrechos mortíferos.