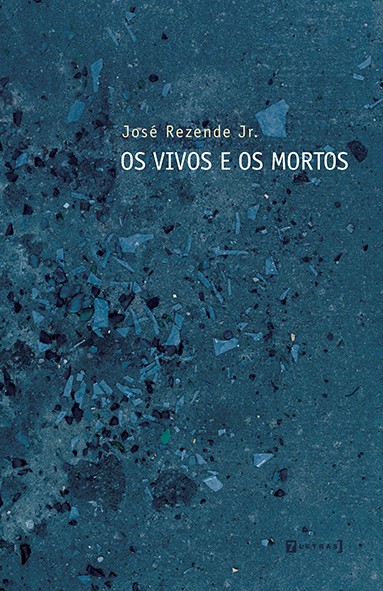Quando li, em 2010, Perguntei para o velho se ele queria morrer, ganhador do Prêmio Jabuti, de José Rezende Jr., encontrei um contista eficientíssimo, denso e enxuto, cuja produção trazia textos inquietantes e originais. (Um daqueles contos, em especial, Eu morrendo e você pintando as unhas de vermelho, é, em suas exíguas duas páginas, inesquecível história de amor).
Naquela aproximação, suspeitei que Rezende nos levaria, com técnica muito sólida, para o que, na alta literatura, Umberto Eco chamou de “efeito da grande ironia intertextual”.
Percebi, com tão pouco em mãos, que podia estar diante de um escritor que se exigia rigor no exercício da linguagem de modo livre e muito consciente — o que nem sempre ocorre em contistas contemporâneos. Para que serve a literatura senão transgredir, e, no caso deste autor, com suas histórias, descolar da nossa carne um mundo urbano/suburbano cheio de fissuras e horrores diários invisíveis? Depois daquele, Rezende publicou um livro de microcontos, que parece ser experimento sério em busca de narrar o essencial. Mas é no conto tradicional que Rezende brilha.
Agora, com a publicação de Os vivos e os mortos, o autor confirma seus temas, estilo e, sobretudo, provê de coerência um mundo ficcional ainda mais coeso — no qual dramas, crimes, tristeza, solidão e morte aparecem não apenas como busca de “material literário”, mas como força estética primordial para suas “fábulas urbanas”. (Aliás, título de um livro juvenil do autor.) E isso, claramente, sem o gosto por espalhafatosa inovação linguística nem apelo a leitores de festivais literários. Me parece bem mineiro esse contista mineiro.
Concentrado em registar a miséria humana, ainda que (talvez por isso mesmo) dissimulada ou invisível, Rezende, como Machado de Assis, parece não acreditar na gratuidade das ações humanas nem no ágape cristão. Investe, ao contrário, no registro da perversão, da maldade e na imperfeição dos sujeitos urbanos. Para isso, traz tortuosos personagens, dissonantes e maculados, cujas fraturas morais e ideológicas são expostas francamente. Talvez por isso, este autor tenha encontrado no gênero conto a medida ideal para sua literatura.
Ok, por certo leem-se muitos outros bons autores com a mesma temática urbana, algo noir, à la Rubem Fonseca ou Dalton Trevisan. Mas aqui é diferente: o autor não vai ostensivamente atrás de princípios originais de construção (estes, de tão repetidos hoje, deixam de ser originais). E essa estratégia de narrar, trazendo ao leitor certo susto e anticlímax, parece, afinal, voltar às origens do bom efeito de contar uma história para “ao menos” mostrar a vida.
Começa assim o primeiro conto de Os vivos e os mortos, Ulisses — a Odisseia (ou: Como a literatura salvou minha vida):
Eu não falei nada, não gritei assalto, não mandei calar a boca, eu só entrei e sem falar nada já fui matando a velha. Eu achei que ia ser fácil, que a velha de tão velha não ia nem achar ruim porque ela já tava mesmo perto de morrer, mas não, ela cravou as unhas nas minhas mãos enquanto eu apertava o pescoço dela, nem sei de onde saiu tanta força, ela me unhou como se fosse a última coisa que ela fazia na vida, e era mesmo a última coisa que ela fazia na vida, as unhas dela me tirando sangue, e no dia seguinte até deu pus.
Ao resenhista não cabe melhorar o texto com interpretações, e estou sempre atenta a essa verdade. Mas aqui, veja-se, o autor consegue efeitos estéticos e ideológicos vibrantes — e isso, repito, sem experiências formais mirabolantes, além da eficiente pontuação do monólogo interior. E quando o protagonista diz: “Tem cabimento tanta luta por um restinho só de vida?”, o mergulho do leitor é quase vertiginoso: lá está a iniquidade do crime, a reflexão perversa sobre a (inútil) longevidade e a autoabsolvição — com virtual eventual conivência da sociedade, à qual ele dirige a interrogação.
Quase todos os contos desta obra (como os do livro anterior) vão tirando o fôlego na frase curta, fria, direta, quase oral, perturbadora. Neste conto, Ulisses, o assaltante, mata a velha; ciente do pouco custo-benefício, leva da casa apenas uma medalhinha do Divino do pescoço e um livro em cuja capa viu escrito o seu próprio nome, Ulisses (seria o Ulisses do Joyce?); aliás, nome que odeia: “u-lixo” o chamavam na gangue. O narrador insiste nos mecanismos da autoindulgência do criminoso: “Eu achei que tava fazendo um favor, adiantando o descanso dela (…) ela querendo gritar e procurando ar onde já não tinha”.
Logo depois, em confronto com a polícia, acaba sendo salvo pelo grosso volume, que dentro da mochila — ironia — deteve os tiros que levou ao fugir. À virgulação enfática, Rezende amplia os efeitos, acrescentando repetições estéticas do gerúndio, a fim de aproveitar a elasticidade em processo, o que traz mais força ao relato.
A vida é lamaçal
Para a maioria dos personagens de Rezende, a vida urbana é abjeta, e neste e em outros contos, se apoia na metáfora do lodo, profundezas, esgoto. Ulisses diz: “Eu fui é me afundando cada vez mais no lodo da cidade grande, eu seguia a correnteza do esgoto… eu não sabia onde o esgoto ia me levar”.
Tal imagem é clichê como metáfora de submundo? Sim, seria, caso Rezende não optasse por associá-la ao indulto dos criminosos ou à resignação das vítimas. No conto de Ulisses, salvo pela “espessura” da Odisseia, o moleque também troca a medalhinha por um revólver. E “nem que seja à bala” vai ser um homem de bem.
Em outro conto, A donzela e o dragão, depois de (como num rito de passagem) ser violentado pelo tio, o narrador, resignado, registra:
(…) e com o odor que hoje no futuro reconheço como o dos machos no cio, meu tio se ajoelha diante de mim (…) e me toma (…) e suga os restos de minha infância, e quando eu acabo (…) e sem fôlego tento voltar à superfície, ele me olha das profundezas e anuncia com a voz modulada pelas gotas de gosma quente grudadas no bigode à la clark gable (…) Agora você é um homem.
O ponto de vista
A primeira pessoa é o foco narrativo preferido de Rezende, talvez sua maior destreza ficcional. Porque — e isso não é comum nem fácil — suas representações dos vários narradores-protagonistas são radicalmente distantes do biográfico ou da carga ideológica do autor. Ao contrário: neste conjunto, o autor desenvolve acuradamente uma têmpera e um tom particular para cada narrador.
Sob essa opção (embora haja textos em terceira pessoa), creio que o autor cria um anti-individualismo que, parece, vai na contramão da chamada autoficção. O eu é sempre um outro, numa sucessão de personalizações distantes da projeção disfarçada.
Na voluptuosa sucessão de pontos de vista, o chamado “autor implícito” finge que se recolhe — mas é onde mais surge para criar seus personagens, seres invisíveis. Da história do filho envergonhado com a exposição libidinosa dos pais — que fazem sexo em qualquer hora e lugar; do marido que aceita fantasias eróticas da mulher e a elas se sujeita com prazer sem perguntar onde ela as aprende; do jogador de futebol negro (“macaco” o chamavam) que, na boca do pênalti, está diante da glória ou desonra, etc.
Devastador, porém, em seu cinismo é o último conto, Ponto de mutação, que novamente em primeira pessoa confronta o leitor, desde as primeiras linhas com o susto, o asco e a surpresa moral: “Aos sábios, e somente a estes, é dado conhecer o ponto. A tênue mas instransponível linha que opõe dois extremos: o mestre de fino paladar e a besta molestadora de crianças”.
Acomodado em paz por segundos, bem ajustado ao adjetivo “besta”, o leitor, a seguir lê: “(…) todo e qualquer suplício há de ressoar como delicado afago à pele de monstros capazes desse hediondo crime: o mau gosto”.
Não é a pedofilia, mas a falta de senso estético que exaspera o narrador. Daí em diante, apelando ao susto e à moral do leitor, a narrativa segue em tom sórdido, que nos cola a uma sucessão vertiginosa de confissões de estupro e morte. Seria este o ponto do bom gosto: “o instante em que Deus se revela em sua divina forma, a sagrada centelha hormonal que transmuta a horrível lagarta na mais graciosa das borboletas”.
Enfim, pela força e destreza, pela escolha do conto como gênero preciso, vale aplaudir os textos de José Rezende Jr. porque, ao contrário de debruçar-se sobre a crise da literatura contemporânea, ele vai adiante; foge sensatamente de experimentos radicais, e, sobretudo, absorve com mão leve a força ideológica com que interroga o ser e a sociedade a que estamos todos, apocalípticos ou integrados.