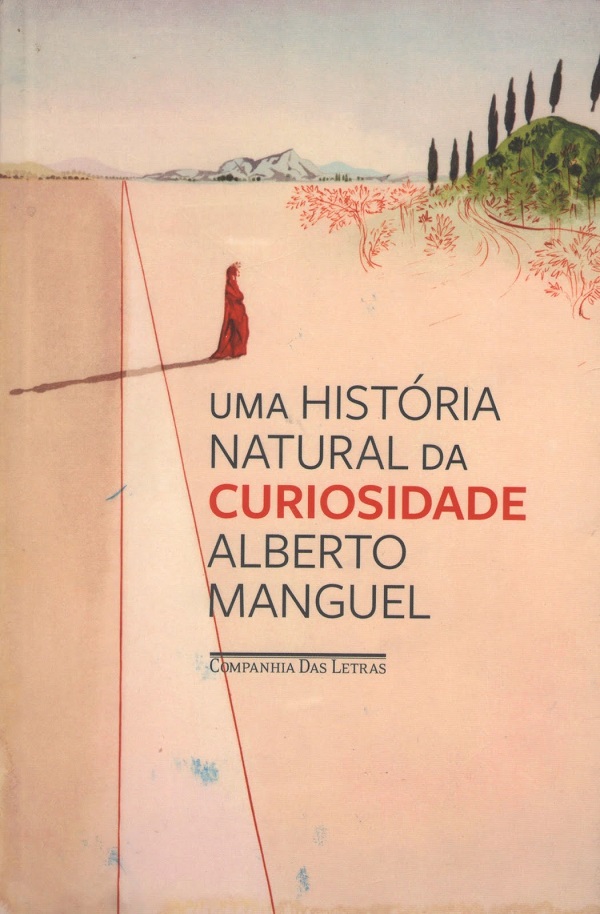Uma história natural da curiosidade é título que camufla, em vez de realçar, o conteúdo do novo livro de Alberto Manguel. Isso porque, ao longo de 486 páginas, ele se distancia da ideia clássica de historia naturalis e mesmo de uma busca consagrada especificamente à curiosidade. Se, na origem, aquele campo científico pressupunha observação e estudo de tudo quanto provém da natureza e de sua história, enfeixando disciplinas díspares como a zoologia e a botânica, o autor está aqui muito mais preocupado com o olhar dos homens sobre coisas não naturais ou imateriais — a verdade, o futuro, o eu; se um exame da relação entre curiosidade e sujeitos pensantes presumiria investigar o modo como estas mesmas criaturas conheceram e conhecem o mundo, claramente um flerte com a história da epistemologia, ele, de sua parte, foge de qualquer pretensão a seguir o caminho que seria acadêmico demais e prefere se refugiar em problemas da literatura, da religião, das artes visuais.
O título original em inglês, abrangente e ao mesmo tempo sucinto, traduz uma noção precisa da obra: Curiosity, assim sem aditivos nem conservantes, não tenta responder nada (como sugerem os títulos de História do Movimento Negro ou História da Primeira República, por exemplo), mas se permite a liberdade de associações que geram novas dúvidas e então o diálogo. Ou seja, a definição mesma da curiosidade. Isso se esclarece logo nas primeiras páginas quando Manguel afirma que, inesgotável, ela fomenta o “desejo crescente de fazer mais perguntas e […] o prazer de conversar com as pessoas”. Dessa forma, mostra um escritor ciente de que o empenho de enfrentar questões eternas é a forma mais sincera de prestar um tributo à curiosidade humana sem a obrigação de destrinchá-la histologicamente; é o entendimento de que um livro sobre uma dúvida, qualquer uma, não deixa de ser uma homenagem à curiosidade universal. Tivesse sido vertido para o português, tal título, embora comercialmente monótono, revelaria estar, no entanto, em maior sintonia com as qualidades depuradas pelo senhor Manguel ao longo do tempo, como o pendor lítero-ensaístico, as referências eruditas, a relação entre a própria vida e os livros.
Independentemente do descompasso entre nome e coisa na edição brasileira, os ensaios reunidos não são incongruentes com o conjunto da obra do argentino. Essa ligação se torna evidente na medida em que, tendo um fio condutor que perpassa tudo — neste caso, a viagem de Dante pelos círculos do Inferno, do Purgatório e do Paraíso em A divina comédia —, os capítulos se deixam atravessar por muitas referências numa miríade caleidoscópica. Em O que é linguagem?, por exemplo, relembra a sequela incapacitante que após o AVC lhe surrupiou momentaneamente a fala, a frase desconhecida de Nemrod para Dante, a impossibilidade simiesca de formar orações, Kafka e o conto cujo protagonista é um macaco, o pensador indiano Bhartrihari que no século 5 discutiu a divindade da língua, Cícero em Sobre a natureza dos deuses, Italo Calvino. É como se fosse este livro um desdobramento das sobras de Uma história da leitura, Lendo imagens ou A biblioteca à noite, trabalhos menos difusos e mais centrados.
Não é à toa a alusão, na introdução, a Michel de Montaigne. O nobre francês passou à eternidade com a prosa elegante e sinuosa dos ensaios, onde se tece um mosaico tanto espontâneo quanto livresco. Esses textos se sustentam às ignorâncias do tempo, provocando ainda renovado prazer nos leitores, porque a intuição de Montaigne amarrava citações ou exemplos (pessoais e alheios) num todo coerente, explicativo, que, todavia, permanecia aberto à interpretação. Diferente é Manguel. De uma narrativa à outra, de uma passagem à outra, o caminho que liga as várias reflexões de um ensaio soa fortuito, embora em essência tudo se refira ao tema central abordado pelo capítulo. O que quero dizer com isso?
Personagens notáveis
Em Como podemos ver o que pensamos?, ele menciona os episódios em que Dante viu o pensamento se materializar em alfabeto, pontuando que a “relação entre a palavra revelada e a linguagem humana é central para A divina comédia”. Páginas adiante, recupera as obsessões do impressor napolitano do século 18 Raimundo di Sangro, o príncipe Sansevero, que acreditava ser possível uma comunicação integral de ideias por meio do quipo, sistema de escrita dos antigos incas baseado em nós coloridos de palha. Ilustrando esses relatos estão uma iluminura do século 15 feita por Giovanni di Paolo e a transcrição fonética do quipo publicada inicialmente no livro Carta apologetica, de 1750. O fato é que Dante e Sansevero fazem parte de raciocínios autônomos dentro do ensaio; nem o príncipe procura se haver com Deus nem o poeta se mete nos pormenores da palha. Assim é o restante, uma récua fervilhante de alusões e relatos nem sempre harmônicos entre si, mas certamente instigantes para quem se interessa pelo vaivém do pensamento e por personagens notáveis, alguns dos quais confinados às notas de rodapé da história.
É compreensível, portanto, que esse espírito de gabinete de curiosidades, precursor dos museus modernos e também incentivador dos primeiros naturalistas, citado a propósito quando ele trata sobre ordem e caos, tenha dado inspiração às decisões editoriais do projeto. Mas não seria redundante lembrar que o que esses cabinet possuíam de fascinante e inédito também tinham de confuso e obscuro. A sensação mesmerizante de maravilhamento um tanto inócuo do público é o infeliz preço que paga aquele que captura espécies exóticas de águas-vivas e as junta com pássaros coloridos ou, concluindo a analogia, num mesmo ensaio emparelha uma dramaturga francesa do século 18 com um filósofo grego da antiguidade clássica. E as repercussões cognitivas geradas a partir dos ensaios acabam moldadas na justa passagem desse estado de embevecimento para a racionalidade. O autor, num esgar irônico, parece se eximir de uma responsabilidade efetiva quando se chega aqui. Isso não é necessariamente ruim. O passeio num museu de variedades nunca deixará de ser, para os verdadeiros curiosos, uma experiência enriquecedora e divertida, apesar de fragmentada.
Mas o livro poderá adular também os entediados e retilíneos que não se comprazem no gabinete, porque é uma viagem bem informada e lúcida sobre A divina comédia. Manguel comprova a frase lapidar de Italo Calvino, segundo a qual um “clássico é um livro que nunca acabou de dizer o que tem a dizer”. Assim como da Odisseia e da Eneida, do extenso poema que Alighieri construiu sob os constrangimentos da fuga de sua cidade natal é possível extrair, se não respostas, pelo menos as melhores e mais difíceis perguntas. As questões que encimam os capítulos só reforçam que Manguel entendeu Dante como a narrativa de um personagem essencialmente curioso, a quem é dado confrontar mistérios intransponíveis: “Quem sou eu?” revela que o percurso no qual Virgílio e Beatriz guiam Dante “é como uma representação contínua feita em seu benefício”, em que erros e iluminações lhe retornam para que seja possível “descobrir sua desdita e a possibilidade de salvação”; já “O que estamos fazendo aqui?” esboça, por meio dos comentários de Virgílio a respeito de árvores que sangram, dois planos — o da realidade e o do reflexo dela — necessários à plena experiência do existir. Profundo leitor, Manguel confeccionou aqui mais do que meramente um livro sobre Dante, mas uma breve enciclopédia de datas, fatos, nomes, ideias em que subjaz a simplicidade de um porquê, carregando também consigo a dúvida sobre os próprios limites da dúvida. Até onde poderemos ir? A curiosidade levou Dante ao Paraíso.