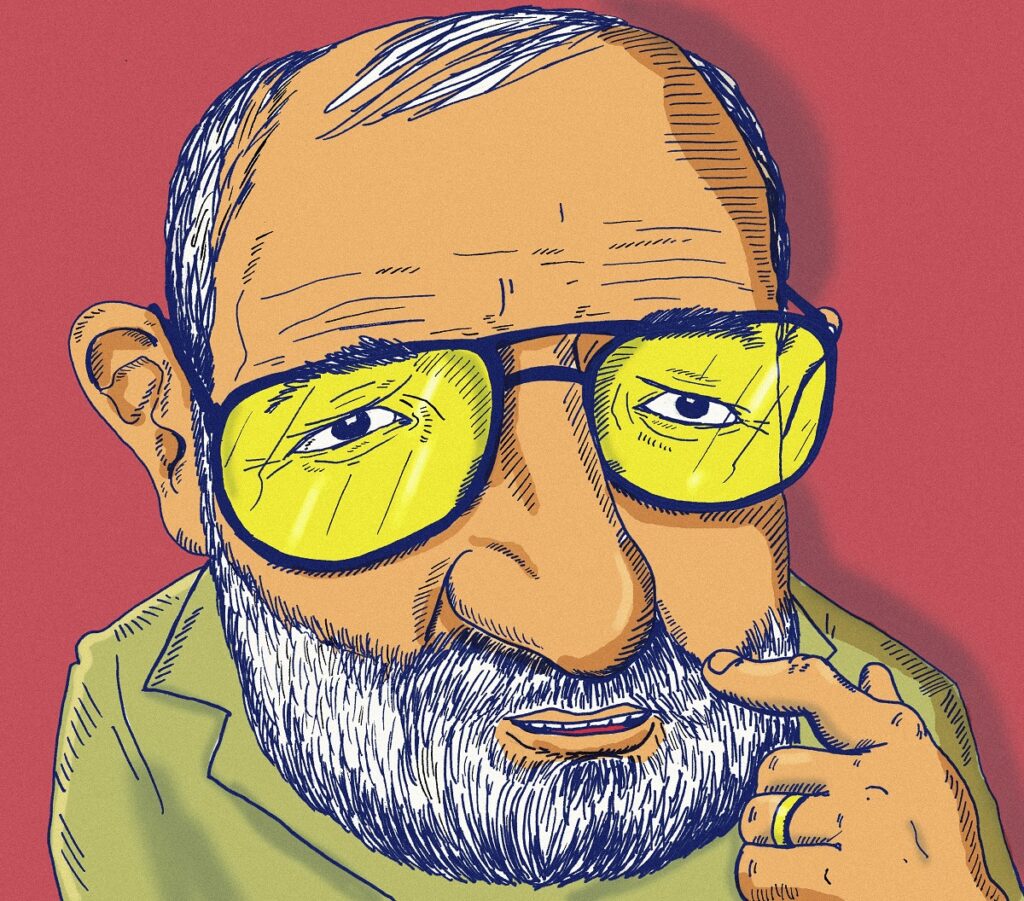Não tinha pensado em escrever nenhuma resenha ou artigo sobre o Número zero, de Umberto Eco, além do que já tenho escrito ou dito sobre minha tradução dessa obra. Aliás, não costumo publicar comentários sobre obras que traduzo, mas resolvi fazer uma exceção depois de ler o artigo de Luiz Horácio no número de setembro do Rascunho.
Farei uma abordagem literária inicial, que espero seja breve, pois o referido artigo também menciona minha tradução, o que me obriga a falar desse assunto numa segunda parte.
O título do artigo de Luiz Horácio é Sonolento e previsível [página 30]. Os dois epítetos se aplicam ao romance de Eco, e o resenhista se pergunta se foi esse mesmo Eco que escreveu outras obras de melhor qualidade, como O nome da rosa, por exemplo. Concordo nisso com o autor do artigo. Número zero de fato não atingiu o alto nível literário de outras obras de Eco. Mas não qualificaria o romance de “sonolento e previsível”. Afirmo até que ele nada tem de sonolento. Ao contrário, o clima de suspense consegue ser mantido com razoável sucesso, e os chistes que o percorrem também contribuem para avivar o interesse do leitor. Por outro lado, não sei se o desfecho pode ser qualificado de previsível. A mim parece que lhe falta um final bem engendrado, daqueles que nos fazem fechar o livro dizendo: onde é que esse cara foi buscar uma ideia tão feliz?
Nesse livro, é como se Eco não tivesse encontrado um bom modo de arrematar a trama tecida desde o começo. Mas nisso ele está bem acompanhado. Por si mesmo, em primeiro lugar, como ocorreu em L’isola del giorno prima (em português, A ilha do dia anterior), que começa promissor e acaba decepcionante. Ou por Calvino, que não me parece ter encontrado uma boa solução para sua genial ideia de O cavaleiro inexistente. Ou por tantos de nossos autores contemporâneos daqui e de além-fronteiras, que constroem historietas malparadas em cima de ideias precárias. E de repente são incensados. Portanto, se previsibilidade for sinônimo de falta de desfecho surpreendente, o termo está bem usado. Mas acho que o desfecho do romance mereceria uma análise mais minuciosa e aprofundada. Ele diz muito sobre o clima mental de nossa época, aquele em que mergulha toda uma geração quando seus sonhos são destruídos e não há outros para pôr no lugar. Esse tipo de abordagem não vi em nenhum lugar.
Outra afirmação discutível: o romance é policial. Não, o romance é eminentemente político. Além da alusão a um crime logo no início, nada há que leve a enquadrar a obra no gênero policial. O desenrolar posterior da trama não comprova essa ilação. Assim, só poderá acabar frustrado quem tomar como fio condutor fundamental do enredo o crime mencionado nas primeiras páginas, pois ele só serviu de pretexto. Em grandes autores, não é incomum que a eventual roupagem policial sirva para prender a atenção do leitor e assim remetê-lo a outras camadas (estas, aliás, nem sempre percebidas). Há como que uma aposta do escritor: sigo a pista de um crime para envolver o leitor, que assim acaba por perceber outros elementos mais profundos da obra; e, se ele não perceber, perco a aposta, mas ganho um leitor. Essa nem sequer é a técnica de Eco aqui. O que prende a atenção do leitor não é a iminência nem a tentativa de desvendar algum crime, mas a sequência de uma história que começa com o pequeno mistério de uma torneira seca e a menção a alguma tramoia que vai sendo contada. E, permeando uma narrativa que dá destaque aos mecanismos do mau jornalismo (motivo talvez do grande sucesso do livro no Brasil), emerge a grande protagonista da história: a Itália do pós-guerra até nossos dias. Isto ficou escamoteado em todas as análises que li até agora. Por esse motivo as personagens são superficiais, como diz o autor do artigo. E são mesmo. Porque não são as verdadeiras protagonistas. As personagens de Número zero não passam de figurantes num teatro maior. E a existência de personagens superficiais na pena de escritores dessa envergadura deveria levar o leitor a buscar outras explicações.
Também infundada me parece a seguinte afirmação: “a mediocridade estapafúrdia de uma redação que trabalha para um jornal que jamais será publicado é representada pela pessoa de Bragadoccio (sic), retratado como Kojak e sua teoria da conspiração onde o assassinato é sempre a mola propulsora da trama”. Antes de mais nada, ocorreu-me sugerir uma pequena correção gramatical, qual seja, a de se colocar uma vírgula depois de Kojak, pois a teoria da conspiração não é de Kojak, e sim de Braggadocio. Mas talvez isso não resolva, porque é, sim, próprio das histórias de Kojak que o assassinato seja a mola propulsora da trama. Então deixemos de lado esse pequeno percalço e passemos adiante. Braggadocio não é “retratado” como Kojak. O que se diz é que ele “era calvo como von Stroheim, tinha a nuca em linha reta com o pescoço, mas com a fisionomia de Telly Savalas, o tenente Kojak”. Enfim, Braggadocio era uma mescla de duas figuras vistas em telonas e telinhas. Por que esquecer o primeiro e citar apenas o segundo, senão para forçar a barra e enquadrar o romance no gênero policial? A verdade é que von Stroheim e Telly Savalas estão juntos aí porque quem faz a descrição é Colonna, que arremata: “Pronto, sempre a citação”. A citação: seu grande defeito. No caso, duas figuras da nossa “cultura do espetáculo”. Há dezenas de citações de todos os tipos no livro inteiro. Aliás, o próprio Braggadocio a certa altura é comparado ao Cardeal Hipólito. Essa comparação foi esquecida? A que pista levaria? Ou só vale a fisionomia de Kojak?
Continuando com a afirmação acima, do articulista, não discordo do caráter estapafúrdio da ideia de uma redação que trabalhe para um jornal do passado que não saiu no passado nem sairá no futuro. É, sim, estapafúrdia, mas quase todo enredo envolvente parte de alguma ideia estapafúrdia. Quem não tiver ideias estapafúrdias escreverá melhor na área científica ou jornalística, não na ficcional. Ficção é fábula. O que se deve analisar é com que inteligência, verossimilhança ou congruência essa ideia estapafúrdia foi desenvolvida e arrematada. É aí que a maioria dos romances desfalece.
Mas minha principal discordância é relativa ao seguinte segmento: “a mediocridade estapafúrdia […] é representada pela pessoa de Bragadoccio (sic)”. Ora, Braggadocio é a menos medíocre de todas as personagens. Em termos de, digamos, brilhantismo só Maia compete com ele. Não por acaso colidem, porque a fantasia dela se quer poética, enquanto a dele se quer realista. A meu ver, o representante da mediocridade é outro: Simei. Devidamente acompanhado por Colonna, o fracassado confesso. E não por acaso os dois. Para poder concretizar sua “ideia estapafúrdia”, Simei precisa de um Colonna. Simei se aninha numa espécie de núcleo narrativo. Em artigo que publiquei recentemente, qualifico Simei de “indigestão de Eco”[1]. Uma coisa que nenhum resenhista até agora se perguntou foi o seguinte: por que Simei, tão pusilânime diante de todas as propostas mais ousadas de pauta, deu total adesão à pauta de Braggadocio, a mais audaciosa de todas as estapafúrdias ideias apresentadas nas reuniões de redação? Será que nossos resenhistas não estão subestimando Eco? As afirmações de Braggadocio seriam tão delirantes assim? O seu desfecho e o filme da BBC (“duvidoso” por quê?) não seriam uma credencial a favor do que ele dizia, de tal modo que, confirmando-se como real uma parte de suas afirmações, a outra parte seria merecedora de pelo menos alguma condicional suspensão da descrença? Em termos de trama, seu próprio fim não lançaria luzes sobre a atitude de Simei? Ou Eco precisaria ter sido redundante para que os leitores desconfiassem dessas coisas?
E não é verdade que “Eco traz à tona fatos históricos completamente alterados devido ao desequilíbrio de Bragadoccio (sic), o editor paranoico”. Não, Eco traz à tona fatos históricos comprovados, alguns dos quais interpretados de maneira delirante por Braggadocio, mas não todos. E aqui não direi quais são comprovados e quais não, pois o leitor interessado não deverá encontrar dificuldades nessa pesquisa. Ademais, não quero me estender mais na análise para não tornar este artigo excessivamente longo. Encerro então esta primeira parte com uma pergunta: a realidade política e histórica de todos os tempos, em seus fatos comprovados, não terá tornado pálidas, tantas vezes, as mais delirantes hipóteses de qualquer ficcionista?
A tradução
Passo aos comentários relativos à tradução. A frase do resenhista que os desencadeia é a seguinte: “seria a enxurrada de clichês, entre eles, ‘no olho do furacão’, creditáveis a Eco ou a uma tradução etnocêntrica, domesticadora?”.
Vamos ver se entendi: Eco não usa clichês, mas a tradutora os enfia no texto porque gosta de “domesticar” suas traduções. Por quem me tomará o senhor Luiz Horácio? Não terá o resenhista prestado atenção à fala das personagens? Peço a paciência do leitor para a seguinte citação de um trecho de Número zero:
— A ira de Moscou? Mas não é banal usar sempre expressões assim enfáticas, a fúria do presidente, a ira dos aposentados e assim por diante?
— Não — disse eu —, o leitor espera exatamente essas expressões, foi acostumado a isso por todos os jornais. O leitor só vai entender o que está acontecendo se lhe disserem que há uma queda de braço entre duas forças, que o governo anuncia um pacote de sacrifícios, que vamos subir a ladeira, que o Quirinal está em pé de guerra, que Craxi disparou à queima-roupa, que o tempo urge, que não deve ser demonizado, que não é hora de dar apoio tapando o nariz, que estamos com a água no pescoço, ou então que estamos no olho do furacão. E o político não diz nem afirma com energia, mas dispara. E as forças da ordem agiram com profissionalismo. [grifos meus]
Em que contexto foi dito isso? O leitor atento perceberá que no diálogo quem faz a pergunta (por acaso Braggadocio) está pondo em dúvida a necessidade do uso de clichês, e quem responde (Colonna) afirma que eles são necessários porque o leitor só entende um texto quando eles estão presentes. Que o leitor me perdoe por precisar fazer uma paráfrase de um texto absolutamente claro. Portanto, Colonna defende o uso de clichês. E a tradutora os inventou?
Não, a tradutora não os inventou. Mas a tradutora traduziu, sim, clichê como clichê, em sua correspondência de sentido, registro e frequência de uso no Brasil. Não traduziu o clichê italiano ao pé da letra, entregando ao leitor uma “fórmula estrangeirizadora”, um estranhamento, um texto opaco, mas fiel à letra do original. Com perdão de papai Berman e de titio Venuti, a tradutora domesticou, sim, para que o leitor brasileiro entendesse como clichê o que é clichê, como chiste o que é chiste, e não como frase sem sentido o que para os italianos faz todo sentido e até os faz rir. Mas não foi necessário “domesticar” occhio del ciclone, pois sua tradução literal é olho do ciclone, que tomei a liberdade de “domesticar” (com perdão da má palavra), substituindo ciclone por furacão, pois é como olho do furacão que se conhece a figura por aqui.
Outras fórmulas foram muito mais premeditadamente “domesticadas”, e eu poderia entregar todas as minhas pecaminosas domesticações de bandeja ao resenhista, se não corresse o risco de me estender demais. Aliás, em Florianópolis mesmo estive há pouco tempo expondo a uma plateia de estudantes e professores todos os meus bárbaros etnocentrismos, entre os quais a criminosa tradução de Preciso Smentuccia por Elucídio Desmentino. Porque Preciso Smentuccia é uma paródia transparente para um italiano, e sua tradução “estranhadora” seria opaca, sem sentido e sem graça para um brasileiro. Ou eu deveria manter a opacidade em nome da sacrossanta “fidelidade à letra”, como gostam de preconizar os bermanistas?
Sei que para a maioria dos leitores estou falando grego. Mas não fui eu que introduzi esse assunto. E, já que ele veio à baila, quero finalizar este artigo com alguns comentários sobre esse tema.
Faço parte do grupo não muito grande de tradutores que têm um pé na Academia e outro na prática de mercado. E na Academia existem, felizmente, algumas pessoas com suficiente clareza de ideias para defender e praticar o diálogo entre a teoria e a prática. E algumas dessas pessoas estão — justamente — em Florianópolis. O que nos une? É a ideia de que toda teoria, para continuar válida, deverá ser confirmada pela prática; e toda prática, para ser digna, deverá ser iluminada pela teoria. É uma dialética. Quem não a enxerga teoriza no deserto ou pratica às cegas. A dicotomia domesticação-estranhamento, como toda dicotomia, está fadada à esterilidade porque deixa de reconhecer as inúmeras interações em jogo no ato da tradução.
Não costuma parecer pertinente a quem defende a estratégia da estranheza a qualquer custo verificar em que contexto histórico surgiram os teóricos que a preconizam. Pois bem, essas teorias nasceram em contexto hegemônico, em países de tradição colonialista, e não em países como o nosso, colonizados econômica e culturalmente desde sempre. Lá, no Hemisfério Norte, alguns tradutores mais lúcidos repararam que as nuances culturais do estrangeiro costumavam ser obliteradas em nome da criação de um texto que fosse recebido com mais naturalidade pelos leitores da cultura de chegada da tradução, cultura tradicionalmente etnocêntrica. E passaram a defender o contrário. Com muita pertinência, aliás. Mas aqui, abaixo do Equador, dois fatos nos distinguem: primeiro, não somos cultura hegemônica, e sempre fomos permeáveis demais a tudo o que vem do exterior, a ponto de ser necessário estabelecer algumas fronteiras bem demarcadas para o que é válido ou pertinente “estrangeirizar” e o que não é; segundo, é preciso verificar com que tipo de texto se está lidando, pois a cada texto e — digo mais — a cada segmento de texto podem caber estratégias diferentes e opostas de tradução. Só o bom senso e a bagagem cultural e vivencial são capazes de indicar ao tradutor que estratégia usar e em que momento. De uma coisa tenho certeza: o chiste (e, como eu disse, há chistes no livro inteiro) ou é traduzido como chiste ou perde a razão de ser. E a tradução do chiste como chiste vai muito além de considerações dicotômicas desse tipo. Ao lado do chiste alinham-se a poesia e a publicidade, como tipos de textos geralmente invalidados pelas técnicas rígidas de “fidelidade à letra”.
Mas preciso encerrar, não por me faltar o que dizer, mas justamente por ter muito o que dizer sobre um assunto árduo, pelo qual o leitor deste jornal logo logo deixará de se interessar.
[1] “A personagem número zero de Umberto Eco”, A Grenha, 12/08/2015, https://ivonecbenedetti.wordpress.com/2015/08/12/a-personagem-numero-zero-de-umberto-eco/