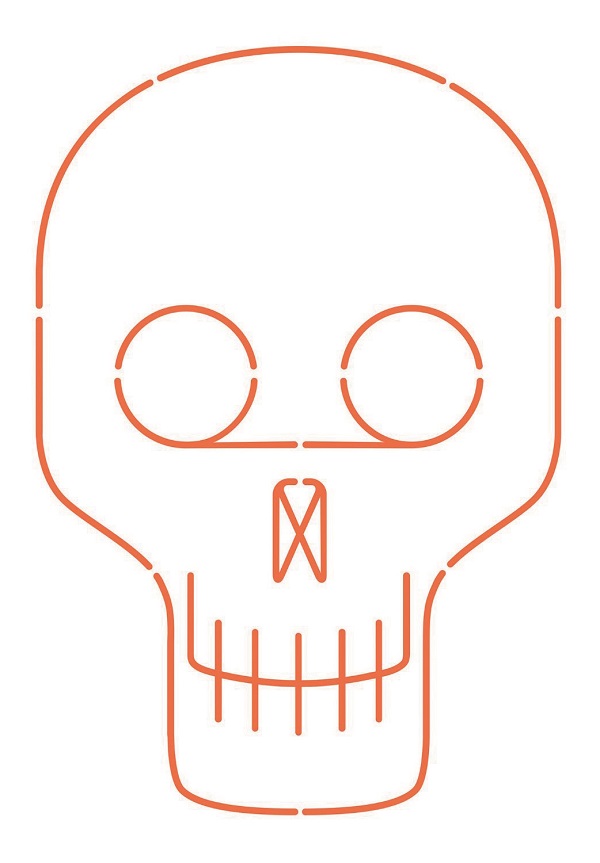Num mundo em que só parece ser realmente garantido aquilo que se situa no domínio do indivíduo, e em que o sentido da vida parece satisfatoriamente descrito como sendo a busca do prazer, ainda se insiste em noticiar mortes por overdose como terríveis e suicídios como tragédias. Se a vida realmente se resume a isso, como condenar ou até mesmo se entristecer com alguém que morre fazendo o que gosta ou lamentar que o outro tenha decidido (com seus critérios individuais e, assim sendo, jamais impugnáveis) simplesmente abandonar esta existência? O que, afinal, fulano tem a ver comigo?
E se na própria busca pela excelência existe um componente significativo e na verdade patético de vontade de se distrair de aspectos da própria vida que acabam sendo apenas fracamente esmaecidos pela obsessão de autoaperfeiçoamento?
A formação intelectual brasileira mais comum (ou mais consagrada) geralmente passa por um desenvolvimento que não encara questões assim como sendo tão importantes. Não se trata propriamente de uma falha ou de inferioridade: o terceiro mundo (sim, ainda) que nos circunda faz urgir outros problemas, como a miséria, a corrupção, a violência urbana fora de controle (diferente da americana, também imensa mas bem mais previsível) e certa incompetência aparentemente generalizada (em que uma instituição ou empresa ou profissional que simplesmente cumpre aquilo que se coloca para fazer é tido como altamente recomendável). A própria questão do indivíduo versus coletivo é frequentemente ilustrada primeiramente como o indivíduo que se beneficia em detrimento do coletivo, em esquemas maniqueístas que podem ser facilmente resumidos na moldura da tentação cristã. Não é comum pensar no indivíduo que age pelo indivíduo em detrimento do próprio indivíduo, e ainda quando se adentra em algo assemelhado a isso a questão é com frequência tida como secundária a todas as outras do plano comumente tipificado como “social”. Temos — pensa-se, talvez com razão — problemas mais importantes.
Assim sendo, Graça infinita pode parecer ao leitor brasileiro ainda mais estranho do que o livro nasceu sendo, e podemos dizer que numa imaginária listagem de estranheza literária, este romance originalmente já sairia entre os primeiros. Afinal, trata-se de um livro em que os anos não são números, e sim marcas (Ano do Whopper, por exemplo, que vem antes do Ano do Tucks Medicated Pad), em que uma das principais ameaças diretas aos Estados Unidos (na verdade tem outro nome, mas não vamos entrar nisso) é um grupo terrorista chamado Assassinos de Cadeiras de Rodas, em que mais ou menos metade dos acontecimentos se passa em uma mistura de mundo acadêmico com escola avançada de tênis (cujo slogan é Te Occidere Possunt Sed Te Edere Non Possunt Nefas Est ou “eles até podem te matar, mas te comer é juridicamente meio complicadinho”).
Como poderíamos deixar de ler uma distopia tecnocrática hiperdesenvolvida como a de Graça infinita, quase toda construída a partir do desespero de não conseguir tão facilmente apontar o que há de errado com o mundo ao nosso redor, um romance sobre saturação e abundância, como algo que caberia perfeitamente no meme (assiduamente mesquinho) do Classe Média Sofre? Como se preocupar com um mundo em que os inúmeros percursos disponíveis a nós parecem de uma forma ou de outra falsificados ou inautênticos quando no mundo em que estamos tantas outras pessoas sequer dispõem de percursos disponíveis para questionar a autenticidade, uma maioria cuja luta diária é pela sobrevivência e um mínimo de dignidade, e não coisas como realização pessoal ou sentido-para-a-vida? Não parece que reclamar de certa desgraça hipersofisticada seja um luxo diante da desgraça estúpida e tosca que vemos como moeda corrente em nosso país?
Ao leitor que talvez desqualificasse o livro por ser excessivamente individualista (motivado talvez por uma vontade de parecer anti-hype, “crítico demais para este mainstream literário excessivamente mercadológico”), é interessante perceber que dentre o emaranhado de neuroses exaustivamente destrinchado, o painel que acaba sendo montado (pelo leitor que avança com menos pressa) não é apenas o de pessoas ensimesmadas, e sim o de uma sociedade que fomenta a todo instante esse egocentrismo como único caminho possível (fala-se hoje, quase vinte anos depois da publicação do livro, com categorias “humanitários dos selfies”, por exemplo). Após todos os movimentos antiestablishment dos anos 1960 e 1970, em que a sociedade opressora foi exposta como pai de todos os males da humanidade (machismo, racismo, injustiça social, guerras, etc.), na concepção de muitos restou apenas o indivíduo como bastião do valor humano, soberano máximo sobre sua existência.
Trata-se de uma publicação de dois séculos antes, mas o finzinho de Cândido, de Voltaire — em que se decide finalmente, após vários tumultos de um nível Looney-Tunes-demoníaco, que é preciso na verdade cultivar o próprio jardim —, está perfeitamente afinado com a consciência predominante nos Estados Unidos de Graça infinita, dos anos 1990 de “exuberância irracional”. O mundo é mesmo um lixo (e até os que radicalmente discordam entre si concordam neste ponto); o que me resta é apenas eu mesmo. E em uma sociedade na qual cada vez mais pessoas chegam a esta conclusão (ou até mesmo parecem já começar nela), a tendência é uma espiral enlouquecedora em que milhões de solipsistas acreditam estarem acima do mundo circundante quando, na verdade, a soma de todas as suas ações é o que constitui o mundo. Um mundo de míopes, jardins apodrecidos sequer desconfiando que a praga está sendo carregada pela ventania que atravessa até o muro mais alto, consciente de que há algo de errado sem saber apontar exatamente o erro.
Se o mundo de saturação e abundância e transbordamento convulsivo do romance (composto em traços paradoxalmente microscópicos e caricaturais, mistura de bisturi e marretada) soa longe do nosso (em que candidatos à presidência trocam pedradas a respeito de milhões recém-retirados da miséria e taxas de crescimento econômico abaixo do populacional), podemos imaginar que esta realidade de egocentrismo insano e perfeitamente normal é o que nos espera caso finalmente consigamos superar todos (ou pelo menos um tanto mais) os percalços de nossa sociedade claudicante, caso continuemos a adotar o modelo americano de entendimento de mundo. Afinal, quantos brasileiros visitam os States e retornam maravilhados e amargurados por ter de voltar, com a certeza de que deveriam ter nascido por lá? Trata-se, afinal, de um país onde é lugar-comum dizer que se conhece uma pessoa pelos livros que ela tem em sua estante e pelos comprimidos em sua caixa de remédios (subentendendo-se aqui ansiolíticos, antidepressivos e toda a família de pílulas para a alegria). Ou, como o The Onion já disse em uma de suas manchetes mais brilhantes e brutais, sobre o que era o mais recente caso americano de doido-sai-atirando-em-todo-mundo-na-rua: “Não existe maneira de prevenir isso, diz única nação em que isso regularmente acontece”.
Sucesso editorial
Tudo isso, claro, venho expondo aqui como argumentação de que o livro não é apenas a obra literária mais estilisticamente impressionante lançada nas últimas décadas, cheia de momentos divertidíssimos e de uma esperteza que pode ser descrita por este jovem escritor como completamente devastadora. A escritora Zadie Smith descreve David Foster Wallace como estando “em um nível acima de todos os outros”: já é facilmente visível nos próprios contemporâneos (que dizer dos que ainda estão para ascender) a influência que seus textos e pensamentos exerceram; seus papéis pessoais estão sob a guarda da mesma instituição responsável pelos manuscritos de James Joyce e pela biblioteca de Ezra Pound, entre outros. Mas um grande livro não é feito só de estilo e esperteza, e um monstro de mil páginas que fosse só superfície, seria uma das catástrofes literárias mais tristes que se pode imaginar.
Foi assim que Graça infinita acabou sendo lido por parte significativa da crítica, possivelmente ressentida de ter sido obrigada pelos seus jornais-patrão a ler um romance grande e difícil dentro do prazo de fechamento. O romance acabou seguindo a trajetória curiosa de ser recipiente de nenhum prêmio literário e receber uma edição comemorativa de dez anos de lançamento (dez anos em tempo literário é, em tempo humano, como comemorar aniversário de novo três meses depois do parabéns anterior), sendo mencionado como obra incontornável para o entendimento de sua época com frequência bem maior do que qualquer livro estampado com os brasões ou stickers de Pulitzer, National Book Award ou assemelhados.
Entre as críticas mais recorrentes ao livro está a de que o todo do texto, para além da pirotecnia verbal inegável, forma uma bagunça desorganizada e prolixa — sem desconfiar que esta foi a forma como o autor mimetizou um mundo de excesso de informação, hipersaturado e cansativo em sua abundância; uma estética que se pautasse na fina elegância da concisão (como um Coetzee), do haicai de sílabas encaixadas ou da novelinha com nenhuma frase sobressalente, seria ainda mais artificioso para lidar com este assunto do que o caminho tomado por Wallace. O leitor que avança perdido no texto (é até um pouco demorado descobrir quais são exatamente seus protagonistas), sem saber ao certo o que é realmente central e o que é detalhe, é o equivalente formal da pessoa que avança perdida no mundo também sem conseguir se encontrar: cada pedaço do romance tem em si a vivacidade de uma obra literária por si só, como se o livro enfileirasse vários começos e vários meios.
Se o autor, porém, foi capaz de conquistar meu interesse com esse pedaço, por que agora eu tenho que ler sobre outra pessoa e outra situação, e o que aconteceu com aquela situação anterior? Será que o autor está meramente exibindo seu poderio literário? Seria este livro apenas um exercício para mostrar a própria inteligência?
A crueldade da obra é tamanha que muitos chegam ao fim das mil e tantas páginas pensando que a história não tem qualquer conclusão, quando na verdade o desfecho do “enredo” existe e foi até explicitamente escrito — o leitor passou por cima dele várias páginas atrás (e, claro, o livro não traz seus eventos em ordem cronológica), sem perceber. Dica difícil, porém sincera: leia de novo. O próprio David Foster Wallace expressou alguma desconfiança diante do rebuliço feito em torno da obra durante a turnê de autógrafos: um entrevistador perguntou a ele o que achava do sucesso, e Wallace respondeu que aquele auê todo era um sucesso editorial, e não literário; o livro tinha saído há poucos dias, tinha mil páginas e precisava ser lido com atenção: os auditórios cheios eram mérito da campanha de publicidade feita pela editora, e não de seu trabalho literário propriamente dito.

Um grande livro não é feito só de estilo e esperteza, e um monstro de mil páginas que fosse só superfície seria uma das catástrofes literárias mais tristes que se pode imaginar.
Sombras
Como toda obra de arte, não se trata de criatura isolada, e sim de um produto que surgiu de um contexto artístico já existente. No caso, Graça infinita se insere na tradição de romanção pós-moderno americano, livros-desafio cheios de virtuosismos (sejam de estilística, de arquitetura formal do romance, de concepção incomum de mundo). É uma tradição que teve início com The recognitions (1955), de William Gaddis, tendo por sequência The sot-weed factor (1960), de John Barth (e outros livros do Barth), O arco-íris da gravidade (1973), de Thomas Pynchon, The public burning (1977), de Robert Coover, e, discutivelmente, Women and men (1987), de Joseph McElroy, e The tunnel (1995), de William H. Gass. De todos esses listados, apenas o de Pynchon está disponível na língua tupiniquim, e talvez só ele se aproxime do impacto cultural maior (para fora dos muros universitários) de Graça infinita. Encontramos a influência de Foster Wallace em um número imenso de escritores anglófonos, como Zadie Smith, Jeffrey Eugenides, Jonathan Franzen e Richard Powers, e até mesmo em quadrinistas como Chris Ware. Aliás, os que não se afinam com o tipo de literatura feita por DFW acabam na posição de ter de defender a própria opinião, semelhante a um leitor brasileiro que por acaso não goste de Machado de Assis.
Até mesmo o simples serviço de apresentar este livro é bem difícil; pelo menos, posso me refugiar nesta desculpa: a resposta a “sobre o que é” só pode ser dada de forma brutalmente reducionista (“é meio que sobre um vídeo tão divertido que quem assiste inevitavelmente bota em loop e morre assistindo, geralmente de desidratação”; e ainda assim as páginas falando diretamente do vídeo não devem somar 25% do total) ou de forma a fazer quem te perguntou isso se arrepender (“tem uma academia de tênis que…”). Até mesmo na hora de escolher um trecho representativo a coisa é complicada: qualquer parte que seja selecionada dentre o zoológico estilístico da obra acaba mostrando apenas uma faceta do que o livro faz. Tem traficante, tem discurso de alcoólatras anônimos, ensaio, teatro, melodrama, desgraça, tem pastiche (incrível) de discurso acadêmico, além das famosas notas de fim de livro que às vezes têm suas próprias notas menores, uma-dentro-da-outra. É como uma comédia pastelão extremamente depressiva e inteligentíssima, com truques de frente e movimentações de fundo e uma questão irrespondível em seu cerne (seríamos mesmo apenas isto, macacos buscando endorfina? Ou terá sido isto o que nos restou?), sendo iluminada por centenas de direções diferentes, nenhuma produzindo mais certeza do que mais sombras, sombras estranhas que continuam ali, escuras, mesmo com toda a luz do mundo em cima delas. Um outro túnel no fim do nosso.