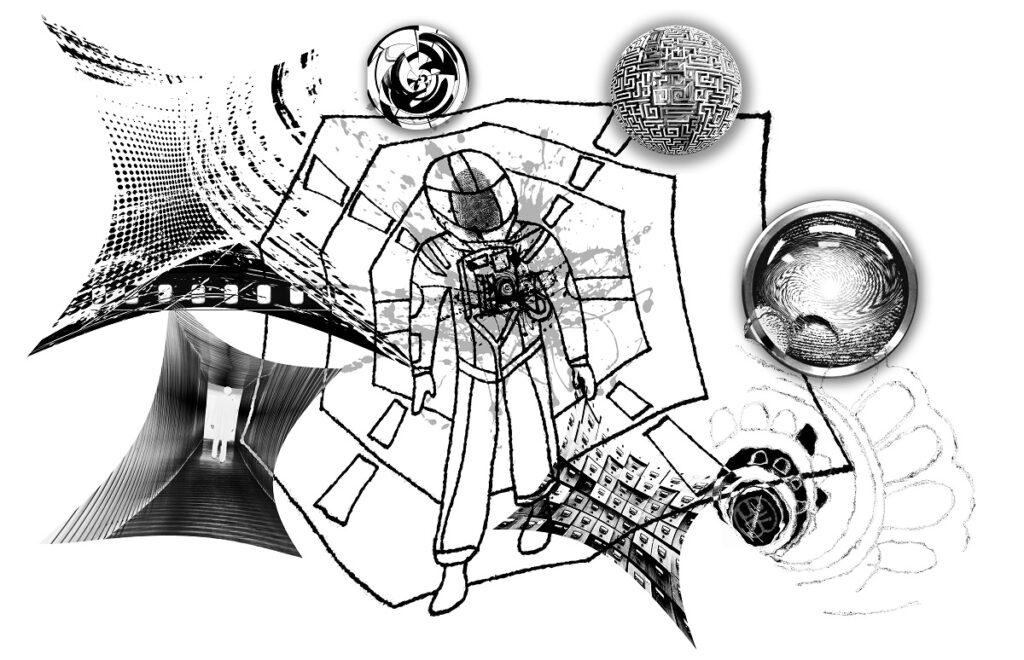Há sete séculos, assim falou Virgílio a Dante Alighieri, n’A divina comédia:
Todas as coisas criadas obedecem a uma disciplina harmônica. O universo semelha a Deus. Os espíritos perfeitos podem ali perceber nítida a perfeição divina, fim supremo que é a Ordem Universal. As criaturas todas guardam inclinações segundo suas condições naturais, para situarem-se em menor ou maior vizinhança de Deus. Isso explica por que buscam aperfeiçoar-se, por caminhos diversos, através do vasto mar de si mesmas, cada qual seguindo o instinto que Deus lhe concedeu. Graças a isso, o ardor logra chegar à lua; por isso é que se agitam os corações humanos; por isso a Terra prossegue em suas expansões e contrações. O arco do distinto não dispara flechas unicamente contra os seres mais rudes, mas também contra as criaturas que têm a razão apta para o reconhecimento de Deus. A Providência, que tudo isto dispõe, com sua luz mantém aquietado o céu, onde gira o que vai mais velozmente. Para ali, como em direção a posto determinado, o arco do distinto o amor divino aponta aos que a esse amor se entregaram. Verdade é que, muitas vezes, a forma final da matéria não corresponde à intenção do artista, porque, na sua surdez, a matéria sustenta teimosias deformantes. Por igual modo, a criatura humana pretende exercer o critério da escolha de seu rumo, frequentemente se desviando do correto e elegendo o errado. Se a vã felicidade mundana leva-a a desviar-se daquele impulso natural, divino, ela cai por terra, qual se pode ver da nuvem tombar o raio. Não seja, pois, maravilha para ti — como estás considerando — a tua ascensão. É natural que teu espírito suba, como é natural que o rio baixe da montanha ao vale. Maravilha seria se não subisses, nenhum impedimento te detendo, como se sobre a terra pudesse ficar imóvel um fogo vivo, ardente.
Há aproximadamente dois séculos, o Livro dos espíritos, mediado por Hippolyte Léon Denizard Rivail, também conhecido como Allan Kardec, desdobrou, ponto por ponto, os ensinamentos que A divina comédia já insuflara.
Dante Alighieri, o ideólogo do catolicismo, o poeta que entreviu as distinções entre inferno, purgatório e céu, pôde resvalar a racionalidade espiritual para além do dogmatismo de Roma, para além do mistério — para além de si mesmo e de sua época.
Dante e a fenomenologia do espírito.
Santo Daime, Sorocaba, 30 de julho de 2011.
Ayahuasca, o cipó dos deuses.
A princípio, nada. Onde estão Dante e Virgílio? Música ao fundo, uma harpa, as cores oscilam monotonamente, luzes de néon. Todos estamos sentados, lado a lado. Homens à direita, mulheres à esquerda, frente a frente.
Olho ao redor — minha vó e meu pai continuam mortos. Precisamos ficar em silêncio, então a memória faz as vezes das palavras. Olho ao redor — todos ensimesmados, por que não podemos conversar? Cada um recebe um saco plástico para o caso de vomitar. Olho bem para o saco, nunca tinha reparado assim em sua rugosidade contingente, ele ganha os contornos dos movimentos que lhe conferimos, suas formas oscilam como se tivéssemos uma série de existências.
Minha mão direita é a primeira a se emancipar. Ela entra no saco plástico e passa a girá-lo como se sucessivos rostos quisessem me dizer algo. Minhas pálpebras pesam, elas se fecham como comportas, sinto os olhos se voltarem para dentro, uma profusão de cores, um prisma, o branco reúne todas as cores e frequências do espectro, mas logo o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta se dissipam como trajetórias centrífugas, como missões distintas, como karmas diversos, como vidas respectivas. Pessoas.
Mas não estávamos todos ali sentados? Vocês não estão aqui? (Não consigo abrir os olhos agora.) Caro leitor, cara leitora, você já sentiu sua voz se dissipar na boca como se ela estivesse em um poço profundo? A voz não cruzava a fronteira dos dentes, mas eu podia ouvir cada uma das palavras sem que elas fossem arremessadas como sons. As palavras permaneciam ideias, elas nada comunicavam, mas as cores podiam me entender.
O plástico começou a me revestir. Útero revisitado, placenta.
Quanto tempo até a estepe siberiana? 25 horas? Não, um passo. Faz muito frio, os nativos hibernam, a taiga parece um exército à espreita. A 300 passos, uma muralha. Um antigo presídio? Um quartel? Não há ninguém por lá. Mas eu ouço vozes. Elas me conduzem abaixo, mais abaixo, por escadas em caracol cujos corrimões alaranjados denunciam o abandono da ferrugem, as vozes vão ganhando corpo, ficam mais nítidas, palavras mais incisivas. Uma cela. A porta está aberta, mas o prisioneiro não ousa sair. Os prisioneiros. Sentado no que resta de uma cadeira, um senhor calvo e gordo segura a cabeça pênsil com a mão esquerda. À direita, uma criança com hematomas. Na esquina oposta da cela, um jovem a fumar.
— Quem é você?
Os três me miram com os mesmos movimentos, olhares contíguos, como se fossem a metamorfose de um mesmo sofrimento.
— Quem é você?
Quando faço menção de dizer, a criança volta a chorar, o jovem golpeia a parede, o velho tenta se levantar.
— Aqui, senhor, venha, vamos.
Consigo fazê-lo sentar sobre o colchão de palha. O jovem e a criança querem dormir, mas o velho não consegue fechar os olhos.
— Quem são vocês?
Começa a chover.
— Se eu soubesse quem somos, você acha que ainda estaria e estaríamos aqui?
— Mas não há guardas, não há sentinelas, não há carcereiros! Vamos embora. Você não precisa ficar aqui. Já acabou sua sentença. (Ofereço-lhe a mão em palma para que se levante.)
O olhar do velho ressoa condescendência.
— Você não é daqui, não é?
— Daqui? Onde estamos?
— Estamos no bunker do arrependimento.
— Como? Por quê?
O velho se faz nitidamente impaciente. A criança e o jovem dormiram.
— Estou cansado das perguntas erradas, rapaz, é precisamente por isso que preciso carregá-los comigo!
— Quem são eles?
— Eu: eles somos eu.
— O quê?!
— Ora, rapaz, quem é que, pela manhã, caminha com quatro patas, à tarde com duas e a reboque de três ao anoitecer?
(A criança, o jovem e o velho, o processo da metamorfose.)
— Mas como é possível que vocês sejam três?
— Você não tem lembranças, rapaz? Como é teu nome?
— Ricardo.
— Tua lembrança mais tenra não te faz ver um Ricardinho que já é um outro para você mesmo?
— Mas, ora, minha lembrança não está aqui e agora, ela está lá, ao abrigo do tempo.
— Ah, ela não está aqui, não é mesmo? E por que nós sofremos agora por algo que foi feito ao abrigo do tempo longínquo? Aqui, Ricardo, onde nós estamos, já não há véus. O tempo, o processo do tempo, se materializa com vários corpos, as nossas sucessões, os nossos erros.
— E o que eles querem?
— Querem voltar para o lugar de onde você veio.
— Ora, então vamos!
— Você ainda não entendeu, não é?
— O quê?
— A volta pressupõe cicatrizes e cicatrizações. Eu não me sinto bem.
— O que foi?
— Câncer.
— Mas eles dois te ajudariam, não?
— Eles voltariam a ser memória, Ricardo.
— Mas você não quer esquecê-los?
— Ora, mas então é isso que significa arrepender-se?
Já não chove. Lá fora parece longe, não há grades, lá fora parece inalcançável.
— Me conte o que aconteceu. Talvez eu possa te aliviar.
— Contar o quê? Eles não estão aqui, você não os está vendo?
— Mas eles não podem te condenar, eles já foram!
— E, no entanto, estão bem aqui…
Que dizer?
Como ajudar?
— Você não disse que está cansado das perguntas erradas?
— Extenuado.
— E quanto às respostas viciadas? Elas já não te entorpeceram o suficiente?
O velho fica em silêncio. Ele parece tergiversar consigo mesmo. Súbito, engatilha as palavras:
— O que é que você sabe sobre a dor, hein?!
— Eu não vim de onde você veio? Eu não estou aqui agora?
O velho fica em silêncio. Ele já não tergiversa consigo mesmo. Volta a ficar ensimesmado.
(Nós ainda não sabemos como reunir nossos escombros.)
Ele quer ficar sozinho. Eles dormem.
A saída da prisão descortina uma floresta densa. Muito, muito calor. Zunidos, chiados, silvos, uivos. Onde estou?
Não é possível ficar parado, a folhagem passa a aderir à pele, uma taturana me queima e me drena, há charcos, bebo um pouco d’água em uma grande folha-copo, a floresta vai me encaminhando, até que ali, a 10 passos, desponta uma clareira. Em pé, uma senhora conversa com uma série de jovens sentados sobre as raízes de um jacarandá secular.
— Mas por que não é possível ficar parado? Nós não estamos parados aqui e agora? Por que o movimento é a grande lei?
Ela me descobre entre a folhagem.
— Venha, seja bem-vindo!
(Ninguém me olha como se eu fosse um forasteiro; ali, pela primeira vez, sinto a dúvida como um sinônimo de comunhão.)
— Parados, nós nos movemos. Somos movidos. O nada não tem substância. Não é possível pensar em nada. Mas, aqui, não se trata de um mero jogo de palavras. É possível sentir um vazio profundo, sim, como se nada pudesse torná-lo repleto. A saudade dos entes queridos, uma grande injustiça sofrida, o sentimento do mundo. Podemos orbitar ao redor de nós mesmos continuamente, podemos vasculhar a dor sempre com o mesmo sentido. Pedimos ajuda. E não é curioso que, ao menor sinal de consciência diversa, ao menor sinal de movimento, já não consigamos olhar para o cancro da mesma forma? Sim, é verdade, somos passíveis de autoengano, o esconde-esconde do conhece-te a ti mesmo, as mil e uma veredas do entorpecimento e do ressentimento. Mas, vagarosamente, nos movemos. E dói, dói muito, dói como se removêssemos uma carcaça de sobre o nosso corpo. Por que eu fiz aquilo? Só bem depois a consciência se dá conta de que não existia naquele momento. Só bem depois entendemos o processo da nossa imperfeição, o processo que nos leva à perfectibilidade. Por que eu fiz aquilo? Não. Por que eu não agi de modo diverso? Não. Mas o que posso fazer agora? Ei-lo! Quando o carrasco entende o que ceifou, quando ele passa a entender que não retalhou apenas o condenado, mas uma série de vínculos que o constituíam, uma série de laços, toda uma rede de afeições e dependências, o carrasco se descobre para além da couraça de seu corpo. O carrasco — cada um de nós — se vê como um nó, um feixe de uma rede, ele vai descobrindo cada uma das mediações que o constituem. Ele pode buscar o perdão, o perdão lhe pode ser concedido. Ele pode se tornar pai de sua vítima, ele pode se tornar uma das filhas da mãe de seu condenado. Mas é preciso saber quando e como ele conseguirá se perdoar quando a consciência evoluir. Precisamos ajudá-lo.
Vomito. O saco plástico se enche de mim. Um dos dejetos parece um feto.
2001: Uma odisseia no espaço.
O astronauta de Stanley Kubrick, em sua cápsula, começa a trilhar uma viagem interestelar. Já nos disseram que nada pode superar a velocidade da luz. Mas o astronauta percorre as galáxias com uma aceleração que vai sulcando sua pele — décadas transitam pelos coágulos dos segundos. Espiritualmente, o que é um buraco negro senão a encarnação da renitência? Toda a energia, toda a matéria e toda a energia material são tragadas como que a empilhar um acúmulo incessante de quantidade, de remorso, de ressentimento, de reiteração. Se não houver caridade, se não houver ajuda, como podemos os bilhões de buracos negros reencarnados saltarmos para além de nós mesmos?
O astronauta de Kubrick viaja pelas galáxias para voltar a si mesmo. A cápsula, não se sabe como, não se sabe por quê, aterrissa em um apartamento insólito. O piso é luminoso e composto por quadrados bem brancos, as paredes são florentinas, renascentistas. O astronauta, um jovem envelhecido quanticamente, se depara com um senhor a jantar. O senhor mastiga o bife como que a ruminar a memória, como quem não consegue esquecer. Ele está sozinho, completamente sozinho, e parece não haver palavras que possam saciá-lo. O astronauta caminha até o velho, ele pousa a mão sobre o ombro arqueado — o velho se volta para o astronauta: o velho se volta para si mesmo.
O astronauta é o velho!
Mas como é possível? Eu não posso ser um outro para mim mesmo, a não ser como matéria de memória, a não ser como ideia. O duplo só existe filosófica e literariamente, não?
O velho é o astronauta.
O viajante se encontra com uma de suas mortes. O velho logo fica prostrado na cama. Ele vai morrer — o astronauta assiste a mais uma de suas partidas.
Então, ao fim do filme, o que Kubrick faz?
Um feto guarnecido por um bolha se dirige a um planeta sobremaneira parecido com a Terra.
Um feto como aquele que eu vomitara.
O astronauta volta a nascer — o espírito ainda não foi de todo cicatrizado; o espírito também precisa cicatrizar os demais.
2011: Uma odisseia no tempo.
Não há separação nítida entre inferno, purgatório e céu.
Não há justiça em um inferno eterno.
Não há justiça em um eterno céu.
Há quatro apartamentos em meu 16º andar. Suponhamos que a população desse microcosmos seja composta por 8 pessoas. Quem poderia afirmar que tais habitantes têm a mesma consciência? Será que a contiguidade física implica, necessariamente, igualdade kármica? Céu e inferno podem ser coabitantes. Céu e inferno podem se suceder em questão de horas — minutos, instantes.
Como aceitar que haja condenados eternos em caldeiras diabólicas? Não pode haver evolução?
Como aceitar que haja eleitos eternos munidos de harpas? Não deve haver caridade?
O purgatório, a fronteira, é o atual estado dos homens e mulheres.
O purgatório, o desencontro — apenas não compreendemos, ainda, que a falta de sentido pressupõe a procura.
Chego a uma encruzilhada. Onde estou?
Quero caminhar adiante, queremos, mas a cruz pressupõe a crise, a impossibilidade da reta. Que fazem os homens e mulheres? Regurgitam o buraco negro e caminham, tautologicamente, por um dos braços da encruzilhada, como se estivessem caminhando para além daquilo que já revisitaram.
Mas quem está ali? Ei, quem é você? Calma, espera, quem é você?
Ela abre a mão em palma e me oferece um bolinho de chuva. O óleo da infância borbulha.
— Vó?
Avental cheio de balinhas de goma. As varizes desenham a cartografia senil.
— Vó?!
Ela anda a passos largos, vai ganhando corpo enquanto caminha, perde os cabelos, fica calva, fica calvo.
— Pai?
Para onde vamos?
Não.
Por que não iríamos?
Um píer, ondas que se chocam contra a certeza do porto.
Nado.
Eu não sabia que tinha guelras, o espírito é anfíbio.
Moby Dick é mal compreendida. A baleia desce à escuridão abissal. Pressão atmosférica, pressão brutal das águas — os primórdios da combinação química e insciente da existência. O caos das cadeias carbônicas. O cume subterrâneo das montanhas submersas. A baleia sofre o achatamento do corpo como o saco plástico do Daime. Como será o silêncio do plâncton? Que tipos de animais as sondas descobririam?
Uma concha. Rosácea, tons de violeta. Pedrículas incrustadas. A concha, em sua pequenez, contém o mar, ela encarcera Moby Dick. Mas a concha sinfônica, oposta ao buraco negro, sopra a energia acústica para além de si. A concha (se) doa.
Ica, cidade desértica a duas horas, se tanto, da capital peruana. O centro paradisíaco de Ica, onde estamos, reúne uma lagoa de águas esverdeadas circundada por colossais montanhas de areia. Certeza arenosa.
Munido de um copo de Inca-Cola — o chiclete líquido do Peru —, Jorge Luis Borges me narra o paradoxo de Zenão de Eléia.
Quem vence a corrida: Aquiles ou a tartaruga?
Aquiles, o guerreiro destemido, o atleta bélico.
A tartaruga e o encouraçado de seu casco.
Quem vai adiante, vagarosa ou rapidamente, precisa percorrer cada um dos ínfimos trilhos que compõem uma trajetória. Cada um dos ínfimos trilhos que compõem uma trajetória se subdivide em ainda mais ínfimos trilhos que os compõem, de tal maneira que, para ir diante, também é preciso retroceder — infinitamente.
Aquiles é mais rápido, ele vai adiante pela suma expansão.
A tartaruga é vagarosa, ele vai adiante pela retração.
A tartaruga, em sua falta de ímpeto, percorre, de modo mais retroativo, cada uma das partes infinitesimais que o tufão de Aquiles só faz sobrevoar.
Se o movimento da ida equivale, existencialmente, ao movimento da volta, Aquiles não pode derrotar a tartaruga, assim como a tartaruga não pode suplantar Aquiles.
Que fazer?
O trago da Inca-Cola não tem a resposta.
Ora, faltaria algo à leitura geométrica que Borges faz do paradoxo de Zenão?
Sim: falta sentir a imobilidade da tartaruga, falta sentir a fugacidade do poder de Aquiles.
Mas, de fato, Borges resolveu o paradoxo de Zenão. A iluminação se apoderou do argentino no momento em que Borges ficou cego. A visão, para o escritor, é o tato das palavras. A cegueira mostrou a Borges que não se trata de um paradoxo geométrico, mas de uma dor encarnada. Se não vejo por onde caminho, se não caminho por onde vejo, minha poltrona se transforma em um cárcere — eis o casco da tartaruga.
O paradoxo de Zenão se multiplica em minha subida incerta pelas montanhas de areia de Ica. A areia imemorial é despida de lembranças, ela não aceita a fixidez das pegadas, as rajadas de vento são a encarnação absoluta e transitória do tempo presente. Faço um passeio de bugue pelas dunas. O motorista, mais um dos guias dessa viagem astral, o Virgílio peruano de Dante, assim narra a sabedoria nômade do deserto:
— Passeio por essas montanhas todos os dias. Os passeios se parecem entre si. Mais ou menos emoção, mais ou menos gritos. Mas eu nunca sei se estou seguindo pelos mesmos trajetos – estas aqui talvez sejam as únicas estradas etéreas do mundo. A cada dia o traçado delas é redesenhado. As montanhas de Ica denegam a altivez. Elas se reinventam a cada momento. E eu me sinto assim. Nós estamos aqui, bebendo, mas daqui a pouco, amanhã, você vai embora. Você, ela, todos vocês. Eu permaneço, mas a cidade de montanhas, a cidade invisível e momentaneamente tangível, me instiga a mudar. Em Ica, quem precisa da ampulheta?
E ali, em Atenas, em uma gruta com vista para a Acrópole, em uma gruta gradeada, encontro um velho barbudo e tranquilo. Um velho à iminência da cicuta. Seus discípulos o cercam, nenhum deles se conforma com aquela morte iminente. O velho é o único a nada lamentar.
Será de fato possível se sentir reconciliado com a própria vida diante da morte? Mas e quanto aos meus pais, que dizer dos meus irmãos, como ficará a minha amada? Sócrates não parece exalar tais dúvidas. Diante da morte, ele se posta com um estoicismo que destoa de seus diálogos e disputas irônicas e inflamadas ao redor da verdade.
Todos choram, todos se lamentam, mas eu, leitor de Platão, me sinto revoltado. Quero interpelá-lo, quero entender aquele desapego — a vida, Sócrates, a vida!
— Como é possível, você não se importa com o fim?!
Sócrates cofia a barba cuidadosamente, como quem busca um pergaminho por entre a relva. Súbito, com o olhar impassível como uma lápide, Sócrates sentencia:
— Me preocupo, sim, me preocupo por demais, sempre me importei com o fim — a finalidade, o objetivo, o sentido. Por ora, chego a um termo comigo mesmo. Aprendi, ensinei. Creio que me reconciliei com esta vida. O que haverá adiante? Em quem me transformarei? Quanto tempo levará? Eis o que é preciso narrar. Agora volte, jovem. Comece a narrar o que você vê. Tente viver o que você narra.
Sorocaba, o saco plástico — e a estepe da consciência.
Que fazer?
Escrever.
A literatura como partilha — descoberta.
A literatura como odisseia — jornada.