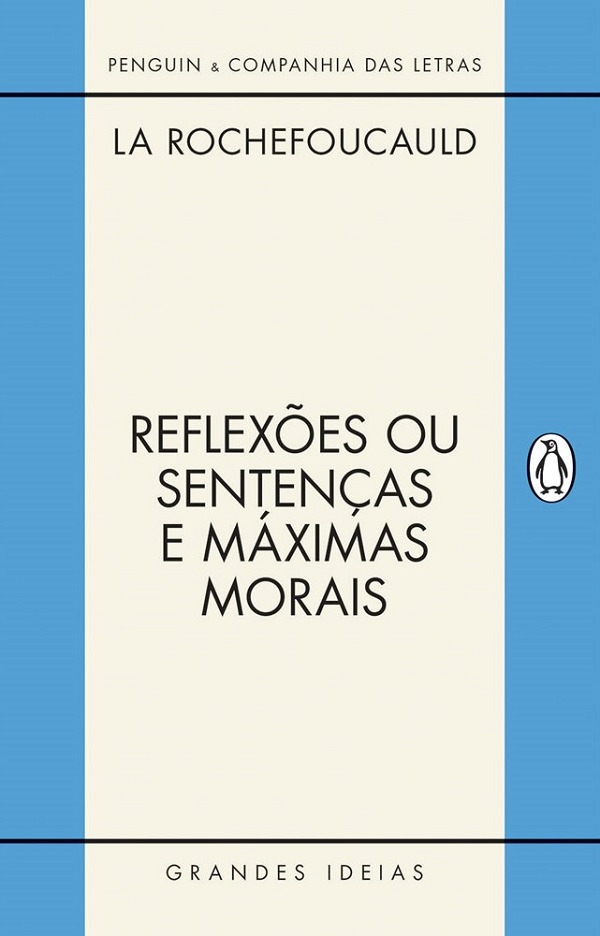A história da literatura pode ser descrita como a série de testemunhos do abismo sem fundo que é o coração humano. Esta série entretanto é descontínua, de modo que amanhã nos depararemos com algo a nosso respeito que nossos antepassados já conheciam; e a força dessa anacrônica descoberta atingirá os nossos ombros com o peso de uma revelação. A narrativa do homem é o registro dos repetidos espantos diante da descontinuidade das coisas. Isto não quer dizer, naturalmente, que sempre tenhamos que recomeçar do nada. Nós nunca começamos do início, e jamais terminamos no fim. Há, afinal, algo de constante neste ser estranho, o humano.
Poderíamos dizer que os clássicos da literatura são, entre tantas outras coisas, trabalhos que conservam o frescor de um momento de espanto. É o caso das Reflexões ou Sentenças e máximas morais, do moraliste François VI, Duque de La Rochefoucauld. “É mais necessário estudar os homens que os livros”, escreveu. Seu assunto é o ser humano, perpétuo espanto: “estamos longe de conhecer todas as nossas vontades”.
Frases como essas, modeladas na brevidade dos Provérbios bíblicos e das sententiae dos latinos, lapidares em seu enunciar altivo e impacientes com a eloquência de púlpito, exprimem entretanto algo de incontrovertivelmente moderno; não buscam constituir leis ou regras, não têm caráter normativo. Tratam-se de observações sobre o homem, como os Ensaios de Montaigne, o verdadeiro precursor. É justamente esse desprendimento, expresso sob uma forma generalizante que paradoxalmente desconfia da universalidade, que torna a qualificação literal de moraliste contestável. Como Nietzsche, leitor ávido que aprofundaria vertiginosamente algumas das lucubrações das Máximas, La Rochefoucauld percebeu a desmesura entre o preceito e o feito. Diferentemente do pensador alemão, La Rochefoucauld compartilhava porém um certo pessimismo então corrente, de inspiração religiosa, que entendia que o descompasso entre a conduta ideal e o governo efetivo devia-se ao estado corrompido, pós-edênico do homem, que somente a graça divina poderia reverter. O pano de fundo desse livro extraordinário é a grande polêmica jansenista, um dos episódios fundamentais da história intelectual da França.
Os jesuítas professavam uma doutrina que considerava o papel da confissão, dos atos de caridade e dos trabalhos de fé na conferência da graça, ressaltando a participação do homem em sua própria salvação. O bispo de Ypres, Cornelius Jansenius, acusou a debilidade da posição jesuítica, acusando-a de corromper a mensagem cristã por deslocar o papel central do pecado original, e comparando-a com a antiquíssima heresia de Pelagius, atacado por Santo Agostinho. Publicado em 1640, o Augustinus de Jansenius reiterava a doutrina de Agostinho sobre a necessidade da graça para a salvação dos eleitos, estimulando o rigor ascético e acirrando a indisposição à autoridade do Papa em plena Contrarreforma. É nesse palco que se desdobra a dialética de uma visão dir-se-ia negativa da natureza humana: a análise das paixões, comum à escolástica, aqui se encontra com a psicologia confessoral do fiel. A confissão da alma se identifica lentamente com a analítica do espírito, e esse encontro busca nova expressão. O teor de toda uma longa linhagem da literatura francesa se configura neste momento.
Espíritos corrompidos
Como não poderia deixar de ser, porém, é um equívoco enquadrar La Rochefoucauld como pensador jansenista. Conta-se nos dedos de uma mão as vezes em que lemos algo sobre Deus ou a Providência no decorrer do livro. No prefácio à quinta edição, de 1678, o autor explica que as Máximas se dirigem somente àqueles espíritos corrompidos, não contemplados pela graça, ao mesmo tempo em que menciona a excelente resposta obtida junto aos leitores. Será esse reconhecimento um ato de cinismo? É difícil dizer. Pode-se conjeturar, ao mesmo tempo, que a visão radicalmente pessimista das Reflexões é menos o produto de uma vida em um ambiente impregnado pelo espírito de uma antropologia da impotência, do que o resultado das experiências de um calejado homem de ação, comprometido com jogos de poder. Pois La Rochefoucauld não foi um acadêmico, tampouco um clérigo. Nascido em 1613 em uma família aristocrática, François casou-se aos 14 anos com Andrée de Vivonne, com quem teria oito filhos. Aos 15 anos participou da campanha militar francesa contra a Espanha; em 1635, contra a Holanda. Por cinco anos manteve uma amante, a duquesa de Longueville, prima do rei. Em 1650, com a morte do pai, torna-se Duque de La Rochefoucauld, após um período que viu a progressiva perda de poder da aristocracia e sua concentração nas mãos do rei. Insatisfeito com tais desdobramentos, envolve-se em conspirações contra o trono; é enviado à Bastilha e depois exilado. Na guerra civil da Fronde, luta contra as forças de Luís XIV e seu ministro Mazarin. Em duas oportunidades é gravemente ferido em combate. Em 1652 o Rei perdoa os rebeldes, e La Rochefoucauld se retrai da vida pública do país; daí para frente frequentará os salões literários com gente como Jacques Esprit e a Madame de Sablé, que tinha fortes conexões com a comunidade jansenista. Esses serão os primeiros leitores das Reflexões, que ele começa a preparar provavelmente no fim da década de 1650, e que expandirá até o fim da vida.
A história editorial da obra é fascinante e merecia ser contada nessa edição brasileira, que inclui, apesar disso, as máximas rejeitadas, removidas e adicionadas nas diferentes edições. A tradução elegante da experiente Rosa Freire D’Aguiar acerta ao manter a ambiguidade onde La Rochefoucauld é ambíguo, e a obscuridade onde ele é obscuro: “A gravidade é um mistério do corpo inventado para esconder os defeitos do espírito”, ou “o fim do mal é um bem; o fim do bem é um mal”. A vaidade é um tema recorrente, e La Rochefoucauld não é livre de maneirismos, como se vê. Às vezes o seu excesso de transparência não passa da impudência do estilista, que condena a vaidade mas passa a vida editando e polindo o próprio livro. Por vezes parece simplesmente confuso ou insincero, quando diz: “A humildade é a verdadeira prova das virtudes cristãs”, em um livro que começa dizendo que “as nossas virtudes são, no mais das vezes, apenas vícios disfarçados”. Em outras, o excesso de razão parece pouco mais do que uma afetação: “No trato da vida, agradamos mais comumente por nossos defeitos do que por nossas qualidades”. O que dizer de uma máxima otimista como “sempre podemos o que queremos, contanto que queiramos muito”, presente na primeira edição, que entraria para o repertório comum de muitas línguas, e que o autor descartou em todas as edições subsequentes? E do que exatamente ele está a falar, quando escreve: “grande loucura é querer ser sábio sozinho”? Sozinho como? Isolado dos homens, de Deus ou de tudo? Será que o homem que escreve que “a virtude não iria tão longe se a vaidade não lhe fizesse companhia” acredita em salvação?
Complexidades insondáveis
A limpidez do estilo de La Rochefoucauld guarda complexidades insondáveis e revela uma mente penetrante. Os insights psicológicos procedem de um exame grave das paixões, que para o autor constituem, muito mais do que a razão, os verdadeiros regentes da vida, sobretudo aquilo que ele chama vagamente de amor-próprio, ao redor do qual gravitam orgulho, vaidade e demais vícios e virtudes. Percebe valores ambivalentes: “o orgulho, que nos inspira tanta inveja, também costuma nos servir para moderá-la”; e o predomínio da vontade sobre a moral: “o interesse recorre a virtudes e vícios de todo tipo”. E deixa-nos frases que se alinham facilmente com os debates mais pujantes de nossos dias: “Mais fácil é conhecer o homem em geral do que conhecer um homem em particular”; “Não raro nos envergonharíamos de nossas mais belas ações se o mundo visse todos os motivos que as produzem”.
Antecipa Nietzsche, entrevendo o ressentimento como força de motivação, assim como a arbitrariedade da moral universal: “Fez-se da moderação uma virtude para limitar a ambição dos grandes homens e consolar os medíocres de sua pouca fortuna e seu pouco mérito”. E dá uma contribuição para uma genealogia da moral: “Os filósofos, e Sêneca em especial, não eliminaram os crimes com seus preceitos: apenas os empregaram na construção do orgulho”. É impossível cobrir todas as contingências no espaço de uma resenha. Mas também é verdade que mesmo um livro não resolveria o problema da interpretação do conjunto da obra de La Rochefoucauld. Parece-nos claro que as Máximas guardam relação umas com as outras, mas que tipo de relação exatamente? Se elas não pintam uma imagem total, tampouco nos deixam a impressão de incoerência. Ao contrário da obra de seu colega Esprit, as sentenças do Duque não constroem um sistema e, pelo contrário, parecem indicar uma incredulidade hostil às sistematizações. O crítico suíço Jean Starobinski sugeriu que a forma das Reflexões, descontínua porém sempre em relação direta ou de deliberada incompatibilidade entre suas partes, teria surgido como resposta a uma experiência de descontinuidade da vida. Essa experiência não totalizável é o homem e, assim, a descontinuidade e a não-sistematização reclamariam formas de expressão adequadas ao objeto em questão. É uma tese interessante. Mas outros moralistes, como La Fontaine e La Bruyère, investigaram abismos análogos, e escreveram em outras formas, menos fragmentárias e, talvez por essa razão, menos visíveis no horizonte do século 20.
Lemos La Rochefoucauld e nos identificamos com o seu espanto. Alguns aplaudem, outros protestam. Perguntamo-nos se somos conforme a natureza que ele descreve, descrente dos trabalhos da virtude; e desconsideramos, não sem o cinismo que ele tão bem conhecera, justamente aquele pessimismo radical que é seu irresistível charme, que deforma e ossifica a imagem que produzimos de nós mesmos. É um livro cuja leitura não admite indiferença. Congelados na corrente imagem humana, perdemos o senso de quem somos. Voltamos a clássicos como esse para redescobrirmos, espantados, o fio condutor de nossa história no descontínuo.