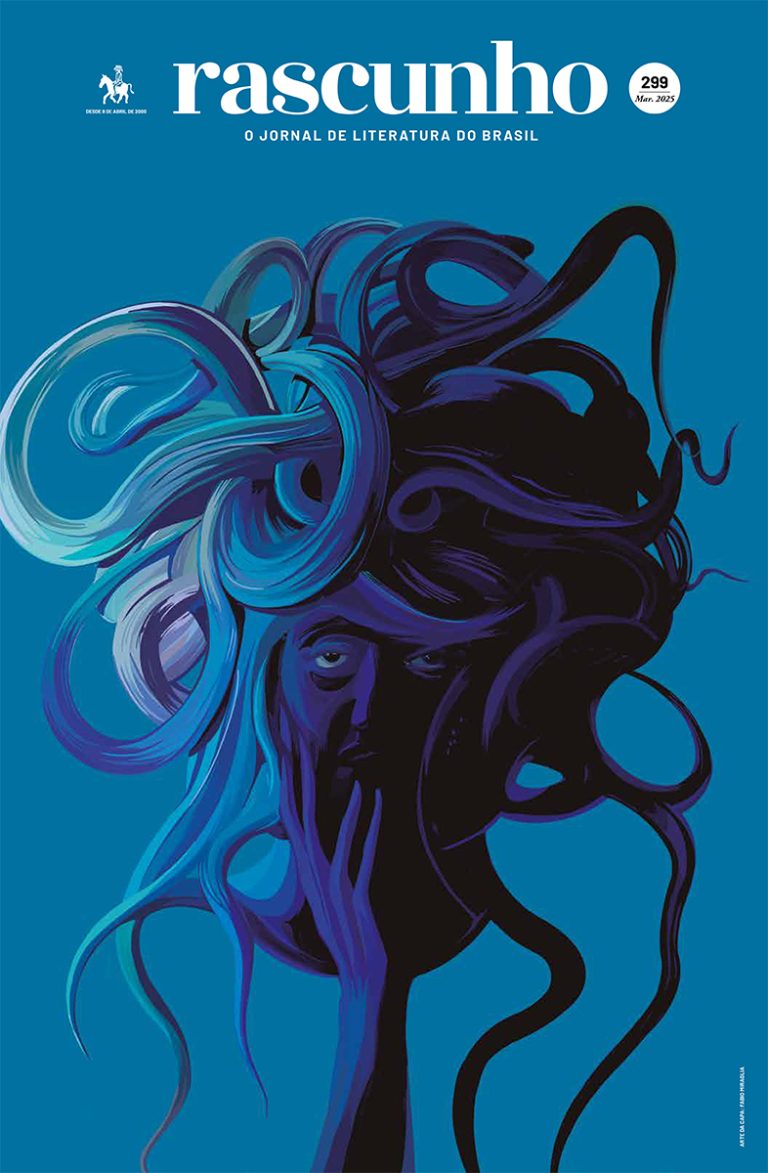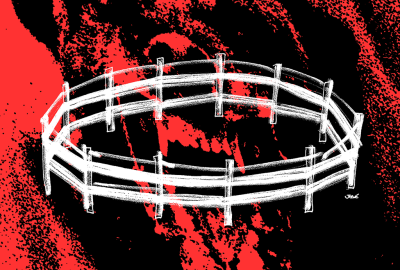Uma crise existencial e relações familiares truncadas colocam o narrador de Lívia e o cemitério africano em movimento. Ansioso por dar forma à névoa que constitui seu presente, esse arquiteto bem-sucedido, mas frustrado, tenta amarrar sua própria história e frustrações através dos outros: a mãe senil, cujas memórias estão se apagando; a misteriosa Lívia, namorada de seu falecido irmão, e seus interesses obscuros por arqueologia; e o sobrinho doente, que o narrador abriga e de quem tenta se aproximar enquanto Lívia viaja a negócios.
Tal é o curioso quarteto que encena a novela do escritor e artista plástico Alberto Martins, publicada pela Editora 34 e vencedora do APCA (prêmio da associação paulista de críticos de arte). Espécie de continuação de A história dos ossos (2005, Editora 34, vencedor do Prêmio Portugal Telecom), Lívia e o cemitério africano retoma personagens e dá sequência a temas e questionamentos importantes na obra do escritor santista, nascido em 1958: o deslocamento, o aventar das possibilidades, a experiência da coletividade e o contato com o espaço físico na paisagem litorânea ou urbana são provocações que os poemas de Cais (2002, Editora 34) e Em trânsito (2010, Companhia das Letras) também colocam, e que o próprio narrador de Lívia experimenta.
Se cada um desses livros de prosa e poesia contém seu mundo particular, é interessante encontrar no conjunto, sem determinismo, a coerência de um pensamento — elaborado em eventos trágicos e versos densos, mas também certa leveza, humor e generosidade. É por esse passeio que Alberto Martins nos conduz na entrevista a seguir.
• Os personagens de Lívia e o cemitério africano estão sempre em movimento — inclusive o olhar do narrador se desloca e volta sua atenção para as pessoas e a paisagem ao seu redor. O que eles buscam nesses deslocamentos, e que deslocamentos são esses, já que não são apenas físicos, espaciais?
Eu associo o deslocar-se à própria experiência da escrita e da leitura: ler ou escrever para sair de onde se está, para ir a algum lugar, mesmo que não saibamos que lugar é esse. Aliás, prefiro mesmo não saber de antemão que lugar é esse, mas descobri-lo no caminho. Essa é uma ideia muito arraigada em mim, e ganhou peso com a escrita de ficção, de que as coisas adquirem um desenho próprio, não a priori, mas durante o percurso em que são experimentadas. Talvez seja essa uma boa definição de “viagem”: algo que não existe antes nem depois, mas toma forma no ato de ser experimentada. A consciência mais viva de uma viagem nós a temos enquanto a realizamos — vale o mesmo para a experiência da escrita e da leitura.
Num sentido complementar, penso que o narrador e os personagens de Lívia e o cemitério africano estão em movimento porque a realidade não está dada. Quero dizer: a realidade não é evidente. Para se ter acesso ao real é preciso cavar — portanto, é preciso se deslocar, caminhar, percorrer, mudar de ângulo para tentar descobrir onde cavar. É isso que a partir de um certo momento começa a fazer o narrador do livro, movido por uma insatisfação consigo mesmo e, digamos, “empurrado” por Lívia (pois são as errâncias de Lívia que acarretam, na vida do narrador, a necessidade de mudança). Os deslocamentos se tornam para ele fontes de insights: um deles se dá numa ida breve a Buenos Aires, na casa em restauro de Victoria Ocampo; outro, quando se perde com o sobrinho pelas ruas da Vila Anglo, em São Paulo; outro ainda, quando conversa com Lívia na prisão. Resumindo: o deslocar-se tem a ver com sair de si e encontrar outros ângulos para mirar a realidade.
• A relação do indivíduo com o espaço urbano é um dos temas de Em trânsito (cujos poemas estão sempre a perguntar “quem”: quem anda, quem fala, quem está lá?), e reaparece como preocupação do narrador de Lívia e de A história dos ossos. De onde vem essa preocupação com a cidade, que lugar ela ocupa na sua literatura e na brasileira contemporânea?
O interesse pela cidade surgiu de forma mais concreta nos poemas de Cais, publicados em livro em 2002, mas escritos ao longo da década de 1990. Há uma frase do Goeldi, se não me engano, que diz que um artista deve enfiar a mão na matéria que constitui a sua vida e trazer à tona o que encontrar, seja isso o que for. Esse é o trabalho do artista, dizia ele. Nos poemas de Cais comecei a me tornar consciente disso. Ali senti forte necessidade de revolver várias camadas de história pessoal, coletiva, sensorial, etc. A matéria que eu tinha à mão, que tinha informado e ainda informava em grande parte as minhas experiências, era a paisagem do litoral com a cidade de Santos encravada entre o mar, o mangue, a serra, e ligando-se de modo mais ou menos precário às outras cidades da costa. Foi nessa matéria-forma-paisagem que tentei mergulhar. Num certo sentido, poderia ter sido qualquer outra — mas aquela era a que me dizia respeito, que me falava de perto, e nela, acredito, eu podia cavar com um pouco mais de pertinência do que em outros lugares. No fundo, o processo talvez tenha sido esse: para dar concretude a certas perguntas abstratas que me perseguiam — perguntas próprias da poesia, de quem havia lido muito Rimbaud e Mallarmé na adolescência —, eu precisei construir uma matéria-paisagem própria para encarná-las. (Parênteses: tudo que um artista precisa é de problemas concretos, não abstratos. Problemas abstratos trazem o risco de paralisar o artista; problemas concretos, encarnados, o induzem ao trabalho.) Como as paisagens são vaso-comunicantes e em certo sentido podem funcionar como matrizes de cultura ou pensamento (aprendi isso lendo Alejo Carpentier), da cidade litorânea para a cidade no alto da serra e lugares afins — foi apenas um passo. Isso posto, quero reverter a pergunta. Você indaga pelo lugar da cidade na literatura brasileira contemporânea. É claro que, por um lado, a cidade é uma condição da modernidade e não é possível imaginar a arte moderna sem a emergência das grandes cidades. Muito da arte moderna, inclusive, tomou as cidades como modelo no que diz respeito ao impacto sensorial, conceitual, à simultaneidade, etc. Esse é um dado. Por outro lado, num certo momento, na esteira da ficção de Rubem Fonseca, pareceu que o urbano era condição imprescindível para toda a ficção brasileira contemporânea. Não tenho uma leitura sistematizada a respeito, mas desconfio que não é mais isso que ocorre, e que boa parte dos ficcionistas tem trabalhado dentro e fora do quadro das cidades. Voltando a Lívia. Há um pequeno capítulo em que o narrador diz que gostava de rodar por estradinhas vicinais e ver como a cidade acabava aos trancos, de maneira improvisada — ou então não acabava nunca e se prolongava numa zona indefinida, clandestina. Logo a seguir ele diz que o que chamava sua atenção “não era tanto a passagem abrupta do asfalto para a rua de terra, mas sim a desorganização do traçado que podia ocorrer numa fração de segundos dentro da mesma zona, do mesmo bairro. Era como se eu pudesse assistir in loco à decomposição de um tecido e à sua reconstituição, sob outra forma, sem ordem nem planejamento aparentes”. Penso que há uma percepção generalizada, hoje, de que as nossas cidades são atravessadas por espaços de não-cidade. O que vai emergir daí como pensamento urbanístico, como forma ficcional ou como ação política, não sei dizer.
• E como o senhor observa a experiência cotidiana na poesia contemporânea?
Estou convencido de que o “cotidiano”, no fundo, não existe: usamos essa palavra como uma cobertura, um revestimento, para uma multiplicidade de acontecimentos os mais variados. Basta a gente mudar de escala, observar o muito pequeno ou o muito grande; ou deslocar um pouco o ângulo de visão (como tentam fazer o narrador e os personagens de Lívia); basta, por exemplo, mirar a copa de uma árvore de baixo para cima, na vertical, como se o céu fosse o chão, para a gente se dar conta de que a noção de “cotidiano” cai por terra, não se sustenta enquanto realidade. Mas é claro que entendo o que você quer dizer com “cotidiano” — algo que não exclui inteiramente os grandes picos de emoção, a possibilidade de toparmos com uma grande falha geológica, mas que é constituído grosso modo por uma matéria conhecida, que está ao alcance da mão, e cujas formas se repetem. Ora, como não vivemos fora do tempo, mas dentro dele, permeados por ele, e uma boa parte de nossa existência se dá justamente nisso que estamos chamando de “cotidiano”, nenhum poema, nenhum edifício, nenhuma canção pode prescindir do aporte às vezes magro, mas às vezes muito generoso, do cotidiano. Por outro lado, o que estamos chamando de “cotidiano” tem sido alvo de tamanha pressão, tamanho achatamento, tamanha padronização em quase todos os lugares, que talvez a aparentemente simples “notação do cotidiano” não tenha hoje a força de descongelamento, de beleza irreverente e imprevisível que teve em outros tempos, como no primeiro modernismo ou na poesia marginal sob o regime militar. Digo talvez. É apenas uma hipótese — pois, no fundo, tudo depende do ouvido do poeta e do leitor.
• Quando o narrador de Lívia se dá conta de sua frustração profissional e decide realizar novos projetos, ele passa a circular pela cidade, observá-la e o ir e vir das pessoas. O eu-narrador de Em trânsito parece fazer um movimento similar: é infiltrado por e se insere no espaço urbano, atribuindo-lhes novos sentidos, como se estivesse a (re)descobri-lo. O que desencadeou esse movimento no senhor e de que modo pretende interagir com a realidade e sua experiência a partir da literatura?
Começo respondendo pelo fim: penso que para alguém que escreve (ou que dirige um carro ou que empilha tijolos ou que faz música ou que rouba carteiras, etc.), a forma básica de sua interação com a realidade se dá através da prática desse fazer. Não que as outras experiências (afetivas, profissionais, de classe, etc.) não contem — contam e muito —, mas todas elas são permeadas por um certo tipo de tensão que se estabelece entre a matéria e o modo de operar próprio desse fazer. Isso vale para um poeta e para qualquer trabalhador. Assim, voltando à sua pergunta de forma direta: eu pretendo interagir com a realidade a partir da poesia (o que pressupõe, como diz o narrador de O homem sem qualidades, desenvolver mais do que o senso de realidade, o senso das possibilidades) — e espero que os leitores façam o mesmo. Engatando com a pergunta e a resposta anteriores, percebo que as andanças e explorações que existem nos poemas de Cais foram decisivas para muitas passagens de A história dos ossos; e que o infiltrar-se e ser infiltrado pela cidade que você apontou nos poemas de Em trânsito, fundamentais para os deslocamentos do narrador e dos personagens de Lívia e o cemitério africano. Talvez exista aí um modus operandi, como se os poemas fossem na frente, abrindo caminho, revolvendo a terra, fazendo perguntas — e o trabalho de ficção viesse em seguida, dando outra forma a algo que foi explorado anteriormente, não sei — a pensar.
• Nesse sentido, A história dos ossos (2005) ecoa temas de seu livro anterior, Cais (2002), e fornece o narrador de Lívia e o cemitério africano, publicado oito anos depois. De onde vem essa necessidade, talvez, de continuidade entre as obras? Teria relação com algo não terminado?
Com A história dos ossos, tive a sensação de ter tocado uma matéria que me permitia expandir e dar forma a muitas interrogações que me interessavam. E, de fato, passados um ou dois anos da publicação, comecei a sentir que o tempo agia sobre aqueles personagens, transformava o núcleo daquela novela e eu tinha mais coisas a dizer a respeito. Foi daí que surgiu a necessidade de escrever Lívia e o cemitério africano. Conheço artistas que preferem que cada trabalho seu surja sem conexão alguma com o anterior — e eu percebo a liberdade e a graça que há nisso. Não vejo problema algum. Acontece que a metáfora do “escrever” como “cavar” tem uma pertinência grande para mim; e quando você começa a cavar, você se depara com água, com pedras, com raízes, com túneis de bichos, com ossadas, eventualmente com petróleo… mas, antes de mais nada, com veios. E a vontade de seguir um veio e ver aonde ele vai dar é muito forte e comanda a invenção. Quanto ao inacabado, ao não terminado, ele é sempre uma tensão — em grande medida é isso que move o artista: o ainda não formado move a forma.
• Lívia trabalha com arqueologia — ossos, em especial, os quais possuem uma solidez, algo de final e definitivo que contrasta com as memórias estilhaçadas dos personagens. A questão também surge na sua poesia e, por exemplo, em A história dos ossos, em que o narrador deve se desfazer dos restos mortais de seu pai, enquanto é assombrado pela sua memória. A recorrência dos ossos é proposital? Por que ela acontece?
Eu aceito as recorrências, não me preocupo muito em compreendê-las fora da lógica poética em que estão imersas; ali, sim, no poema, na narrativa, elas precisam fazer sentido; fora disso, elas não são um problema para mim. Agora que você me convida a pensar, digo: não considero que os ossos, com toda a carga de finitude que trazem, se contraponham às “memórias estilhaçadas”, aos estilhaços da memória. Ao contrário, nós só temos acesso aos ossos de forma estilhaçada. De modo muito concreto: numa escavação arqueológica, por exemplo, é muito raro se deparar com um esqueleto completo — e mesmo que esteja completo, ele terá de ser reconstituído porque a matéria que dava liga aos ossos — os nervos, os músculos, a carne —, esta já se foi. Pensando juntos: talvez o processo de reconstituição de um esqueleto, da estrutura de um animal, tenha muito a ver com o processo de reconstituição da memória; eles se dão por partes. Esqueletos e memórias são montados. E sempre admiro a atenção de quem se dedica a remontar esses encaixes: lembro, por exemplo, de um muro incaico no Peru que havia sofrido o impacto de um terremoto. Um estudioso passou anos e anos remontando aquelas pedras, encaixe por encaixe, na forma que se acreditava mais próxima do original. Para não ir tão longe: me admiro até hoje com o esqueleto de baleia que existe no Museu de Pesca, na Ponta da Praia, em Santos, diante do mar — o esqueleto de uma baleia que encalhou na praia de Peruíbe no começo dos anos 1940. Ele foi transportado, peça por peça, para o museu e lá precisou ser remontado com resina e arames, se não estou enganado. É muito comum, em fortes e outros lugares da costa brasileira, nos depararmos com vértebras e costelas de baleia encostadas num muro qualquer, ao relento. Ficam por ali como a reminiscência de alguma outra coisa para a qual não conseguimos encontrar forma nem lugar.
• “O”, em Cais, diz que “Até o poema/ esse animal submarino// morre afogado/ quando arrasta à superfície// apenas água/ água e seus resquícios”. Como o senhor lida com a impossibilidade de nomear certas coisas e experiências, a iminência da linguagem?
Me parece que a tensão de lidar com coisas e experiências difíceis, ou impossíveis, de nomear é inerente à poesia, não? Um poema lida com a linguagem, mas lida também, de maneira implícita, menos visível, com o que está aquém e além da linguagem. Talvez essa seja uma exigência também para a leitura, para um leitor, que deve saber ouvir a linguagem, mas também o que está aquém e além dela. Mudando o registro. Uma vez tive um sonho que se relaciona de alguma maneira com os versos que você citou acima. Antes de contar o sonho preciso dizer que agora, quando o recordo, ele me parece ter algo de chavão (bom, nem todos os sonhos são originais; como não poderia deixar de ser, eles também são contaminados por chavões…), pois tem algo que lembra O velho e o mar, do Hemingway. Ou pode ser também que, levado por associações, eu tenha adulterado o sonho ao acordar. De todo modo, meu sonho não é uma narrativa, ele tem apenas duas ou três sequências. Na primeira, estou de pé numa jangada bastante precária, num braço de mar que poderia ser o Mar Pequeno entre Cananeia e Ilha Comprida (poderia ser também o braço de mar que existe entre Valença e a ilha de Boipeba, na Bahia, mas estou quase certo de que a cena se passa diante de Cananeia), e de repente pesco — ou salta para cima da jangada — uma quantidade tão grande de peixes que a jangada se desfaz e então eu caio n’água e depois volto à superfície sem nada nas mãos. Chavão ou não, esse sonho tem certa eficácia para mim.

• Lívia viveu um breve período de efervescência cultural que surgiu (ou insurgiu) em meio à ditadura militar, para logo ser abafado por esta — gerando, com o desmantelamento de cursos, produção e debates artísticos, “um atraso irrecuperável na vida da cidade”: “Porém, para os mais novos […] as consequências foram ainda mais duras — passageiros de um trem em alta velocidade, de uma hora para outra sentiram uma força muito poderosa arrancar os trilhos do solo: cada um se viu sozinho no meio das ferragens, tendo que salvar a pele e, no máximo, a bagagem de mão”, conta o narrador. O senhor ingressou no curso de Letras em 1976. Como foi a sua formação nesse período?
Muito sagaz ter escolhido esse trecho e me perguntar sobre minha formação em Letras. De certo modo, era a todo esse conjunto de coisas que eu queria aludir nessa passagem de Lívia. O que faz intencionalmente uma ditadura quando censura, prende, expulsa, tortura, proíbe e mata? A curto prazo sabemos o que ela faz. Mas a longo, o que ela faz é, entre muitas outras coisas, quebrar as cadeias de transmissão da cultura. Com isso, ela vai espalhando na sociedade, e sobretudo entre os mais jovens, aqueles que estão “desembarcando na praia” pela primeira vez, que estão começando a se formar, uma sensação de exílio — de exílio interno, dentro do país e de si mesmos. Sem a cadeia de transmissão, o esforço comum se torna mais difícil, desconectado, os gestos perdem alcance, as escolhas se tornam individuais e exclusivas — o regime da exclusão predomina, em todas as esferas da vida pública e privada, sobre o regime da inclusão. Assim as próprias escolhas de vida de uma geração que cresce sob uma ditadura se tornam, sem que ela se dê conta disso na maioria dos casos, muito mais limitadas. Por isso, é importante lembrar de que o efeito de uma intervenção militar na escala da que houve no Brasil e nos outros países da América do Sul não cessa quando se muda o regime, quando se passa da “ditadura” para uma “normalidade democrática” — ele persevera no conjunto da sociedade, nas pessoas e nas instituições, por muito tempo. Em suma, para conquistar algum grau de autonomia em relação às escolhas da própria vida é preciso remontar o quebra-cabeça — e isso leva tempo. Só o consegui fazer muito depois de terminado o curso de Letras.
• A primeira novela — suas primeiras anotações, ao menos — de A história dos ossos surgiu em 1978. O que, na época, impediu sua finalização? E como o senhor a concluiu?
O que impediu sua finalização é que as anotações, iniciadas em 1978, se tornaram labirínticas a ponto de colocarem em risco a própria vida do sujeito que escrevia. Só pude concluir a novela quando já era outra pessoa. Outras coisas influíram também, eu fui durante muito tempo um mau leitor de ficção. Então houve um ponto de virada: Palmeiras selvagens, do Faulkner. Quando li aquilo (sobretudo a novela do presidiário solto numa canoa durante uma enchente do Mississippi), pensei, se isso é ficção, também consigo escrever. E logo em seguida escrevi e terminei um conto de quinze páginas. Isso me deu ânimo para atacar A história dos ossos.
• O narrador de Lívia faz uma série de questionamentos sobre sua profissão — o que ela significa para o mundo e para si mesmo; o que ela pode atingir. Atualmente, qual indagação o assombra?
Há uma pergunta em Lívia que continua muito viva para mim. Ela é formulada em dois momentos na página 92 do livro. Primeiro, quando o narrador diz que os esforços que ele “realizava de forma anônima na bancada do escritório”, esboçando experimentalmente pequenos modelos de pontes ou esculturas que ninguém havia lhe encomendado, ele reconhecia que, ainda que nunca fossem construídos, aqueles esforços “faziam parte do trabalho comum da cidade”. De fato, existe algo no trabalho de arte que é comum a todas as pessoas, que não é exclusivo do artista — algo anônimo e coletivo, que constitui a potência do trabalho e deveria ser acessado por qualquer um, a qualquer momento, entre outras razões, simplesmente para que se reconheça de maneira coletiva aquele “senso das possibilidades”, que constitui a poesia e de que falávamos acima. O segundo momento da pergunta é justamente esse: se existe uma força de mesma natureza no trabalho do artista e no trabalho de anônimo comum, “como passar da escala de bancada para a escala real, coletiva, da cidade”? A pergunta continua em aberto.
Segundo Plínio, o Velho
Não havia pintura alguma
no reboco da casa de Apeles.
Não estava ainda na moda
cobrir o interior das casas
com pintura.
Mais adiante, ele continua:
a arte
estava a serviço da cidade
e o pintor era um bem comum
de toda a terra