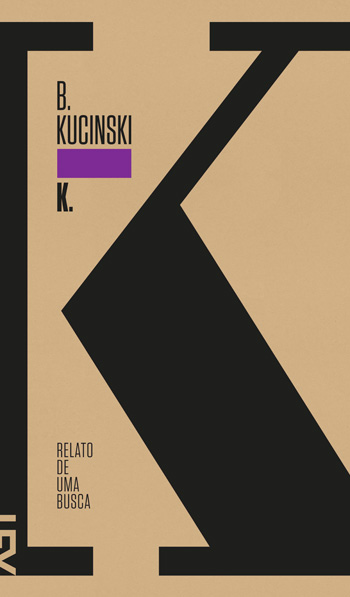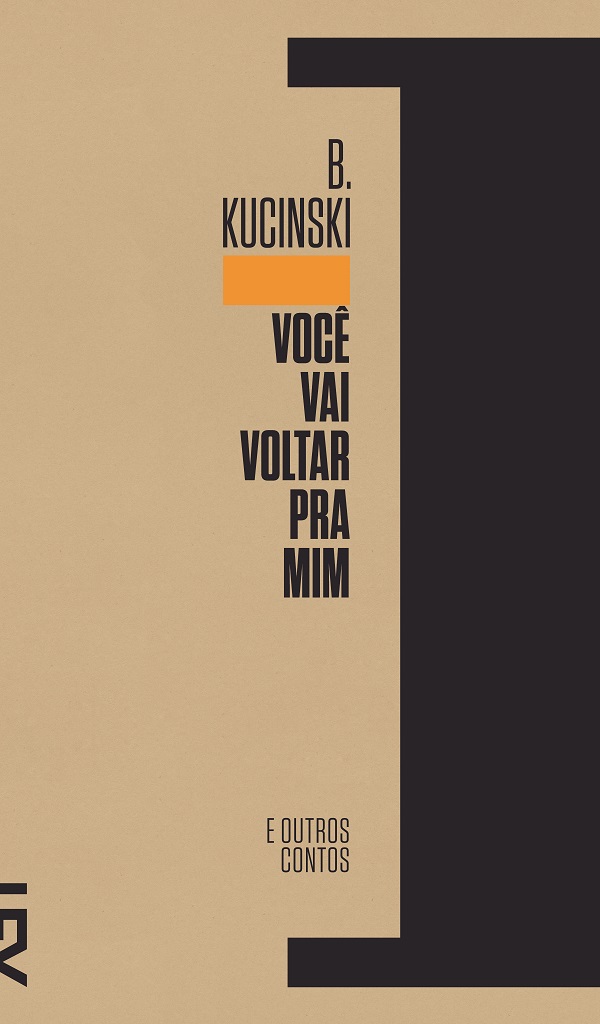Bernardo Kucinski é um caso raro na literatura brasileira. Estreou após completar 70 anos e seu primeiro livro — lançado por uma pequena editora — ganhou o mundo, com traduções para o alemão, espanhol, italiano e hebraico. Agora, corre contra o tempo com um fôlego impressionante. K. — o celebrado romance de estreia — acaba de ganhar a terceira edição pela Cosac Naify, que também lança a coletânea de contos Você vai voltar pra mim. A coletânea traz “apenas” 28 textos. Quase nada, levando em consideração que, entre junho de 2010 e junho de 2013, Kucinski escreveu cerca de 150 contos. Algo espantoso: média de um conto por semana. “Lamento ter começado tão tarde”, diz em determinado momento desta entrevista concedida por e-mail. O começo tardio não o impediu de deixar sua marca: é o autor cuja obra é referência ao abordar o período da ditadura no Brasil. A repressão militar está no centro de todos os textos do autor. “A memória coletiva da ditadura é ambígua e vaga. Seu registro mais e mais vai se tornando uma imagem difusa e desimportante na nossa memória histórica”, afirma. É contra este desinteresse que a ficção de Kucinski trava uma batalha das mais interessantes. A seguir, o autor fala, principalmente, de como a literatura transformou a sua vida a partir da publicação de K.
• O romance K. e os contos de Você vai voltar pra mim têm a ditadura militar brasileira em seu epicentro, como algo perpétuo, aterrorizador. Por que desta escolha para iniciar sua carreira na literatura?
K. foi meu primeiro livro publicado mas não minha primeira ficção. Eu me sentia enfadado do jornalismo, do governo, da academia, da política, da ciência econômica, de que tanto gostava, e um pouco sem ter o que fazer, depois de ser aposentado da universidade pela compulsória. Nessa época, um pesquisador do Museu do Holocausto de Jerusalém, o Avraham Milgram, pediu-me para escrever uma memória sobre meus tempos de infância e juventude no Brasil como parte de um projeto no qual outros jovens que haviam decidido emigrar para o recém-proclamado Estado de Israel e viver nas colônias coletivas (kibutz) também escreveriam. Salvo alguma imprecisão da minha parte, Milgram inspirou-se num outro projeto em que jovens judeus da Polônia escreveram sobre suas vivências nos anos anteriores durante a invasão nazista. Pouco antes, eu também havia escrito uma memória, para a coletânea O Brasil dos correspondentes estrangeiros, mas menos intimista do que o que escrevi para o projeto do Milgram. O fato é que nossa utopia nas colônias coletivas não deu muito certo e no relato eu tento entender por que tudo aconteceu como aconteceu. Creio que esse texto inaugura meu mergulho em direção ao autoconhecimento através da escrita. (A coletânea e o livro do Milgram, que se chama Fragmentos, estão publicados.) Estava nessa estação da vida , uma espécie de outono, quando, numa viagem de retorno de Israel, li no avião uma novela policial da Batya Gur, escritora já falecida, que tinha como método mergulhar num determinado ambiente e, a pretexto de elucidar um crime, fazer uma sociologia completa desse lugar ou comunidade. Havia tempos eu queria escrever algo expondo a decadência do mundo acadêmico de hoje no Brasil, as picuinhas, as disputas por cargos, a apropriação do trabalho feminino, a luta pela pontuação no CNPq. Tudo isso. Pensei: vou fazer como a Batya Gur, em vez de me dar ao trabalho de uma reportagem jornalística ou um texto acadêmico, ambos necessitando corroborações, provas e quetais, vou escrever um romance policial expondo tudo isso. No romance não preciso provar nada. Tudo é invenção. No avião mesmo, defini a vítima, os quatro suspeitos, cada um portador de um problema que eu queria expor. Escrevi essa novela com extrema facilidade. E foi isso que me iniciou na ficção. Essa novela deverá sair no segundo semestre pela Rocco. Depois da novela não parei mais. Comecei a escrever contos, alguns deles publicados na Revista do Brasil. No meio desses processos, sem perceber, dei à luz K. Os contos sobre a repressão fazem parte de um conjunto muito grande que contém contos sobre muitos outros temas. A minha editora da Cosac Naify, a Marta Garcia, optou por uma antologia em torno desse tema, creio que para combinar com o lançamento da terceira edição de K.
• Ao trazer a ditadura militar (e todas as suas consequências) para a sua obra, o senhor não chegou a temer uma repetição exaustiva?
Não. Tanto assim que já escrevi mais duas novelas, ainda não publicadas, nas quais a ditadura também está como pano de fundo (numa delas) e tema central (em outra). Às vezes, penso mesmo que a grande novela ou romance sobre esse período ainda precisa ser escrito. E lamento ter começado tão tarde e não ter mais o tempo e talvez a capacidade para isso. Aliás, mesmo depois de publicado o livro de contos, escrevi mais três contos com esse tema. É um tema que me motiva e ao mesmo tempo me comove. Não vejo nenhum motivo para abandoná-lo. Ele se impõe. Ele não está de forma nenhuma exaurido.
• Em um texto sobre seus livros, José Castello escreveu que a literatura, no seu caso, seria “um exercício de libertação”. O senhor concorda?
Sim, concordo. Sinto-me renovado e, nesse sentido, libertado. Já como jornalista, minha crítica a sofismas e reducionismos nos veículos alternativos com os quais mais colaborava vinha criando situações de desconforto. Isso também me empurrou para a ficção, na qual me sinto totalmente imune a patrulhamentos. Nunca pensei que houvesse um ofício ainda mais libertário e libertador do que o jornalismo. Mas há: é a literatura, a ficção, o ofício de escritor.
• Qual a força da literatura diante da barbárie, das atrocidades do mundo?
Nenhuma. Acho. Houve livros que mexeram com a humanidade, fizeram política, fizeram história, como A origem das espécies, de Darwin; O capital, de Marx; A interpretação dos sonhos, de Freud; o Common sense, de Thomas Paine. Mas todos eram livros científicos ou políticos, não eram ficção, não eram literatura. A única força da literatura é espiritual e se manifesta em geral na exumação das tragédias da humanidade. Os grandes desastres e transformações da humanidade, certamente, desencadeiam grandes surtos literários.
• Qual a sua opinião sobre como a literatura brasileira trata o período da ditadura militar? A impressão que se tem é de que as ditaduras em países como Chile e Argentina motivaram obras de grande força. O que não acontece no Brasil, com algumas exceções.
De fato são poucos os nossos autores contemporâneos que se dedicam a esse período ou a esse tema. Há algumas obras, mas poucas, como Vidas provisórias, de Edney Silvestre. Tenho lido a maior parte das novelas e romances dos últimos três anos e percebi que os melhores romances não tratam desse tema. Desde Milton Hatoum, passando por José Castello até Luiz Rufatto e Cristovão Tezza, livros como Dois irmãos, Ribamar, Eles eram muitos cavalos, O filho eterno, nenhum deles trata disso de que estamos falando. Parece que a alma brasileira não se interessa por esse tema. O tema não lhe diz nada. E os escritores das novas gerações são portadores desse desinteresse em relação à tragédia da ditadura. Ou porque se impõem problemas novos, numa era de profundas mudanças de comportamento. Na raiz disso, creio que está o fato de que ditadura brasileira não deixou no todo da nossa sociedade um trauma para ser resolvido, diferentemente do que aconteceu no Chile e na Argentina. A memória coletiva da ditadura é ambígua e vaga. Seu registro mais e mais vai se tornando uma imagem difusa e desimportante na nossa memória histórica.
• Qual o melhor caminho para evitar que o registro da ditadura militar se torne “uma imagem difusa e desimportante na nossa memória histórica”.
Creio que se deveria desenvolver uma política pública específica com esse fim, abrangendo os principais ambientes de socialização dos nossos jovens: escolas, televisão pública, museus, clubes e centros culturais. Estive recentemente em Colônia (Alemanha), onde visitei a sede da antiga Gestado, hoje transformada em museu, e testemunhei caravanas de estudantes informando-se detalhadamente sobre o que foi o nazismo. Depois, discutindo com uma brasileira, minha cicerone, a Marcia, eu soube que no currículo escolar alemão o estudo do nazismo é obrigatório em duas séries escolares. E todo aluno deve visitar um dos muitos museus do nazismo. Ainda questionei como fazer a crítica do nazismo sem derrubar a autoestima do jovem alemão de hoje, que nada teve a ver com aquilo tudo. Ela me explicou que um dos mecanismos é o de ressaltar que houve também grupos resistentes, aliás, centenas deles, em especial entre os jovens.
• E, no geral, qual a sua opinião sobre a literatura brasileira contemporânea?
Li muitas, mas não a maioria das obras recentes. Portanto, minha visão é parcial. Algumas obras me encantaram. Não vou citá-las para não cometer injustiças. Mas muitas tratam de temas ou situações irrelevantes ou se valem de uma linguagem banal. Incomoda-me principalmente a linguagem banal ou pouco trabalhada.
• De que maneira a ditadura militar o marcou como cidadão? Quais as cicatrizes que este período da história do Brasil deixou no senhor?
A marca que se impôs foi a do desaparecimento da minha irmã e de meu cunhado. Todo o resto, em especial a censura nos jornais alternativos em que trabalhei, o exílio voluntário de quatro anos, foram meros percalços, frente à tragédia que se abateu sobre minha família. Eu diria que a ditadura ofereceu a nós jornalistas da época uma oportunidade — sem dúvida dramática — de nos realizarmos como pessoas e como criadores. De transcendermos o trabalho banal e o comodato com o poder. Muitos dos nossos grandes jornalistas foram forjados pelas condições da ditadura, assim como muitos jornais alternativos talvez não tivessem existido, sem o fator ditadura.
• O senhor começou a se dedicar à literatura como autor após os 70 anos. E publicou o primeiro livro aos 74 anos. Por que a estreia tão tardia?
Porque me deixei levar tempo demais pela sedução do jornalismo. Hoje me arrependo, não do jornalismo que pratiquei, mas de não ter percebido antes que tinha alguma vocação literária e, principalmente, que a literatura podia ser mais importante que o jornalismo. Eu poderia ter começado cinco ou dez anos antes. O jornalismo não teria perdido nada e minha ficção talvez tivesse ganhado algo.
• Comparativamente, qual tipo de escrita lhe dá mais prazer: a literária ou a jornalística?
A comparação se c0mplica porque eu decidi não exercer os dois ofícios ao mesmo tempo. Ao começar a escrever ficção, abandonei de vez o jornalismo. Feita essa ressalva, admito que a literatura me dá hoje toda a satisfação que uma escrita poderia dar. E muito mais do que o jornalismo me deu.
• K. teve grande repercussão no Brasil e já ganhou tradução para vários países. A que o senhor credita o sucesso do romance?
Atribuo o interesse de espanhóis e alemães, principalmente, pelos aspectos universais da narrativa, tocando em questões que afetaram esses povos mais ainda do que aqui, como os desaparecimentos da era franquista, as delações na Alemanha Oriental, a impunidade dos repressores, a impotência das vítimas. No caso da edição em hebraico, que deve sair ainda este ano, e da edição em italiano, prevista para 2015, o interesse vem essencialmente dos conteúdos judaicos da narrativa, que por sua vez também são universais.
• A estrutura narrativa de K. se aproxima muito de uma coletânea de contos, amarrados de maneira a dar uma unidade ao livro. Você vai voltar pra mim são 28 contos breves. A narrativa curta é o que mais o atrai na criação literária?
Percebi que me realizo bem em narrativas curtas e secas, nas quais não é necessário explicitar ou trabalhar exaustivamente os personagens e os ambientes. Nos contos transmite-se através de referências, por assim dizer, simbólicas.
• A nota de abertura de Você vai voltar pra mim há uma informação até certo ponto espantosa: o senhor escreveu 150 contos entre junho de 2010 e junho de 2013. Seriam 50 contos por ano. Ou um texto por semana. Isso caracteriza uma produção das mais intensas. Como é a sua rotina de escritor?
Sim, escrevi cerca de 150 contos nos últimos três anos, incluindo os capítulos de K., que funcionam como contos autônomos, e os da coletânea Você vai voltar pra mim. Ou seja, ainda sobram uns 90 para serem publicados. De fato, houve uma ocasião em que decidi: esta semana, vou escrever um conto por dia. E escrevi. Cinco dias, cinco contos. Noutra ocasião decidi: vou imitar escritores famosos. E imitei. O conto da Beata Vavá, da coletânea, faz parte dessa fase, a sua abertura é a mesma de Mais uma volta no parafuso. Escrevi um conto de Natal imitando O acontecimento, de Tchekhov, outro imitando o famoso Missa do galo, de Machado de Assis. Depois, abandonei isso porque me senti como esses falsificadores de pintores famosos. E senti também que isso prejudicava minha busca de um estilo próprio. Atualmente, estou numa fase mais adequada a essa necessidade de aprimoramento, inspirando-me em parte no minimalismo de Dalton Trevisan, e em parte na descrição seca e direta de Hemingway, mas sem mimetizar nada. O meu método básico é ouvir histórias de pessoas e anotar em pequenas cadernetas. Também frases ou falas significativas. Muitos dos meus contos nasceram de uma única frase. Por exemplo, a menina diz para avô: “Vô, quando eu fizer 18 anos eu vou procurar meu pai”. Isso tem que dar um conto. Ou quando a amiga diz para a outra: “Minha filha me chama de coisa”. Ou quando o filho diz para a mãe na festa de aniversário dos sessenta anos dela: “Mãe, aproveite bem, passeie muito com suas amigas, mas não passe dos setenta”. Também quero dizer que alguns contos saem inteiros e completos, sem precisar mexer. Esses, em geral, são os bons. Outros dão trabalho, tem muita mexida. E nem sempre ficam bons.
• Repito aqui a pergunta inicial do prefácio de Maria Rita Kehl a Você vai voltar pra mim: “Quando termina a escrita de um trauma?”.
Acho que não termina nunca. Vai se metamorfoseando.
• A literatura é a melhor forma de catarse? Ou é a única forma possível no seu caso?
Na medida em que há uma catarse, e acho que no caso houve mesmo, uma nova fase se abre, com novas necessidades. A literatura me levou à catarse, Não foi a necessidade de catarse que me levou à literatura.
• É visível a influência de Kafka na sua escrita (não só pela escolha do personagem K., mas pelo clima opressivo, pelas culpas que transitam pelas páginas, etc.). Quais autores são fundamentais, imprescindíveis, na sua vida?
Li tanto a vida inteira que é mais fácil falar dos que não li, entre eles o famoso Ulysses. Para ficar nos últimos anos, autores que me impressionaram muito foram Mia Couto, de quem li, creio, todos os livros, A. B. Yehoshua e 0 novíssimo Nathan Englander. Todos muito mais pela qualidade magistral da narrativa, pela forma como trabalham a língua, do que pelos seus conteúdos.

A única força da literatura é espiritual e se manifesta em geral na exumação das tragédias da humanidade. Os grandes desastres e transformações da humanidade, certamente, desencadeiam grandes surtos literários.
• De que maneira o senhor se aproximou da literatura como leitor? Como se deu a sua formação?
Sempre fui um leitor voraz, desde que aprendi a ler. Minha mãe pegava dois livros por semana na biblioteca infantil Monteiro Lobato (em São Paulo), a quota permitida, e eu passei depois a pegar dois por semana na Biblioteca Mário de Andrade. Comecei onde todos nós começamos, com Robinson Crusoe, Monteiro Lobato, Karl May, Viriato Correia e a coleção inteira Terramarear. Na cama à noite, minha mãe vinha me repreender por ficar lendo até tão tarde. Quando saíamos de férias, na praia ou em Poços de Caldas (MG), minha primeira preocupação era procurar a biblioteca local. Mais adiante, adolescente no movimento sionista socialista, líamos todos os autores engajados dos anos 20 e 30, Richard Llewellyn, John Dos Passos, Steinbeck, Richard Wright, Silone, Jack London, Jorge Amado, Graciliano, Ehrenburg, Pearl Buck, Hemingway e por aí vai. Por influência de meu pai, vieram os contistas russos, Gogol, Pushkin, que meu pai considerava o maior contista de todos os tempos, Tchekhov, e com eles, é claro, Tolstói e Dostoievski. Numa fase posterior, de volta de Israel, lá pelos anos 60 e 70, era o momento de ler Camus, Neruda, Sartre, Malreaux, Kafka e depois João Antônio, Pelegrini, Guimarães Rosa. No intervalo do exílio voluntário, li muitos latino-americanos como Ciro Alegria, Vargas Llosa, Juan Rulfo, Benedetti. Foi a época da fama mundial do realismo mágico de García Márquez e dos Cem anos de solidão. Li também alguns ingleses, Tomas Hardy, Joyce (mas não o Ulysses), Orwell e escritores do leste europeu desconhecidos no Brasil como Victor Serge e o russo Kusnetzov, que entrevistei para as páginas amarelas da Veja. Passei depois por uma fase de muita leitura de histórias de suspense, Ellery Queen, Rex Stout, e Simenon. Creio mesmo que o estilo seco e direto da narrativa policial influenciou minha escrita. Nos últimos anos, tenho lido Amós Oz e A. B. Yehoshua, Borges, Clarice Lispector, alguns livros (os não chatos) de Saramago, e um ou outro que desponta com um novo tipo de escrita como inglês Ian McEwan e todos os livros do Mia Couto que me caíram na mão. No meio de tudo isso, reli Os sertões, Grande sertão: veredas e O pássaro da escuridão (de Eugênia Sereno) e Erico Verissimo. De dois anos para cá, tenho procurado ler todos os autores nacionais contemporâneos. Em resumo, eu diria: li muito, mas ficaram lacunas importantes de alguns clássicos, como Stendhal, Rachel de Queiroz e o pouco proveito de autores lidos antes da idade adequada, como Machado de Assis, Thomas Mann, Roger Martin du Gard, e Eça de Queiroz.
• O senhor acompanhou de perto a vida política do Brasil nos últimos 60 anos. E integrou o governo Lula. Qual a sua opinião sobre as políticas públicas para o livro e leitura desenvolvidas no país desde o fim da ditadura?
Conheço mal esse assunto, o que já dá uma indicação da pouca importância que se dá a ele no governo, pois eu escrevia um relato diário ao presidente Lula e nunca me vi obrigado a abordar a questão do livro no Brasil. Minha impressão é a de que as políticas públicas dotadas de grande vulto de recursos (compra de livros didáticos, etc.) foram apropriadas pelas grandes editoras. Há hoje algumas políticas públicas que com recursos mais modestos fazem a diferença, como esse programa que subsidia tradução de autores brasileiros no exterior.
• A literatura é também uma boa forma de vingança?
Muitos me disseram que K. é um livro-vingança. E não só contra o torturador Fleury e seus comparsas. Mas creio que só se pode dizer isso na medida em que um desejo de vingança alojado no nosso inconsciente incida na narrativa ou no processo de criação assim como outros desejos e sentimentos do inconsciente. Nunca como desejo consciente ou como um dos objetivos das narrativas.
• No mais recente romance do chileno Alejandro Zambra, Formas de voltar para casa, o narrador afirma: “Ler é cobrir a cara. E escrever é mostrá-la”. Ao escrever, que cara o senhor deseja mostrar ao seu leitor?
Não quis mostrar nada, nem responder a nada. Apenas escrevi. Mas, cometida a escrita, confesso que me deu satisfação pensar que eu surpreendi tantos que me viam como um radical inflexível e raivoso. Uma das imagens que fizeram de mim como jornalista.
• Se não é um “radical inflexível e raivoso”, quem é Bernardo Kucinski?
Resposta sucinta: é o autor de K. Resposta alternativa: é um velho jornalista e professor aposentado que deixou de ser ranzinza graças ao seu novo ofício de escritor. Resposta de algum outro: é um chato que só sabe escrever histórias da ditadura, que não interessam a ninguém.