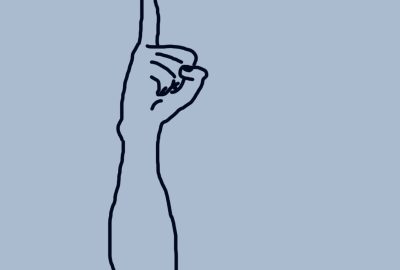Após ler Libertação, obra-prima do húngaro Sándor Márai (1900-1989), sonhei com o nascimento da poeta polonesa Wisława Szymborska (1923-2012). (A tradutora do volume de seus poemas publicado no Brasil, Regina Przybycien, nos ensina que Vissuáva Chembórska seria uma pronúncia aproximada para o corredor consonantal polonês.) A libertação ambígüa de Budapeste faz a capital rasgada pelo Danúbio passar do fascismo de direita para o fascismo de esquerda. Saem os nazistas, chegam os tanques de Stálin. Buda e Peste, de fato, se vêem cindidas. Quem chega a Budapeste de avião tem o privilégio de vislumbrar a Ilha Margarita cercada pelo Danúbio. Em meu sonho sem janelas, fecho os olhos e vejo Margarita fumegando. A Ponte das Correntes, pênsil e flutuante, parece a terceira margem do Danúbio. As placas do rio congelado deixam entrever, aqui e ali, cadáveres tão pálidos quanto a neve. Vou caminhando, descalço, e as metamorfoses da minha pele me apresentam o reverso do camaleão — ele se confunde com o arco-íris para sobreviver, minha policromia prenuncia a transição do cadáver: vermelho, roxo, negro e branco. Ausência branca. Silêncio pálido. Ali, ali está a Avenida Andrássy, ali estávamos na Casa do Terror, o bunker das torturas com a foice e o martelo. Szymborska, ainda um bebê, já descobre contra a carne que o poder transforma o corpo em resultante vetorial. “Nada mudou./ O corpo sente dor,/ necessita comer, respirar e dormir,/ tem a pele tenra e logo debaixo sangue,/ tem uma boa reserva de unhas e dentes,/ ossos frágeis, alongáveis./ Nas torturas leva-se tudo isso em conta.”
Os escombros húngaros vão sulcando a terra como um verdadeiro corredor polonês. Chegamos, a pé, a Cracóvia. Aproximadamente 294 km. Meus pés já se foram, as tíbias se tornaram muletas. A poeta me consola. “Pertenço a uma geração que acreditou. Eu acreditava.” Cracóvia medieval, vielas que oprimem os ombros, tavernas subterrâneas — ninguém quer tomar um tapa do General Inverno ao dar com a porta para a superfície —, Szymborska observa o castelo, o encouraçado do privilégio, e já consegue ver o século 20 com uma temporalidade reversa. Na câmera de gás do meu sonho, a queda do Muro de Berlim antecede o soerguimento da Cortina de Ferro. É por isso que Szymborska sobrevoa nossa época e sentencia: época do crepúsculo, “épica das corujas!”.
Coruja, ave de mau agouro. O que fizeram com você? Sua cabeça, como a Terra, gira sobre o próprio eixo. Seus 360º evitam conspirações — não há frente e costas para a ave cujo olhar transforma o horizonte em elipse. O sol se põe quando você abre as asas. A coruja só alça vôo ao entardecer, e foi assim que um velho pensador alemão imaginou que seria possível apreender a marcha da História. Quando as formas de desenvolvimento histórico já estivessem caducando, quando só fosse possível analisar o real por aquilo que ele já não é, por aquilo que poderia vir a ser — por sua desagregação, por sua crise. O mau agouro da coruja é demasiado humano. Ela voa sobre os homens quando há escombros. A épica das corujas é a culpa dos homens. Se o Eclesiastes profetiza que há tempo para plantar e tempo para arrancar o que foi plantado, tempo para a guerra e tempo para a paz, Szymborska e sua coruja apreendem que as paralelas se cruzam bem antes do infinito euclidiano — elas se embaralham entre os escombros, são deformadas como cruzes e suásticas, abrem o livro da vida com o fiat lux do Gênesis, mas a coruja não se esquece do Apocalipse como encruzilhada; para a poeta, Fim e começo:
Depois de cada guerra
alguém tem que fazer a faxina.
Colocar uma certa ordem
que afinal não se faz sozinha.
Alguém tem que jogar o entulho
para o lado da estrada
para que possam passar
os carros carregando os corpos.
Alguém tem que se atolar
no lodo e nas cinzas
em molas de sofás
em cacos de vidro
e em trapos ensanguentados.
Alguém tem que arrastar a viga
para apoiar a parede,
pôr a porta nos caixilhos,
envidraçar a janela.
A cena não rende foto
e leva anos.
E todas as câmeras já debandaram
para outra guerra.
[…]
Condenação do palhaço
Szymborska me convida para um conhaque. Praça central de Cracóvia, Galeria Fausto, século 16. Vinte degraus em declive, entrada sinuosa, uma garganta, uma gargântula, mesas rústicas, paredes de pedra bruta. Não dizemos nada um ao outro, mas o calor eriçado pelo conhaque — lágrimas cor de caramelo — insinua que invejamos a insciência da pedra. Ela não é indiferente à dor do outro. Ela simplesmente não é. Mesmo assim, “Bato à porta da pedra./ — Sou eu, me deixa entrar./ Venho por curiosidade pura./ A vida é minha ocasião única./ (…) Pouco tempo tenho para isso tudo./ Minha mortalidade devia te comover”. Silencioso paradoxo: a imortalidade da pedra desconhece a própria condição. É possível comover-se — isto é, mover-se em conjunto — se não há contigüidade de experiências? Newton nos explica que a pedra precisa do outro para (co)mover-se. O outro que, diante da esfinge, quer uma resposta, um afago. “— Sou de pedra — diz a pedra —/ e forçosamente devo manter a seriedade/ Vai embora./ Não tenho os músculos do riso.”
A pedra filosofal de Szymborska nos faz pensar sobre a condenação do palhaço. Acaso rimos por ofício? Rimos pelo ímpeto, pela pilhéria, como defesa — o paradoxo da dor que busca seu contrário para se camuflar. Quando rimos, o rosto se contorce — é como se atirássemos uma pedrinha no lago e vários círculos concêntricos fossem se irradiando a partir da boca. Mas o palhaço, como a pedra, não tem opção. Quem gosta do circo sabe que o palhaço apenas pertence ao interstício. A luz se projeta sobre ele para que o próximo número comece a ser montado sob a penumbra. O sorriso do palhaço é uma cicatriz. Mas os anfíbios que pertenceram ao século 20 e que agora buscam água na aridez do século 21 chegamos a pensar que a utopia fosse diluir a máscara do palhaço em nosso rosto. O conhecimento — e não apenas o reconhecimento — nos traria a felicidade em jarros de pedra. Alegria pétrea — Szymborska sussurra: jazigo. “Podes me reconhecer” — a pedra prossegue —, “nunca me conhecer./ Com toda a minha superfície me volto para ti/ mas com todo o meu interior permaneço de costas”. Digo para Szymborska que não gosto de mistérios. Eles têm cheiro de sepulcro e capelas. Eu quero saber. Munida da dúvida pétrea, Szymborska me diz, algo ébria pelo conhaque, que a coisa em si, a verdade transcendental, já foi pensada pela História — aliás, ela já foi pensada como História: Éden dos homens, Atlântida não mais submersa, Utópolis, Utopia: “Ilha onde tudo se esclarece.// Não há estradas senão as de chegada”. É isso, é isso: aqui não estamos mais diante do Paraíso Perdido. Eu não quero saber da Idade de Ouro, ela já se foi, ela talvez já tenha sido. Quero reencontrar Adão, ele não precisará mais ter vergonha de Caim, Abel oferece o perdão repleto de nozes, Eva não se sabe nua — ela morde a maçã enquanto inocula os versos em Szymborska. “Os arbustos até vergam sob o peso das respostas.// (…) Se há alguma dúvida, o vento a dispersa.// (…) Do lado direito uma caverna onde mora o sentido./ Do lado esquerdo o lago da Convicção Profunda./ A verdade surge do fundo e suave vem à tona.” Não há culpa, não há dor — acaso a relva pode me ferir? Ensino ao escorpião que ele não precisa suicidar-se — o fogo aceita o armistício que a chuva lhe propõe; o escorpião, sobre a palma da minha mão, aceita doar o ferrão para o Museu de Zoologia. Não precisamos mais conhecer — estamos convictos. Não precisamos mais convencer — conhecemos. A verdade é uma jangada — a esfinge insiste que a jangada é de pedra. Não: a jangada é anatômica, boiamos até a outra margem, os cardumes são sentinelas — a vigilância não faz mais sentido, não precisamos cercar com arame farpado aquilo que amamos. Em Utópolis, amar não equivale a proteger. “Domina o vale a Inabalável Certeza./ Do seu cume se descortina a Essência das Coisas”.
Como continuo a sonhar — Szymborska está me velando —, a poesia me sussurra que o pensamento sobre essências, o pensamento essencial, é a contrapartida para a verdade cujo caule não pôde suplantar a couraça da terra. Ora, por que a verdade se esconderia dos nossos olhos se buscamos tanto a nudez? Goethe queria ainda mais luz sobre seu leito de morte. Queremos a intensidade, a verdade contínua — quem suporta a aridez dos interlúdios? Mas o violinista percebe o limite das cordas estioladas. É preciso descansar. Dormir. (Suspeito, e não mais do que suspeito, que é a própria certeza inabalável quem cerra minhas pálpebras.) “Apesar dos encantos a ilha é deserta/ e as pegadas miúdas vistas ao longo das praias/ se voltam sem exceção para o mar.” Mas o que foi que aconteceu? A utopia agora nos dá as costas como o mutismo da pedra? Por que as pegadas se voltam para o mar? (Aqueles que, como Szymborska, viveram em Estados satélites da finada URSS durante mais de meio século só fariam replicar: por que as pegadas não se voltariam para o mar?)
Lucidez
“Pertenço a uma geração que acreditou. Eu acreditava.” Certa vez eu estava conversando com um velho amigo. Advogado. Ademir — chamemo-lo assim — defendia então alguns partidos, alguns políticos. Um deles, famoso-réu-para-o-cadafalso, estava para ser condenado. Digo a Ademir que tenho muita simpatia pela antiga utopia de seu “cliente”, só não posso imaginar que tipo de dogmatismo o fez permanecer durante tantos anos em meio àquelas engrenagens que já não moviam a emancipação. Ademir cofia o cavanhaque inexistente, apruma os óculos e revela o que a pedra antes quis silenciar: “Flávio, o partido é como um útero que acalenta. Ele pode estar errado, mas foi a sua lógica que lhe forneceu um sentido. Nem todos suportam a chuva — o relento é muito verdadeiro. Será mesmo possível viver sem um abrigo? (Ademir arfa.) Não é a sentença que aflige o condenado. É o desmantelamento do partido. A porosidade do sentido”. Szymborska pertenceu a uma geração que acreditou. Sua poesia nos mostra que ela não deixou de perguntar. “Me desculpem as grandes perguntas pelas respostas pequenas.” A modéstia da poeta aceita para si as aporias, as fraturas, as desilusões e a pequenez que não lhe podem ser atribuídas. A poesia como sobrevida; a poesia como martírio.
Os tempos de Szymborska foram os tempos das barricadas. A História como causalidade estrita era preterida em função do foco revolucionário. Ao invés de dado X, logo Y, as avenidas e sierras assistiam à imbricação de X e Y. [Será que as pegadas fugitivas da utopia começaram a abandonar a ilha quando John Fitzgerald Kennedy declarou que Cuba seria a única revolução na América Latina? (Estaríamos, então, diante das pegadas dos voluntários de Che Guevara?) Ou será que as pegadas centrífugas são os vestígios dos dissidentes que só pensam em vencer as noventa milhas até a Flórida? (Eles já teriam entendido há muito tempo que a revolução precisa emular a si mesma continuamente para ludibriar seu caráter contra-revolucionário.)]
Só mesmo o lirismo — um lirismo débil e hesitante, um lirismo que não distingue as pétalas dos cacos — para levantar barricadas contra o neo-realismo dos derrotados; contra a depressão distópica; contra a sedução do suicídio para aqueles que não podem viver sem um sentido, aqueles acostumados à verdade como promessa de felicidade, como vir a ser, como devir. Wisława Szymborska demonstra enorme lucidez dialética para uma artista que, a princípio, se mostrou — ou teve que se mostrar — adepta do realismo socialista. Para quem vive imbuída da procura, a autocrítica não é mais uma segunda-feira. É a (im)possibilidade da Primeira. As costas abauladas, as mãos repletas de nódoas, a colherinha que insiste em respingar o excesso de café contra a xícara de porcelana, a caneta ao lado do pires, o suspiro que lamenta. Estamos diante do Ocaso do século: “Era para ter sido melhor que os outros o nosso século 20./ Agora já não tem mais jeito,/ os anos estão contados,/ os passos vacilantes,/ a respiração curta”.
Tese: “Era para ter sido melhor que os outros o nosso século 20”. Antítese: “Agora já não tem mais jeito”.
Impossibilidade de síntese como flashes da História: “os anos estão contados”, não fundamos um novo calendário, “os passos vacilantes”, revoluções culturais queimam livros, autoconfissões coagidas, julgamentos forjados, expurgos, campos de concentração comunistas, “a respiração curta” das câmaras de gás, a ausência de oxigênio em Hiroshima.
“Era para Deus finalmente crer no homem/ bom e forte/ mas bom e forte/ são ainda duas pessoas.” A utopia mudaria o eixo da fé, Deus estaria entre nós — Ele não nos criou à Sua imagem e semelhança? Mas a dialética que engalfinha o senhor contra o escravo persiste. Agora, levada às últimas conseqüências. O caráter progressista da História rompeu a naturalidade aristocrática que permitia a Júlio César se considerar superior por nascimento, enquanto a plebe só fazia emular o Pai. Hoje, a democracia pulveriza o cesarismo — todos queremos ser César, poucos o serão, ninguém o será, mas o capitalismo liberou a mola da competitividade e do ressentimento que a escravocracia e o feudalismo arcaicos continham pelo chicote. Assistimos a um enorme potencial emancipatório — e se todos aceitássemos o gládio de César reciprocamente? — à iminência da explosão. A geração de Szymborska imaginou que a ruptura dos estamentos e das classes diluiria o ressentimento em prol do sentido, que o novo suplantaria a competitividade pela solidariedade. Não, não foi assim. Bom e forte são ainda duas pessoas — podem ser três, quatro, uma quadrilha, na medida em que o mais fraco pretenda usurpar o poder apenas para exercê-lo com ainda mais tirania. Quanto à bondade, ela infelizmente permanece rebaixada como caridade e compaixão: se só nos condoemos — isto é, sofremos conjuntamente — à margem de nossas vidas, como momentos de esmola e contingência, já sabemos que a bondade é o luxo dos mais bem adaptados, daqueles que olham por sobre os ombros, daqueles que venceram — e agora terão que lutar pela manutenção do privilégio.
“Como viver — me perguntou alguém numa carta,/ a quem eu pretendia fazer/ a mesma pergunta.” Vladimir Ilitch Ulianov, também conhecido como Lênin, certa vez perguntou: “Que fazer?”. Ióssif Vissariónovitch Djugashvíli, também conhecido como Stálin, e a resposta junto à têmpora: “Fazer, executar”. É por isso que a arte insiste em perguntar — a literatura duvida das respostas que vêm lavradas como sentenças.
“De novo e como sempre,/ como se vê acima,/ não há perguntas mais urgentes,/ do que as perguntas ingênuas.” Não, não se trata de auto-engano. A esperança não fica enclausurada na caixa-cárcere de Pandora pelo fato de ser irrealizável. Ela é frágil e trôpega, teme que sempre a tomem por algo fugaz, por isso ela se confunde com o que há de vir. Sábios judeus: amém projeta a esperança como o vínculo com o amanhã — assim seja. Se tudo permanecesse como está, Szymborska exigiria que a capa dura de seu livro fosse de pedra.
Sim, a História precisa se lembrar — mas o perdão não pressupõe também o esquecimento? Por que a violeta se insinua entre a pilha de dejetos? (Entre a pilha de desejos!) A ratazana acaba de roer o caule, mas o menino poeta, neto insciente de Szymborska, não deixa de notar que o cinza-amarronzado da ratazana realça a resistência da violeta que já desaparece sob a roedura.
Não à toa a História busca a reconciliação ficcional. A arte verdadeira renega a hipostasia da bondade enquanto a cicatriz ainda lateja — é preciso saber por que a salva de palmas só desponta quando a peça termina. Szymborska, conte-nos suas Impressões do teatro:
Para mim, o mais importante na tragédia é o sexto ato:
o ressuscitar dos mortos das cenas de batalha.
[…]
As reverências individuais e coletivas:
a mão pálida sobre o peito ferido,
as mesuras do suicida
o acenar da cabeça cortada.
As reverências em pares:
a fúria dá o braço à brandura,
a vítima lança um olhar doce ao carrasco,
o rebelde caminha sem rancor ao lado do tirano.
Aqueles que anseiam pela reconciliação precisam se lembrar da fugacidade do êxtase.
Mas o mais sublime é o baixar da cortina
e o que ainda se avista pela fresta:
aqui uma mão se estende para pegar as flores,
acolá outra apanha a espada caída.
Por fim uma terceira mão, invisível,
cumpre o seu dever:
me aperta a garganta.
Szymborska se levanta — não há sequer uma gota de conhaque em seu copo — e se aproxima de mim. Faço menção de me proteger com o cachecol, mas ela me insinua que sua poesia, a utopia como eclipse, não pode ser estancada. Ela vai subindo lentamente, um a um, os degraus galeria afora. Enquanto a poeta caminha, não sem prescindir do corrimão, fico pensando sobre o que a teria movido para além do colapso da esperança. Não se trata de uma expectativa livresca sobre a mudança. Ela vivenciou os momentos de maior anseio de que a História já nos deu notícia. E ambos naufragaram. Que arrimo fez Szymborska sobreviver?
Quando me vejo ainda uma vez emparedado, a coruja retorna à quina de seu muro. Alça vôo ao entardecer: que veriam os olhos amarelos da coruja se não fossem municiados pelo legado da negação? A sabedoria não desponta apenas do confronto efetivo com as (im)possibilidades do real. Szymborska então nos ensina que a distância contribui para o armistício. A poeta não quer sobreviver. O criador quer desaguar. Para isso, é preciso sabotar as comportas. A poeta contorce as mãos atrás das costas quando tem que dizer sim — o não se esgueira pela penumbra da sala de torturas. Agora sabemos por que a coruja emissária alça vôo à revelia do sol: os homens que alienam a própria culpa como o mau agouro da coruja não suportam senão o eclipse.