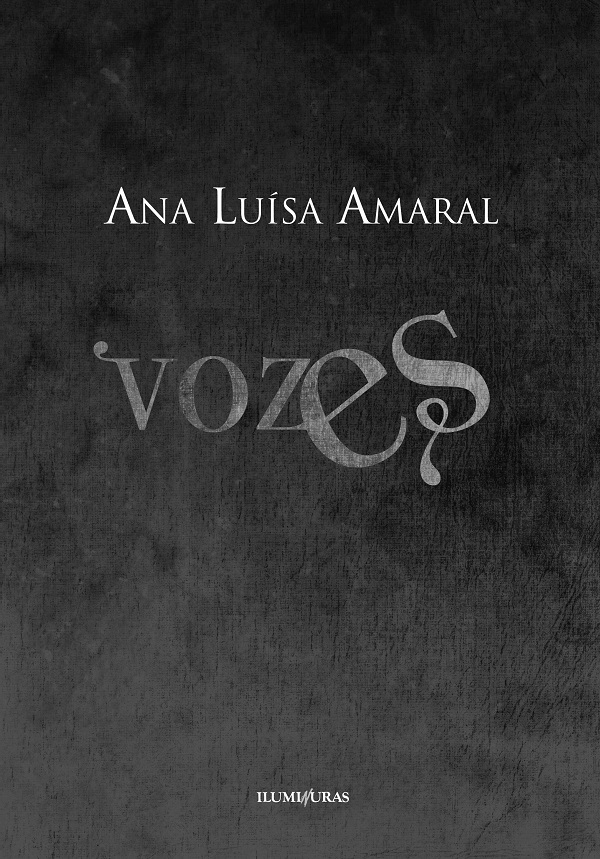Sob o selo editorial da Iluminuras, Ana Luísa Amaral acrescentou, em 2013, seu mais recente volume de poemas às livrarias brasileiras (trazido a lume em Portugal, pela Dom Quixote, dois anos antes). Com experiência nas variadas latitudes do terreno literário — ensino, tradução, ficção, teatro —, a autora publica Vozes, seu décimo quarto livro de poemas, ratificando sua posição de destaque na lírica portuguesa contemporânea. A edição traz, ainda, um posfácio de razoável fôlego assinado por Vinicius Dantas, no qual se analisam os variados vieses temáticos e formais da escritora.
Obra dividida em seis blocos com diversidade temática, mas interligados por considerável isotopia formal, Vozes revela notável vigor meditativo, em que a escrita cosmogônica e a inquisição etiológica se irmanam, devolvendo ao poético sua função de interrogar o mundo. Vivências agudas, como certa fobia aeronáutica, sempre elevam o tom reflexivo: “E será que o seu último/ juízo/ foi de paz/ e profunda alegria// antes de derreter/ as suas asas/ e tombar cá do alto/ para o sólido/ e carinhoso chão?”. Se, em decorrência dos topoi, o trecho é micrologicamente de mediana tensão, ganha interesse na inversão da matriz mítica e na indagação que remete à hipótese camusiana do Sísifo em júbilo. O poema (Do ar: apontamentos) finaliza com a antítese cômica e inevitável do viajante em pânico: “O medo/ ou a alegria/ que o chão traz”.
O expediente paródico sobre a tradição mítica, aliás, revela-se freqüente na escritura de Ana Luísa Amaral. Em Estados da matéria, Cupido perde o poder persuasivo e o amor, sem correspondência, realiza-se apenas na utopia poética: “Eros caiu sozinho de cansaço/ de tanto tempo se encostar ao verso e não a ti”. Do mesmo modo, a lacuna amorosa do famoso poema camoniano, que já traz sua parcela significativa de clamor, potencializa-se e põe o amante vizinho do assassinato ou do suicídio: “Nem é essa que dói e não se sente,/ mas ferida a bramir fúrias de razão […]// […]E chegam os punhais, os comprimidos, sonha-se a veia a rebentar em cor”. Nesse caso, a paródia se vislumbra no subtítulo “variações”, confirmado inclusive pela alteração da forma fixa do soneto de Camões. Em outro momento, numa flagrante reescrita da versão consolidada, Inês de Castro esquiva-se ao seu destino e, no futuro, ganha um retrato pouco ideal e mais humanizado. Agora habitante de tempos modernos, subtrai a surdez da velhice com um “aparelho mal sintonizado” e o desinteresse pelos assuntos de Pedro, por seu entediado novelo verbal, gera-lhe um descuido de Penélope desencantada: “mas também é vasto o sono/ e o tricô de palavras do marido/ escorrega-lhe, dolente, dos joelhos […]”. Talvez por isso a voz poética já houvesse dito, ajustando Bocage, que as angústias de uma vida efervescente — “maligno dragão, cruel harpia” — valem mais do que qualquer modorra afetiva: “Se a escolha é entre tu e harpas (ou santo),/ Prefiro o teu maligno e cruel canto,/E à paz celeste as garras afiadas”.
Toda essa remissão ao mundo, porém, vem filtrada pela inquisição sobre a linguagem, sobre a caixa acústica do texto. Leitmotiv da obra, evidenciado no título, a reflexão metalingüística suspende qualquer fé incondicional no verbo: palavras dizem pouco e desnorteiam mais, como o trocadilho seguinte aponta: “palavras// que não chegam/ — mas cegam”. O interlúdio da poesia com seus próprios meios constitutivos chega a expor, em forma de diálogo de namorados, o timbre fechado das Vozes de Amaral. Quando o cavaleiro de Trovas da memória fala reiteradamente dos infernos (sem que um referente claro se ofereça), sua interlocutora e par idílico devolve com ironia: “Não sei de que inferno/ faláveis ali,/ não era decerto/ o inferno daqui”. No dueto, o canto órfico do apaixonado quer retirar a amada do papel, fazê-la carne: convertê-la de musa utópica em amante de fato, ao que ela resiste o quanto pode. A hesitação feminina desliza pela dicção melódica e lembra, em muito, o Choro bandido de Chico Buarque e Edu Lobo (“e eis que, menos sábios do que antes, os seus lábios ofegantes hão de se entregar assim…”).
A metalinguagem, mais adiante, cumpre novamente seu papel: “Já sei o que faço:/ baralho-vos rimas, métricas e tudo./ Volto à redondilha/ à língua que é minha”, diz o poeta. O retorno à redondilha indica a recusa do palaciano (a língua inglesa, o acento francês, em que vinha discursando) e segue o desejo do viver popular e camponês, a que a métrica remete. A seção “Escrito à régua” reforça tal linguagem auto-especulativa e com anseios de geometria, que o objeto evoca. Nesse instante, Ana Luísa pretende “ancorar o sentir/ em instrumento certo e/ objetivo”: trata-se da ordenação do difuso, de uma paixão medida drummondiana, do fixar vertigens de Rimbaud. Sob o signo da alta modernidade, o teor construtivista é tear da poesia.
Intervalo fascinante
Ao investir seu texto de elementos que sinalizam o gênero — como a melopéia evidente na recorrência de bilabiais, nas aliterações (ainda que discretas) e na imagem à margem do ciclo literário —, a autora certamente produz poesia lírica. Todavia, poderíamos situar a linguagem de Ana Luísa Amaral, sua comunicabilidade mediata, na senda contemporânea do lirismo hermético, de “transparência impossível”, para usar a feliz expressão de Fábio Andrade. Ou seja, está mais próxima do verso denso e opaco de René Char do que do confessionalismo translúcido de Musset. Uma breve amostra da poética de Amaral podemos ler em A vitória de Samotrácia: seus poemas em tom condicional servem de obstáculo à “cabeça ausente” e, também, à “prosódia mediterrânica, jubilosa, ardente, leopardo musical”.
Como podemos observar, imagens de acentuada plasticidade, como a do felino sonoro, pronunciam-se em Vozes, porém traçadas em sintaxe igualmente desfamiliar e que exige do leitor permanente atenção estética. Dando idéia da capacidade que Ana Luísa Amaral tem de reimantar o mundo corriqueiro, o poema Biografia (curtíssima) denota a aquisição da experiência não com a metáfora da pedra que se vai polindo até a escultura, mas com a imagem de uma pedestre cebola que se descama, em acidez minguante. Um beijo amoroso “de vez em quando/ cumpria uma cebola”, caía uma casca, uma decepção. Mais adiante, lemos que há “vestidos por tirar,/ camadas por cumprir”, o que sinaliza, já de saída, a densidade imagética da autora. Em compósita analogia, a figura sugere a inocência por perder (veio erótico), mas também os sonhos por largar.
Muitas vezes, as comparações se elaboram por elipse e expandem a imaginação com similitudes quase sem filiação. Aqui, por exemplo, a parede em pó convoca os dedos (imagem literalmente palpável e, por que não dizer, erótica), como o verbo entrópico pede a expressão: “O granulado/ Da parede agora/ A evocar um toque, palavras/ Enroladas/ Sob a língua, / Desejos de falar”. E na clave da subtração elíptica, a pauta de Ana Luísa parece uma pausa em fermata — o que, naturalmente, é pura aparência. Noturnal, desatraindo o som faz pensar nessa caminhada rumo ao silêncio: o poema semelha saboreio verbal, texto sem evento. Mas a gata aguarda a dona insone, que não resiste àquele olhar de lâmina e convite. O mais curioso é que, à medida que a noite avança e a sedução se encorpa, a quintilha inicial vai minguando ao dístico de quem adormece — ou ama (a ambigüidade do substantivo “gata” põe o sentido em suspensão). Isso, todavia, é mero exemplo do quanto o intelecto, em Ana Luísa Amaral, é indispensável à recusa do excesso que defrauda, em favor do intervalo que fascina.
Por tantas razões, Vozes — lava transfigurada em lavor — oferece, mais uma vez, uma poesia que agrega ao prazer estético um horizonte claramente pedagógico. Seu leitor, ao encampar o escrutínio do silêncio, sai mais ciente do “gume de espada” a que o texto trivial do mundo serve de bainha. Ana Luísa Amaral guarda a consciência de que a literatura não significa um decalque do mundo. Antes, quer revertê-lo em puro palimpsesto para uma escritura refratária e infinita.