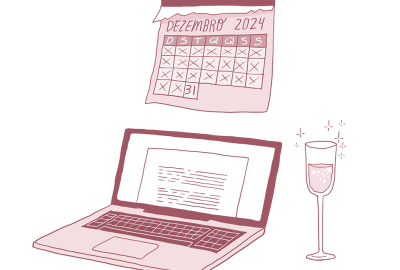Uma das resenhas sobre Um encontro sublinha que, em boa parte dos seus artigos, o objetivo é desafiar consensos e tabus da crítica. Talvez mais acertado fosse registrar que toda a obra de Milan Kundera — ensaística ou ficcional — é marcada por essa inquietude. Não se trata de conteúdo programático pontual. Cada livro do autor tcheco — mais conhecido pelos romances A insustentável leveza do ser e Risíveis amores — revela a mesma disposição para o contraditório, onde conflitos e desarmonias nunca são sublimados ou escamoteados.
Os ensaios que compõem o livro vão do cinema ao teatro, da pintura à música, além de ratificar a predileção de Kundera pelas reflexões sobre o gênero romance. Esta é a sua quarta empreitada teórica publicada no Brasil. A primeira foi justamente A arte do romance (1988, agora republicado pela Companhia de Bolso), reunião de sete textos que apresenta suas impressões sobre o tema. Nele, apesar de já encontrarmos rejeição aos atestados de óbito do gênero, há o reconhecimento de que o discurso romanesco contraria o ritmo e a natureza de nosso tempo, desta época marcada pelo alarido das respostas simples e rápidas. “O espírito do romance é o espírito de complexidade. Cada romance diz ao leitor: ‘As coisas são mais complicadas do que você pensa’.”
O romance não deve ser, portanto, porta-voz do lugar-comum, das idéias batidas, pouco refletidas. Sua validade em nossos dias vem daí, da capacidade de nos tirar da mesmice. E o romancista precisa explorar essa vocação romanesca para a iluminação. Kundera cita Hermann Broch, para quem descobrir o que somente um romance pode é a única razão de ser do gênero. “O romance que não descobre algo até então desconhecido da existência é imoral. O conhecimento é a única moral do romance.”
As descobertas angariadas pelo romance, no entanto, não assomam maniqueístas, a iluminação não se dá por linhas justas e facilmente vislumbradas, o bem e o mal não estão ali na esquina. Como ressaltou Maria Célia Martirani, em texto para o Rascunho quando do lançamento de A arte do romance, à vontade inerente ao homem de julgar antes de compreender, o romance responde com a relatividade essencial das coisas humanas e propõe “um tipo de reflexão que se traduz como sabedoria da incerteza, capaz de confrontar a implacável necessidade humana de ler o mundo sob o prisma do bem ou do mal, como se fossem entidades nitidamente discerníveis”.
Seguindo o pensamento de Kundera, o texto de Maria Célia sustenta também que, para alargar os processos de apreensão da realidade (ou de refiguração, para usarmos o termo de Ricoeur), o romance cria as “dissonâncias necessárias” — característica que garante a permanência do gênero. Em Testamentos críticos (Nova Fronteira, 1994), o ensaísta já defendera que a moral romanesca reside justamente na suspensão dos julgamentos morais. Para ele, tal postura foi essencial ao gênero, pois as personagens só puderam se desenvolver plenamente porque não concebidas sob as amarras de verdades preexistentes. Ou seja, do nascimento à sobrevivência em tempos de profecias de sua morte, a jornada do romance foi alicerçada por sua vontade não de confirmação, mas pela suspensão ou pela transgressão.
Quando de A cortina — ensaio em sete partes, publicado no Brasil em 2006, pela Companhia das Letras, Kundera ratificou: ao nascermos, já encontramos um mundo maquiado, pré-interpretado, e o romancista que assume tais convenções, em vez de se rebelar, exclui sua obra da própria história do gênero.
Olhar passional
Algo comum em coletâneas assim, vários dos ensaios de O encontro são dedicados a nomes respeitados em suas nações e (quem sabe) vizinhanças, mas pouco conhecidos dos brasileiros, como o espanhol Juan Goytisolo e o islandês Guðbergur Bergsson. Outro citado é o polonês Marek Bieńczyk, autor de Tworki, que serve de mote para Kundera realizar uma breve reflexão sobre o idílio do cotidiano — “revalorizado, transformado em canto” — como filho do horror:
Eis o paradoxo demoníaco: se uma sociedade (por exemplo, a nossa) vomita violência e maldade gratuita, é porque lhe falta a verdadeira experiência do mal, do reino do mal. Pois, quanto mais cruel é a história, mais belo parece o mundo do refúgio: quanto mais banal é um acontecimento, mais ele parece uma bóia de salvação à qual se agarram aqueles que “escaparam”.
Não raro, ensaístas reverberados internacionalmente conseguem aumentar a popularidade de escritores cujas reputação e repercussão são mais restritas — Walter Benjamin, por exemplo, ao comentar Berlin Alexanderplatz, de Alfred Döblin, ou a obra de Nikolai Leskov (análises compiladas no conhecido volume Magia e técnica, arte e política).
Quando trata de autores bem mais conhecidos, Kundera costuma oferecer um olhar bastante diferenciado. Dialogando com as citadas convicções sobre o papel do romance, seus textos teóricos quase sempre fogem dos lugares-comuns, evitam o mais-do-mesmo que ronda esse tipo de publicação. É o caso da leitura de O idiota, de Dostoiévski, onde “estranhamente os personagens que riem mais não são os que possuem maior senso de humor, pelo contrário: são aqueles que não possuem senso de humor algum”.
Sobre Cem anos de solidão, Kundera lembra que é exceção ao paradoxo de que “apenas 1% da população não tem filhos, mas pelo menos 50% dos grandes personagens romanescos deixam o romance sem procriar”. E completa: “Essa infertilidade não é devida a uma intenção consciente dos romancistas; é o espírito da arte do romance (ou o subconsciente dessa arte) que repudia a procriação”.
Neste novo livro, Milan Kundera visita temas como a música de Beethoven, o cinema de Fellini e a pintura de Francis Bacon, além de outros escritores praticamente desconhecidos por aqui, como a sua compatriota Věra Linhartová e o poeta lituano Oscar Milosz. Depois, ele fecha O encontro com ensaio longo sobre o romance A pele, do italiano Curzio Malaparte (nenhuma relação com o filme homônimo, dirigido por Steven Shainberg, que é adaptação de livro da jornalista Patricia Bosworth). Derradeiro texto que encerra a coletânea com um parágrafo sobre o tempo, a fugacidade e a morte:
O momento da guerra terminando ilumina uma verdade tão banal quanto fundamental, tão eterna quanto esquecida: diante dos vivos, os mortos têm uma esmagadora superioridade numérica, não apenas os mortos do fim da guerra, mas todos os mortos de todos os tempos, os mortos do passado, os mortos do futuro; certos de sua superioridade, eles caçoam de nós, eles caçoam dessa pequena ilha de tempo onde nós vivemos, desse minúsculo tempo da nova Europa da qual nos fazem compreender toda a insignificância, toda a fugacidade.
Vivo e humano, ainda
Os ensaios de Milan Kundera são reflexos de sua franca e inabalável paixão pelos livros e pela leitura. E não, isso não é natural e óbvio! A teoria e a crítica literária têm sido cercadas de tanta burocracia, freqüentemente tocadas no piloto automático das demandas acadêmicas e midiáticas, que muitos textos sobre escritores e suas obras largam a esquisita sensação de trabalho feito por funcionário desgostoso de sua lida.
Um encontro depõe não somente sobre a permanência e o valor do romance, entre outros tópicos ligados à arte; ele também enriquece a crítica humanista, tão prejudicada pela radicalidade dos professores, pesquisadores e críticos que levantaram altar para o formalismo ou qualquer outro dogma acadêmico — preferindo reforçar redutoras dicotomias e simplificações em vez de se valerem do diálogo entre as diversas ideologias e métodos.
Apesar de seus romances serem pratos cheios para os teóricos da “pós-modernidade”, os ensaios de Kundera fazem lembrar da frase de José Guilherme Merquior: “Temos coisa melhor para fazer do que permitir que nosso pensamento e sensibilidade se escravizem a uma sovada e infundada ideologia de negação e desespero”. A arte e sua crítica se realizam e mantêm pela suspensão, pelo questionamento e pela capacidade de realizar ou se debruçar sobre a refiguração que ilumina e emancipa. Um encontro deve desagradar quem, pelo contrário, transforma esses orbes em algemas na forma de negação histérica ou burocracia performática.