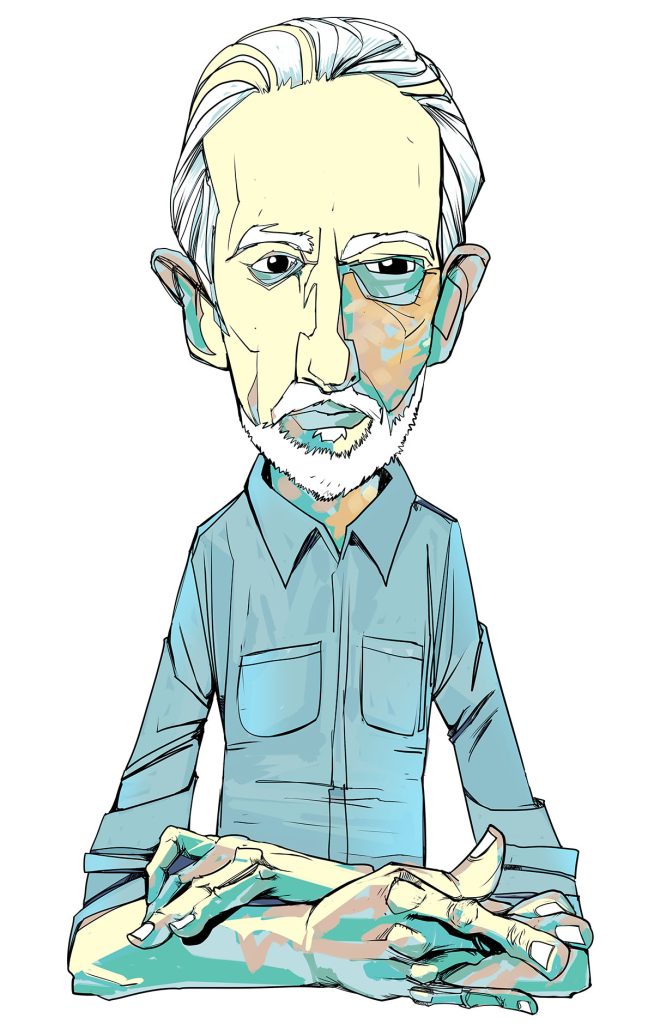1. “O realismo nunca esteve à vontade com as idéias. Não poderia ser de outro jeito: a premissa do realismo é a idéia de que as idéias não têm existência autônoma, que só podem existir nas coisas.” É raro que os narradores em terceira pessoa de J. M. Coetzee apareçam de forma mais explícita na narrativa, tecendo comentários ou espalhando pistas da condução que realizam. Cronistas localizados não acima, mas junto dos personagens, eles se ocupam preferencialmente da produção de imagens e situações. Seu ofício é fazer ver.
2. Em “Realismo”, a abertura de Elizabeth Costello (2003), o narrador não só intervém na narrativa com comentários, como todo o relato parece cumprir uma função de glosa às meditações sobre o ilusionismo realista: “como nos levar de onde estamos, que é, por enquanto, lugar nenhum, para a margem de lá. É um simples problema de ponte, um problema de construir uma ponte. Problemas que as pessoas resolvem todo dia”.
3. Mas para onde nos encaminhamos, nessa ponte? O que há do outro lado? Que vínculos ela estreita? Não se trata apenas, ou mesmo preferencialmente, de pensar o artifício. “Quando se tem de debater idéias, como aqui, o realismo é levado a inventar situações — caminhadas pelo campo, conversas — nas quais os personagens dão voz a idéias conflitantes e assim, em certo sentido, as encarnam. A idéia de encarnar acaba sendo o eixo.”
4. Na abertura de A infância de Jesus, novo romance de J. M. Coetzee, um homem e um menino chegam à cidade de Novilla, vindos de um campo de refugiados onde receberam novos nomes e aprenderam uma nova língua, o espanhol, que devem utilizar entre si e com as outras pessoas. Simón desenvolve uma relação especial com o menino, David. Não somos informados de onde vieram. Só sabemos que chegaram em um navio, que o menino se perdeu da mãe, e que eles não guardam memórias do que aconteceu anteriormente. Em uma vida anterior?
5. Após uma recepção hostil, Simón se sente acolhido em Novilla. Trabalha como estivador, é respeitado por seus camaradas, suas necessidades básicas são supridas pelo Estado. Mas há questões a resolver. Simón está decidido a encontrar a mãe do menino, mesmo reconhecendo a impossibilidade de localizar seu rastro. E há o problema dos apetites: Simón anseia por sexo, por arte, por um bife suculento. Mas Novilla é uma cidade sem urgências. Mesmo com uma nova vida, Simón se recusa a ser um novo homem: rejeita a moderação, o equilíbrio racional, a apatia balanceada. “O preço que a gente paga por esta nova vida, o preço do esquecimento, não seria alto demais?”
6. Novilla é uma cidade imune à História. O passado foi extinto. Vive-se em um presente eterno, em um tempo planificado. Nessa pólis da justa medida, Simón e o menino são forças agônicas. Eles se recusam a esquecer. “Não tenho lembranças. Mas imagens ainda persistem, sombras das imagens. Como isso acontece eu não sei explicar. Alguma coisa mais profunda persiste também, que eu chamo de lembrança de ter tido uma lembrança”, diz Simón. Mas o que exatamente ele deveria recordar?
7. Uma das cenas mais significativas do romance é a disputa filosófica no cais do porto, entre Simón e seus camaradas. Para Simón, o tempo gasto carregando sacos de cereais poderia ser utilizado para objetivos mais elevados. Seus camaradas não pensam assim: “ninguém precisa de um sentido superior para fazer parte da vida”. Eles parecem satisfeitos em contribuir com sua pequena cota para o bem comum. Para que serve o tempo? O que fariam com ele? De que vale o cultivo da inteligência alheio à realidade prática? A vida como se apresenta é o próprio sentido. “Não tem lugar para inteligência aqui”, diz um dos estivadores, “só para a coisa em si”.
8. “Por que tem tanta certeza que precisamos ser salvos, Simón?”
9. Também o menino se recusa a esquecer. David não é um garoto comum, sua intuição é uma espécie de “filosofia natural”. Ele não se adapta à escola e enxerga em todos os lugares pequenas rachaduras, vulcões, passagens. É diagnosticado com um “déficit específico ligado a atividades simbólicas”: os números são entidades concretas; os livros, a própria realidade; escreve em um idioma particular. David resiste ao real, à força deletéria dos símbolos. Vive no mundo das idéias — idéias que são coisas, verdades límpidas, e não meras abstrações. “Está me fazendo esquecer! Por que faz eu me esquecer? Eu te odeio!”, ele grita com Simón.
10. Simón não é um simples guardião. “E se esse menino for o único entre nós com olhos para ver?” Ele é também um guia, que deve conduzir duplamente o menino: para dentro de si mesmo, de sua própria verdade, e ao mesmo tempo por entre as cópias das cópias, os simulacros de seres humanos que habitam Novilla. “Eu queria que alguém, algum salvador, descesse do céu, sacudisse uma varinha mágica e dissesse: Olhe, leia este livro e todas as suas perguntas serão respondidas. Ou: Olhe, aqui está uma vida inteiramente nova para você.”
11. A infância de Jesus transborda em simbolismos. Decifrá-los é parte do prazer da leitura. Ou talvez substitua o prazer da leitura: os emblemas são tantos, e tão mastigados, que é difícil não perceber a sombra do autor, se agitando afoitamente ao movimentar suas cordas. Algo está sendo dito para além do que é dito, fica evidente desde o início. Os símbolos personificam abstrações. Tudo está bem claro — talvez excessivamente claro. Não basta entregar as chaves nas mãos do leitor, é preciso movimentá-las na direção correta. Apenas para derrubá-lo em um alçapão.
12. No primeiro plano, estão as referências ao imaginário cristão: pães, peixes, ascetismo, tentações, ressurreição, a virgem (Inés, em quem Simón reconhece a mãe do menino). Sobretudo, o inescapável sentido de fim imposto pelo título. Ainda mais freqüentes são as menções a Platão: sombras e imagens, imortalidade da alma, lembrança e esquecimento, guardiães, vozes interiores, a atmosfera “eudaimonista” da cidade. Num terceiro plano, menções ao socialismo: o menino Fidel, o cão Bolívar, o Estado onipresente. E por fim a autoconsciência romanesca, os índices de metaficcionalidade que nos acostumamos a encontrar na obra mais recente de Coetzee. Eles convergem para o Dom Quixote, seja em menções diretas ou alusões diluídas na narrativa: o espanhol como língua oficial, o real como moeda, Novilla (novela) como o espaço em que tudo acontece.
13. A alegoria funciona por semelhança: dizer alguma coisa para significar outra, pressupondo algum nexo capaz de certificar o procedimento metafórico. Se os incontáveis símbolos espalhados pelo romance fossem alegorias autônomas, A infância de Jesus seria ilegível. Uma hipótese de leitura: “a interpretação figural”, escreve Erich Auerbach, “estabelece uma conexão entre dois acontecimentos ou duas pessoas, em que o primeiro significa não apenas a si mesmo mas também ao segundo”. A figura é um tipo de alegoria, mas nela os dois pólos, embora “separados no tempo”, permanecem como entidades reais, inseridas nas “correntes da vida histórica”, podendo se encontrar num ponto futuro.
14. A infância de Jesus é um grande diálogo, em que um interlocutor tem proeminência sobre os demais. Como Sócrates, protagonista da maior parte dos diálogos platônicos, Simón se interpõe aos outros, movido por sua voz interior. Suas intervenções levam a impasses, como na disputa no cais do porto. Mas no encontro com David, figura de Jesus, ele pressente sua realização, seu vir-a-ser. O encontro de Simón e David é como o cumprimento de uma profecia histórica, um ponto futuro feito presente. “A profecia figural”, escreve Auerbach, “implica a interpretação de um acontecimento mundano através de um outro”. “Vistos deste ângulo, contêm algo de provisório e incompleto; um remete ao outro e juntos apontam” para “algo que está por vir, que será o acontecimento real, verdadeiro, definitivo”. O “autocumprimento no além”, na eterna simultaneidade — como na comédia de Dante.
15. Se em Elizabeth Costello a metáfora do realismo como ponte ou encarnação não se apresenta como mais que uma ficção produtiva sobre o fazer literário, A infância de Jesus recende a metafísica. Impressão que nem mesmo a virada do romance para dentro de si — a “iluminação metaficcional” do menino ao ler o Quixote — consegue suavizar: “tem um buraco. Fica dentro da página. Você não enxerga porque você não enxerga nada”.
16. É possível que esta fala do menino, repleta de empáfia caprichosa, ecoe um vício estrutural do romance. A condução do leitor é tão explícita, o foco na verdadeira narrativa — a que acontece paralelamente aos acontecimentos, seja qual for seu significado — tão impositivo, somos tão afogados em referências que não sobra espaço para o particular individualizante: a comoção com os personagens, a identificação com suas falas e pensamentos, a repulsa ou adesão às suas formas de encarar o mundo.
17. Em Elizabeth Costello, os comentários do narrador não exibem os personagens como simples ilustrações. Diluídas em ações, falas, imagens e pensamentos, as idéias orientadoras parecem escapar ao plano central, resvalando para as margens da narrativa. Já o narrador silencioso de A infância de Jesus quer dar voz às “idéias mesmas”, o que faz dos personagens meros veículos para a realização de um sentido que os antecede. Eles são como esboços, que não chegam a revelar concretude ou acabamento.
18. Talvez seja intencional: trabalhar em sentido contrário à “encarnação” realista para dar forma a seres etéreos, imateriais. Mas Simón e David não podem deixar de ser o que são: um sujeito edificante, repetitivo, confuso, e um menino mimado e chatinho. Tão desinteressantes que fica difícil conceber como desse encontro poderá surgir uma ética, uma revolução, a imagem de um novo homem. “E se entre um e dois não houver nenhuma ponte, apenas espaço vazio?”