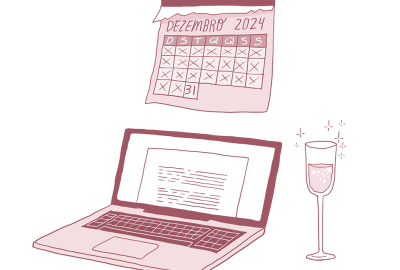Por algum motivo já insondável — mas possivelmente perverso —, Jonathan Swift deixava claro que a única criança pela qual desenvolvera certa simpatia era Esther Johnson. Uma menina precoce de 8 anos que, nos poemas do gênio irlandês, tomado de um latinismo lascivo e romântico, ele chamava de Stella. A pequena estrela de Swift. Nas várias cartas que enviou à moça, cometeu a imprudência — proposital, talvez — de entregar o seu ouro aos puritanos da posteridade. Em uma delas, em parte endereçada a Rebecca Dingley, dama de companhia da pequena, escreveu: “O chocolate, madame, é um presente para Stella. Não leia isto, menina arteira, com os seus olhinhos; mas dê agora, por favor, para a Dingley; hei de escrever tão claro como o céu: e deixe a Dingley escrever a parte de Stella, que a Stella dite para ela quando recear por seus olhos”.
São, no mínimo, intrigantes tantos cuidados. Principalmente porque Swift fazia questão de tornar público o seu ódio a todos os demais representantes da infância. Os simplistas tendem a creditar essa aversão do escritor às crises de vertigem e surdez que o atacavam quando menino. Muito improvável e bastante ingênuo. Mas é certo que, quando lançou na praça o panfleto Uma Modesta Proposta, não foram poucos os que de imediato lhe conferiram, babando de precipitação, altos títulos de nobreza infernal.
A apresentação oficial do ensaio já era, por si só, maldosamente saborosa: “Para Impedir que os Filhos de Gente Pobre da Irlanda sejam um Peso para os seus Pais ou o País; e para torná-los úteis ao Povo”. Tal proposta consistia, basicamente, na ação benéfica de transformar as crianças carentes irlandesas em comida e artigos de vestuário. Propunha comer-lhes a carne macia, perfeita para “um ragu ou fricassê”, e, com o seu courinho, confeccionar “admiráveis Luvas para Senhoras e Botas de Verão para Cavalheiros finos”. É sabido que o exercício da compreensão de ironias cabeludas não era prática corrente na Irlanda do século 18. E muito menos na ultraconservadora Inglaterra. Swift virou, portanto, sinônimo natural de indivíduo asqueroso. Obviamente, seu retrospecto não era nada bom: ódio incondicional a todo e qualquer pimpolho e amor desvairado por uma só menina. O velho Jonathan ainda ostentava um nome respeitado na galeria de pensadores da política britânica. Era também um homem que conquistara boa posição dentro da Igreja Anglicana, e, já bem casado na época, era pai de uma família considerada decente. Seu caçula já contava nove primaveras. Tudo conspirando para maximizar o escândalo.
Hoje, tamanha celeuma parece piada. Porque é mais do que evidente que o polemista queria apenas despertar a sociedade irlandesa de uma sonolência quase alcoólica, convulsionando-a frente aos números de pesadelo que imprimiu no seu panfleto. No intuito de garantir a credibilidade socioeconômica da proposta, recheou o texto com cálculos de possibilidade, regras de três e estatísticas detalhadas da miséria nacional. Registrou, por exemplo, que, no seu país — cuja população estimava-se em um milhão e meio de habitantes — cinqüenta mil crianças morriam, anualmente, antes de completar um ano, devido a abortos, doenças ou acidentes causados por descuido ou imperícia dos pais. Como as crianças sobreviventes não eram capazes de sustentar-se sozinhas antes dos seis anos — idade a partir da qual, segundo Swift, já estavam aptas para o crime e a mendicância —, ele sugeria que fossem criadas como gado, a um custo irrisório anual de dois xelins cada animalzinho, até os doze meses de vida. Depois, seriam patrioticamente sacrificadas, atiradas ao consumo sádico das classes favorecidas da Irlanda.
Logo nas cem primeiras páginas de Uma Estrela Chamada Henry, do também irlandês Roddy Doyle (Estação Liberdade, 378 págs.), ocorre, a qualquer um, a impressão de que nada mudou na terra de São Patrício. A história cobre as três décadas inaugurais do século vinte, quando, partindo de manifestações trabalhistas, proletárias e campesinas, os irlandeses, liderados por Michael Collins, partiram para uma guerrilha de terror que expulsou os ingleses de seu território. A novíssima república nascia ensangüentada, juntamente com o IRA.
O protagonista de Doyle, Henry Smart, filho de um assassino perneta e de uma mãe lunática, pressente, desde os primeiros passos, que está predestinado a uma morte miserável e anônima. Prefere entregar-se a uma criação selvagem nas ruas dublinenses. Fugidos, ele e seu irmão Victor — único ainda vivo de uma prole de outros tantos, mortos ainda no berço — esmolam seu sustento desenvolvendo planos baixíssimos de sobrevida. Na calçada, apresentam um espetáculo freak, pobre e circense: numa panela, fervem filhotes cor-de-rosa de rato e, com o caldo resultante, besuntam o corpo; depois, impregnados pelo cheiro fúnebre da ninhada de roedores, enfiam mãos e braços numa sacola cheia de ratazanas enlutadas. Em troca de moedinhas, deixam-se comer em frente à platéia sempre histérica dos adultos.
Doyle, talvez pela descrição aventuresca da vida dos moleques de rua de Dublin, vem sendo comparado a Charles Dickens. É um exagero patente. Mas, para que se institua a justiça, deve-se dizer que dificilmente ele tenha sido acometido por pretensão tão descabida. Sua prosa tem, realmente, um potencial de popularidade semelhante ao de Dickens. Folhetinesca e de influências claramente cinematográficas. É, porém, bem menos elegante e mais embrutecida que a do mestre inglês. O que nunca poderá ser considerado como crítica negativa. A diferença maior fica por conta da preocupação e do esmero de Doyle ao registrar, com precisão e considerável apuro literário, um dos momentos mais delicados da história da Irlanda.
Henry Smart, ainda aos 14 anos, participa, como recruta do Exército dos Cidadãos, do levante da Páscoa de 1916, tentativa frustrada e amadora de revolução separatista. A mobilização era ainda reflexo da euforia nacionalista causada pelo Grande Locaute, greve gigantesca ocorrida na Dublin de 1913 e que culminou no episódio conhecido como Domingo Sangrento. Smart — personagem fictício, é bom lembrar — começa, ainda adolescente, a sua carreira efêmera como assassino lendário e herói da revolução. Sua arma e seu símbolo, maior e inseparável: a perna de pau de seu pai. Arruaceiro, com ela trincava crânios ingleses em nome da Irlanda. Nunca se atendo, entretanto, aos conceitos morais — totalmente abstratos para um sem-teto — que davam conta da existência da Lei e de Deus.
O Reino Unido sempre foi o picadeiro de querelas religiosas alucinadas. Na época de Swift, os ingleses dividiam-se passionalmente entre os “tories” (católicos conservadores) e os “whigs” (liberais que abominavam a idéia de uma monarquia papista). Swift já ironizava a fé exacerbada dos povos bretões: “Temos religião suficiente para odiarmos uns aos outros, mas não para amarmos uns aos outros”. Entre os rebeldes irlandeses, a religião também acabou sendo o estopim mais freqüente das várias desavenças internas entre os guerrilheiros civis da luta pela independência. Doyle explora muito bem o assunto, permeando sua narrativa com passagens preciosas carregadas de tensão, debate e conflito ideológicos. Uma parte do exército separatista é católica e fanática; a outra é formada por ateus com tendências socialistas. Quando, na iminência nervosa de uma batalha contra os “tommies” — como são chamados, na Irlanda, os soldados ingleses —, metade das tropas cai de joelhos e, empunhando um terço, reza pedindo proteção e piedade, é, ato contínuo, tachada de covarde. “Católicos e capitalistas”, diz um dos líderes sindicais. “É uma combinação medonha.” Instaura-se, de maneira violenta e bastante inconveniente, uma total intolerância religiosa. Formam-se, de cara, blocos rivais em meio à “irmandade republicana”, dissidências irrefreáveis provocadas pela incompatibilidade entre os irlandeses originários do movimento trabalhista e os voluntários burgueses e intelectuais — esses últimos tipicamente discriminados. Por pouco, a República da Irlanda não se mata atrás de suas próprias barricadas.
O ódio aos ingleses, porém, é maior que tudo. A rivalidade entre os dois povos parece eterna. Em Uma Modesta Proposta, quando Swift discorre sobre as dificuldades compreensíveis de exportação da carne de criança irlandesa, tendo em vista a sua pouca resistência às pesadas quantidades de sal grosso usadas na conservação do produto, ele aproveita para alimentar ainda mais a cizânia entre os vizinhos da ilha: “Talvez eu pudesse mencionar um País que, mesmo sem Sal, bem se alegraria de devorar nossa Nação inteira”.
Felizmente, o autor de Uma Estrela… não sucumbiu à tentação de recorrer a saídas maniqueístas em relação ao seu posicionamento político. Muito embora o personagem de Ivan Reynolds, rebelde, matador e psicopata, que se aproveita da crise para dela emergir como novo-rico e coronel latifundiário, vá ganhando, lentamente, características cartunescas. Ele acaba, na verdade, parecendo um vilão de histórias em quadrinhos. Mas gente como o sindicalista Jimmy Connoly e Michael Collins é pintada, a princípio, com matizes positivas, sem perder, contudo, aquela ambigüidade impenetrável dos vultos históricos reais. Doyle também acerta quando mostra o resultado decepcionante do esforço irlandês pela independência. A revolução, surgida de uma insatisfação legítima da classe operária dublinense, é completamente deturpada por agentes nocivos do clero e do empresariado, já bem estabelecidos durante o domínio inglês. Ou seja: o poder é transferido, diretamente, da coroa britânica para uma oligarquia irlandesa criminosa, envolvida em redes de tráfico de influências, prostituição e ideais de limpeza étnica anti-semita. A nova Irlanda torna-se apenas uma versão burra e nacionalista da velha Irlanda.
Dois fatores mais originais, porém, ratificam os méritos de Uma Estrela… Primeiro, a construção de Henry Smart. Acostumado a considerar-se bom malandro, auto-suficiente e bonito, semideus presenteado com um arsenal de armamentos divinos, o herói descobre-se, aos poucos, patético e desperdiçado. As tantas distorções morais de Henry, de tão bem traçadas, parecem naturais ao leitor. Não o agridem. Isto é, a amoralidade é mostrada de forma inteligente e casual, quase como uma alternativa de vida. O processo de humanização do protagonista é comovente e empolgante. Apenas beirando, perigosamente, o pernosticismo. Doyle prova ter habilidades criativas raríssimas. Henry Smart já é, assim, um dos grandes representantes literários da resistência do indivíduo frente ao nivelamento despótico que as coletividades promovem.
O outro elemento de excelência no romance de Roddy Doyle, e certamente o mais interessante, é a presença redentora das mulheres na vida de Smart. Assim como Shakespeare, Doyle parece ter uma predileção obsessiva pelas personagens femininas, reservando-lhes maior sensatez, inteligência e carisma. Enquanto os homens perdem-se em mesquinharias infantilóides relacionadas a valentia e lealdade militar duvidosa, elas se posicionam como agentes completos da salvação masculina. Lutam pela sobrevivência ou em nome da causa. O autor as faz, a um só tempo, mães e amantes fabulosas, entidades perigosas e protetoras. Doyle também nunca separa sexo, paixão, amor e grandeza, e, portanto, Henry Smart é um menino amado pelas melhores mulheres que a Irlanda já concebeu: sua mãe, Melody, que dava às estrelas o nome de cada um de seus filhos mortos; Annie, que, na ausência do marido, combatente da Grande Guerra, recolhe Henry e, como acontece com a flauta de Maiakowski, faz soar música de piano ao massagear sua coluna vertebral; a belíssima prostituta Dolly Oblong, de cabelos tão fartos e longos que cobririam a cabeça de sete meninas; a senhora O’Shea, mãe carinhosa de Miss O’Shea, ex-professora de Henry, guerrilheira feminista e feroz por quem o rapaz se apaixona desde a infância, e que o salva, literalmente, da morte e da apatia.
A única exceção entre tantas musas maternais e/ou sensuais é a Freira de tendências canalhas que expulsa Henry da escola. Vindo de um escritor irlandês, o veneno parece uma afronta ao catolicismo ferrenho de seus conterrâneos. A brincadeira, porém, não é simplesmente involuntária: freiras passam longe do ideal de feminilidade esboçado por Roddy Doyle em Uma Estrela… Não são aqueles híbridos de maternidade, desejo sexual e vontade de emancipação representados pelas heroínas desse romance sobre a carne. Não é difícil imaginar o porquê. A Bíblia, muito inadequadamente, prega, através dos Provérbios, que, em relação às mulheres, “a graça é falaz, e um sopro a formosura”. Talvez seja mais acertado optar, aqui e sempre, por um dos tantos Provérbios do Inferno, de William Blake: “Aquele que deseja e não age engendra a peste”. Ou melhor ainda: “A nudez da mulher é a obra de Deus”.