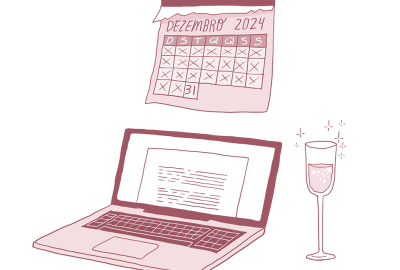1.
No atual momento da narrativa brasileira — e não apenas —, os ficcionistas sentem-se no dever de assumir a tarefa de psicanalistas, submetendo-nos a chatíssimas e previsíveis descrições da infância da personagem, do pai abusador e ausente, da mãe distraída e maldosa, do adorável tio piadista e bêbado, dos avós generosos, culminando com os infalíveis bullyings escolares etc., tudo na intenção de explicar por qual razão a personagem, hoje, é assim ou assado, coisa que não interessa “um ovo” ao leitor. Com isso, perde-se mais de um terço da novela. Esquecem-se, esses ficcionistas, do luminoso ensinamento de Clément Rosset, de que Harpagon, protagonista de Molière, é avarento, não interessando as razões de sua avareza. Em outras palavras, o relevante é mostrar a conduta atual da personagem, e como ela interage com as circunstâncias da vida. Assim, parecem-me bem mais naturais as narrativas de autores que deram relevo às angústias existenciais e metafísicas, e nesse rol estão, no Brasil, Clarice Lispector, Lúcio Cardoso, Murilo Rubião, de Souza Júnior e, na França, Simone de Beauvoir, André Gide, Jean-Paul Sartre, Albert Camus.
2.
Camus tornou-se o mais notório por força do Nobel, e, diverso de seus colegas, sua literatura possui a originalidade dos temas. Se seus colegas patinavam nos dramas pessoais e existenciais, estabelecendo circunstâncias às vezes circulares, Camus tinha a seu favor também a criação de situações críticas inéditas, deflagradoras do interesse do leitor. Tal acontece, por exemplo, com A queda.
3.
O narrador, em primeira pessoa, Jean-Baptiste Clamence, revela a um compatriota francês desconhecido, num bar portuário em Amsterdam, que é advogado e exerce sua profissão naquele bar com o curioso nome de Mexico-City, parecendo não se orgulhar disso, nem de seus gestos humanitários pregressos, nem de sua solidariedade enquanto estava em função em Paris, e tinha um conceito bastante elevado de si mesmo, “um poço de vaidade”, e das tragédias ele tinha pena dos desgraçados, mas num plano bem superficial; quando se ocupava dos outros, subia no amor por si mesmo, como ele mesmo diz. O que ele conta: numa vez, já noite, vinha pela margem esquerda do Sena, subiu para a Pont des Arts [essa mesmíssima que hoje está coberta de cadeados de amantes, o que compromete a estrutura da ponte] e ali, voltado para o sentido da montante do rio, vendo o jardinzinho Vert Galant que inicia (ou termina) a ilha, dá-se uma singularidade: ele escuta uma gargalhada atrás de si, vira-se, não vê ninguém, vai ao outro parapeito, nada, e quando retorna ao ponto de origem, ouve a mesma gargalhada às costas, “um riso bom, natural, quase amigável” igual ao anterior. O que se segue é que, naturalmente, a risada não lhe saía da cabeça, e a cada vez que passava pelo cais, de ônibus ou carro, ele fazia um silêncio para escutá-la, mas nada. Nisso se parece à fixação neurótica do patrão de Bartleby, que, quando lhe dava uma ordem, escutava-o dizer o “I prefer not do”.
4.
Albert Camus utilizou, aqui, uma técnica narrativa clássica: criou uma personagem habitual (um advogado) a quem acontece algo que não deveria acontecer. Essa situação crítica gera seu efeito, que é a tensão. A tarefa do ficcionista é potencializar essa tensão, de modo a que esteja garantido o interesse do leitor. Se, durante a escrita, essa tensão cai, adeus interesse. Simples assim. Vê-se, portanto, que é necessário ter controle sobre esta, começando pela menor (a perturbação que decorre de escutar a risada durante a noite) até que se chegue à maior, que é, contudo, cronologicamente anterior. Então, a pergunta lógica do ficcionista: como identificar uma situação crítica? Não se trata de identificá-la, mas de criá-la. E para criá-la é preciso saber o que é mais grave para a impressionabilidade da personagem. Outra personagem, que não seja este advogado, poderia não dar qualquer importância à risada noturna, mas Clamence sim, pelo que sabemos a seu respeito. Concluindo: essa risada só poderia ter acontecido a essa personagem. Isso se agrava quando ele relata outro fato, anterior a esse, em que ele, na Pont Royal, viu, debruçada no parapeito, uma jovem magra, vestida de negro, de que ele só divisou a nuca, “fresca e molhada”. Depois, estando já na Margem Esquerda, ouviu o ruído de alguém que se lançava às águas, seguido de um grito. Parou. Nada fez, deixou transcorrer um tempo até que um grito se extinguisse. Penso: “Tarde demais, longe demais…”, e saiu correndo, fugiu, não avisou a ninguém; evitou ler os jornais do dia seguinte, nem dos outros dias. A sutileza literária de Camus está em, regularmente, apresentar a situação crítica mais leve no início (o riso natural, inocente) e, depois, a mais grave, mas — eis o pormenor que muda tudo — o suicídio (a queda), em que ele não socorre a vítima, aconteceu alguns meses antes de que escutou o riso. Diacronicamente aconteceu assim: primeiro o suicídio; depois a risada misteriosa, que podemos interpretar como o riso da alma da pobre moça. Convenhamos: uma peça de virtuosismo narrativo. Com esse recurso, Camus revela a summa de toda angústia e covardia de Clamence, ao dizer “Ó jovem, atire-se de novo na água, para que eu tenha, pela segunda vez, a oportunidade de nos salvar a ambos”. Depois de considerar a hipótese de que isso, por qualquer mágica, viesse acontecer, e ele tivesse de cumprir a promessa, ele pensaria: “Brrr… a água está tão fria! Mas tranquilizemo-nos. É tarde demais, agora, será sempre tarde demais. Felizmente”.
5.
Ao terminar uma novela, é comum que nos perguntemos: afinal, o que me diz este livro? A resposta dependerá de nosso conhecimento e de nossa sensibilidade. Conhecimento sobre as coisas do mundo; sensibilidade para entender aquilo que não é dito de modo expresso; na escola diziam “mensagem”, confundindo-a com uma espécie de ensinamento moral. Então, o que nos diz, nas entrelinhas, A queda? Como livro de amplo espectro interpretativo, prefiro a explicação que segue o princípio da Navalha de Ockham e, pelo visto, dos artistas que realizam as capas para as editoras: a queda do título é a que mais importa. A queda da moça da ponte é o princípio deflagrador de todas as complexas circunstâncias interiores (ou questão essencial) de Clamence, que implicam autocentramento, dúvida, generosidade de fachada, pusilanimidade, medo, alienação do real, ausência de responsabilidade, enfim, tudo que faz dele um ser humano igual a nós, e que estão em seu pensamento final. Sim, ele tem a culpa, é perseguido por risos que mais a acentuam, muda-se de Paris para a Amsterdam, mas não consegue deixar de ser o que é, mesmo que isso lhe cause intenso sofrimento. (Isso prova, mais uma vez, que a personagem pode não mudar no fim da obra, tal como acontece com o Alex, de A laranja mecânica). Com esse refinado subtexto e por sua exigente complexidade, A queda merece ser incluída em nossa mochila das obras canônicas do século 20, e, particularmente, da literatura existencialista.