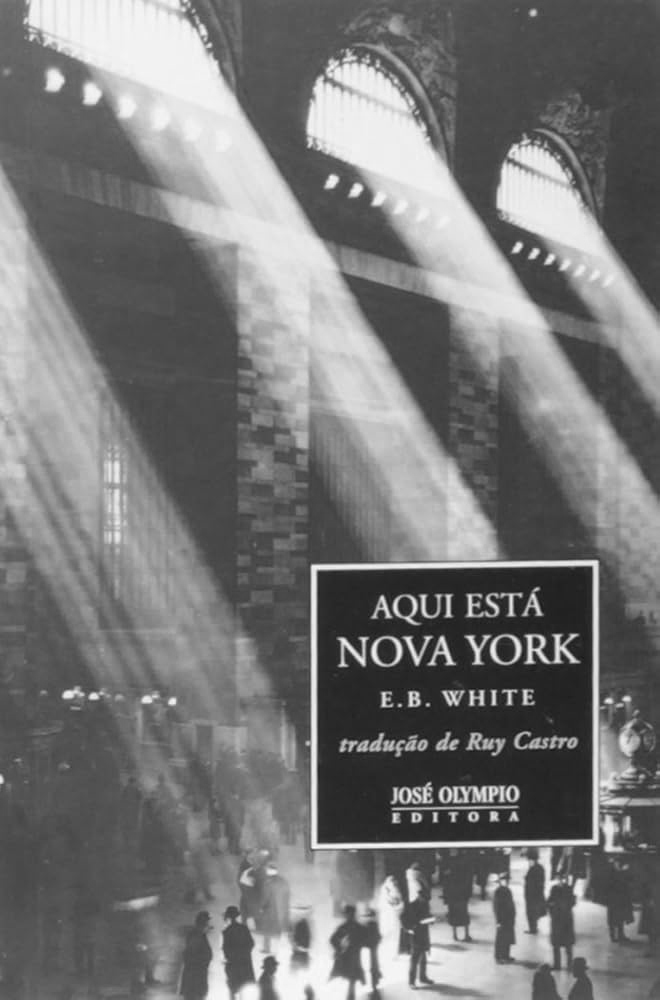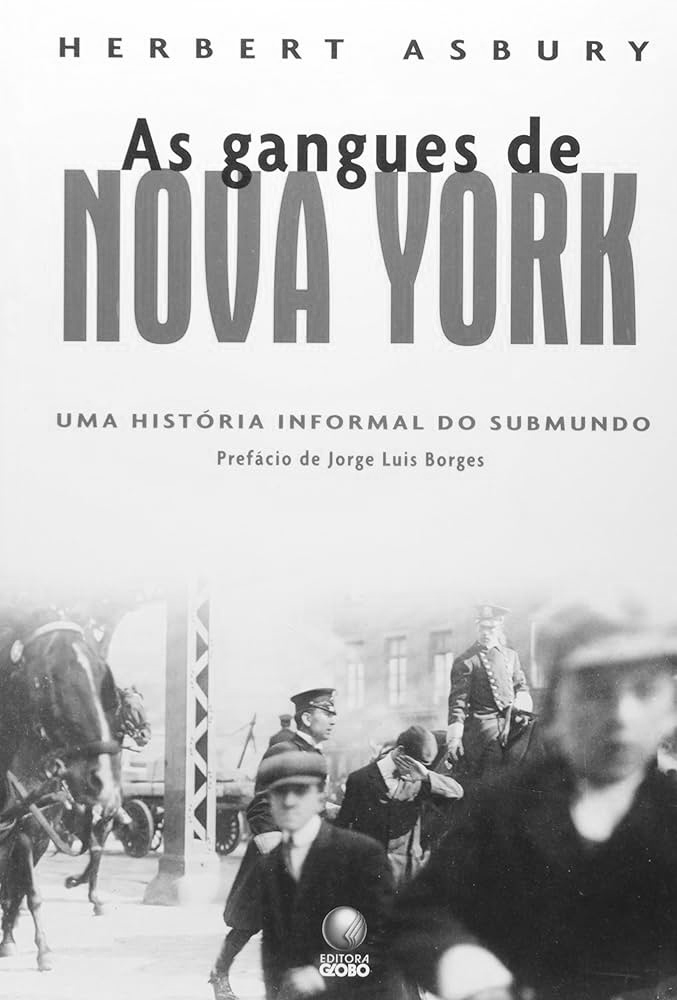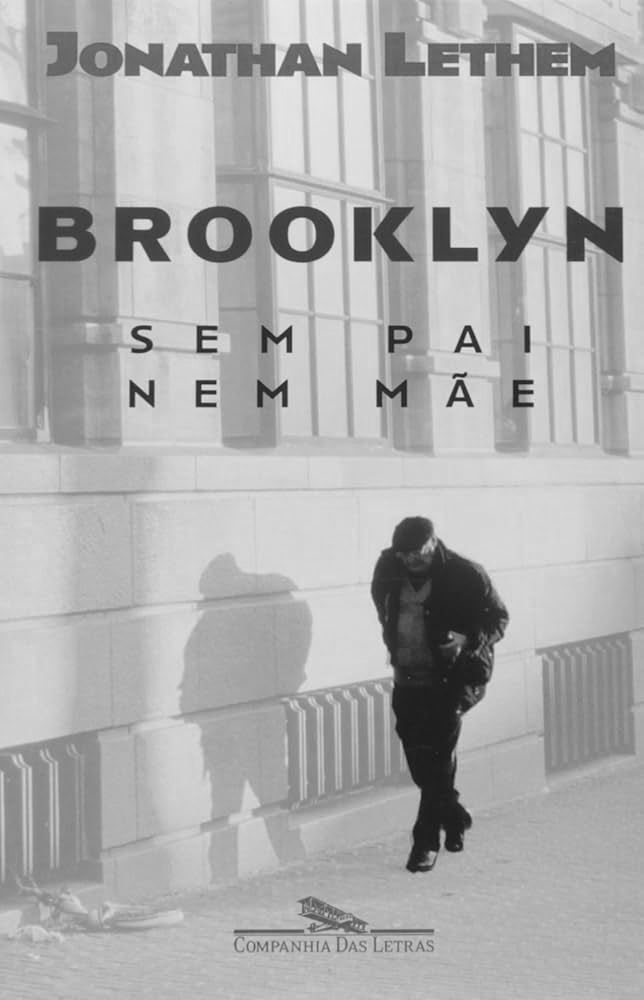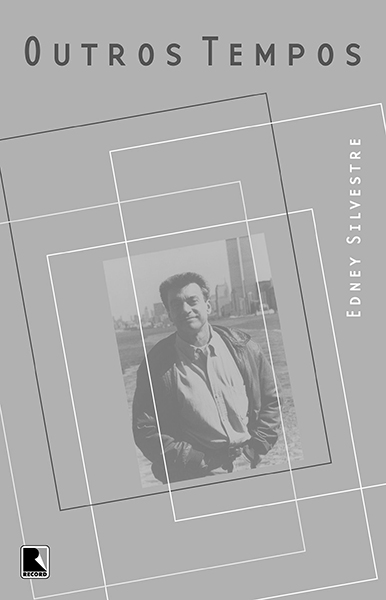Há duas maneiras de se ver Nova York. A mais tradicional, a visão turística, é, inexoravelmente, de cima para baixo. O ápice de uma visita à cidade é a subida aos mirantes de seus magníficos prédios, ainda que dois dos principais não existam mais. As vistas deslumbrantes dos topos do Empire State e da Estátua da Liberdade permanecem entre os momentos mais extasiantes do turismo mundial.
Mas Nova York é muito mais que uma coleção de cartões postais ou fotografias, suficiente para admirá-la, pouco para entendê-la. Falta aí a visão de baixo para cima, que só pode ser obtida com a vivência na metrópole, coisa muito mais complicada que apertar o botão do elevador ou da máquina fotográfica. Já escrevia Elwyn Brooks White, em 1948: “Nova York pode destruir um indivíduo ou permitir sua realização, dependendo muito da sorte. Ninguém deveria vir morar em Nova York a menos que quisesse ter sorte”.
No ano seguinte, o ensaio de White virou o livro Aqui está Nova York, publicado agora no Brasil pela José Olympio. Quando foi lançado, o bem escrito livreto de White foi recebido como um dos maiores retratos das transformações que fizeram de Nova York uma metrópole de característica única (“não é a capital do país, nem mesmo do estado. Mas Nova York está se tornando a capital do mundo”).
Observador arguto e dono de um bom texto, White simplesmente colocou no papel aquilo que se desenhava a sua frente. Percebeu de imediato a “colisão e a mistura de milhões de estrangeiros, representando tantas raças e credos”. O ex-ensaísta da revista The New Yorker também deu a receita, válida até hoje, para que a cidade não se tornasse “uma nuvem radiotiva de ódio, rancor e preconceito”. Segundo White, os habitantes de Nova York eram tolerantes não apenas por disposição, mas também por necessidade. Grande e cosmopolita, a cidade tinha todos os problemas raciais possíveis, mas, escreveu o autor, “o notável não são esses problemas, e sim a trégua inviolada”.
E. B. White morreu famoso em 1985. Recebeu o Prêmio Pulitzer em 1978 e consagrou-se com obras infantis como Stuart Little. Aqui está… também já tinha lugar na história como um dos primeiros e melhores ensaios sobre Nova York. Um parágrafo despretensioso deste texto célebre, no entanto, acabou transformando o livro num dos mais premonitórios de todos os tempos, deixando Nostradamus no chinelo.
Naturalmente que White nunca imaginou que Nova York viesse a enfrentar o 11 de Setembro, mas foi justamente o atentado que trouxe à tona o livro escrito meio século antes. Nas últimas três páginas, White divaga sobre as transformações arquitetônica e diplomática da cidade, que passou a sediar a ONU. O escritor detectou, há mais de 50 anos, que a mudança mais sutil “referia-se a algo que as pessoas não falam, mas que está na cabeça de todo mundo”. Para White, Nova York se tornava destrutível, e aí ele disparou o fatídico parágrafo:
“Uma simples revoada de aviões pode rapidamente acabar com esta ilha da fantasia, queimar as torres, desmoronar as pontes, transformar as galerias do metrô em câmaras letais, cremar milhões. A suspeita da mortalidade faz parte agora dos jatos sobre nossas cabeças, nas manchetes pretas da última edição.”
E, nos tempos em que Bin Laden nem era nascido, White decretou: “Na mente de qualquer pervertido que enlouqueça, Nova York deve exalar um encanto irresistível”.
Se a Nova York de White continua atual em sua essência, a do escritor Herbet Asbury está mais para o cinema. Também um jornalista tarimbado, Asbury publicou em 1928 uma minuciosa e reveladora pesquisa sobre a história da criminalidade que assolara a cidade durante todo o século anterior. As gangues de Nova York — Uma história informal do submundo chega ao Brasil mais de setenta anos depois, ao mesmo tempo em que vira filme. Dirigido por Martin Scorsese, deve estrear no País ainda neste ano.
E o melhor talvez seja mesmo ver o filme. Não que o livro seja de todo ruim. Digamos que é uma leitura pesada, a começar pela tradução precária. Além disso, havia tantas gangues em Nova York no século 19, que com o número de personagens apresentado por Asbury daria para se fazer um catálogo de endereços só com gângsteres. O livro acaba sendo quase isso, com exceção de algumas boas histórias intercaladas entre as centenas de nomes. A primeira delas é que as gangues daquela época consistiam basicamente de ladrões comuns e arruaceiros. A maioria roubava por falta de algo melhor para fazer. Matar também era um tipo de diversão. E entre um passatempo e outro, nada como uma boa briga.
A rivalidade entre as gangues acontecia até no combate a incêndios. À época, era ponto de honra para qualquer homem pertencer a uma brigada voluntária de bombeiros, incluindo-se aí os ladrões. Havia disputa entre as gangues pelos hidrantes para garantir uma participação heróica quando soava o alarme. O cúmulo da humilhação era descobrir que todos os hidrantes haviam sido tomados por outra turma. Os membros da Bowery Boys usavam um método peculiar. Quando soava o alarme, um deles colocava um barril sobre o hidrante, sentava-se em cima e o defendia valentemente contra os ataques dos bombeiros rivais até que chegasse a sua própria máquina. “Muitas vezes, a briga pelos hidrantes era tão feroz que os Bowery Boys não tinham tempo de apagar o fogo!”
Em 1855, conta Asbury, havia na metrópole cerca de 30 mil homens que deviam lealdade aos líderes das gangues. Alguns anos depois, metade deste exército de bandidos promoveu uma batalha de seis dias contra todas as autoridades estabelecidas, fruto de um descontentamento com a lei que recrutava os nova-iorquinos para a Guerra da Secessão. Os conflitos pipocavam em cada canto da cidade e só terminaram quando as tropas federais chegaram a Nova York para colocar a casa em ordem. A estimativa para o saldo dos combates foi de pelo menos dois mil mortos e oito mil feridos, número maior que o de algumas batalhas da própria Guerra Civil.
Apesar de a maioria das baixas ter sido entre as gangues, elas logo se reergueram com um novo e mais lucrativo tipo de crime, o roubo a bancos. Mas nem por isso os gângsteres deixaram de lado suas atividades mais vis. Em 1883, quando um integrante dos Whyos foi preso, em seu bolso havia uma lista de pequenos serviços que prestava:
Socos – US$ 2
Dois olhos negros – 4
Nariz e queixo quebrados – 10
Desmaiado (sem porrete) – 15
Orelha arrancada com os dentes – 15
Perna ou braço quebrado – 19
Tiro na perna – 25
Facada – 25
Serviço completo – 100 ou mais.
E olha que o dono da listinha não era Monk Eastman, o mais temido e notório chefe de gangue que Nova York conheceu. Aliás, não apenas Nova York. A fama do gângster rendeu-lhe um conto de Jorge Luis Borges (O provedor de iniqüidades Monk Eastman) na sua História universal da infâmia, matreiramente incluído como prefácio na edição brasileira de As gangues…
Eastman era implacável. Orgulhava-se de jamais ter golpeado uma mulher com seu porrete. Quando tinha que “disciplinar” uma senhora, simplesmente enegrecia os olhos dela com seu punho. “Só dou uma cutucadinha. Só o suficiente para baixar um pouquinho o ânimo dela. Mas eu sempre tiro meus socos-ingleses antes.”
Apesar do voluntarioso trabalho de pesquisa de Herbert Asbury, Eastman e seus comparsas devem ficar melhor mesmo quando estrearem na tela grande. Ou seriam mais facilmente digeridos como personagens de um romance, como preferiu Jonathan Lethem, que retratou uma gangue nova-iorquina mais moderna no excelente Brooklyn sem pai nem mãe.
Já na primeira página, Lethem dá a tônica da história. O protagonista Lionel Essrog revela que sofre da Síndrome de Tourette, distúrbio que lhe provoca tiques nervosos. Eles vão desde gestos descontrolados, vontade de beijar quem estiver pela frente e falar como uma metralhadora coisas que nem ele entende. Se a síndrome já complicaria a vida de uma pessoa comum, imaginem os estragos na de Lionel, cuja profissão deveria primar pela discrição. Ele é subalterno de Frank Minna, um pequeno mafioso do Brooklyn, o único que o compreende, apesar de chamar Lionel de Show de Aberrações Humanas. Minna morre misteriosamente e começa a aventura de Lionel para solucionar o crime. Mas é uma trapalhada solitária pois, diferentemente do que Lionel pensava, descobrir as causas da morte de Minna não interessava a ninguém.
Sem os tiques da Tourette, Brooklyn… já seria um excelente romance policial. Mas a metralhadora verbal de Lionel exigiu (e serviu para revelar) uma habilidade extraordinária do autor com as palavras. Lethem escolheu este caminho perigoso e soube transpô-lo como se fosse o próprio Lionel. A enxurrada de palavras sem sentido de Lionel parece ter significado à medida que o personagem ganha densidade. Em certos momentos, a síndrome parece ser uma fórmula mágica para se dizer o que realmente pensa. (“Paspalho, cascalho, caralho, eu disse, prisioneiro de minha síndrome”). São palavras que magoam, libertam, denunciam, mas já nascem perdoadas. (“O que significam as palavras? São só palavras. Não significam nada”).
Com o drama de Lionel, Lethem mostra uma Nova York um pouco mais palpável que a de Herbert Asbury. Afinal, se em cada bairro havia uma gangue, em cada esquina há uma vida. Isso foi o que tentou mostrar o jornalista Edney Silvestre em Outros tempos, uma coletânea de crônicas, algumas inéditas, outras já publicadas em jornal durante o tempo em que foi correspondente em Nova York. O livro de Silvestre é uma montanha-russa, não de emoções, mas de altos e baixos. O texto é muito bom, em estilo jornalístico bastante apurado, beirando a crônica literária. Mas na maioria das histórias falta ou sobra algo.
Silvestre começa lá em cima, com uma bela e sensível descrição das semanas seguintes ao atentado do ano passado (“No Ponto Zero, um novo tipo de bombeiro pode ser visto entre as equipes que se revezam ali. São os bombeiros aposentados que buscam os corpos dos filhos, igualmente bombeiros…”). Mas a queda é vertiginosa quando nesta mesma crônica (Outros tempos) o autor relata como foi seu trabalho no dia do ataque. Há elogios para toda a equipe de sua emissora, num delírio corporativista para agradecer o apoio de pessoas que estavam ali para…lhe dar apoio. Assim, o leitor fica sabendo, por exemplo, que a equipe teve dois motoristas extras nas primeiras semanas, ambos brasileiros: Amaral e Caláu (sic). Sem querer desmerecer o trabalho da equipe, esse tipo de coisa fica melhor na dedicatória, onde figura apenas o nome do ex-chefe do autor.
Silvestre naufraga ainda em histórias bobas como a da amiga que vai dançar um tango com uma drag queen em Nova York, como se isso fosse algo assombroso numa cidade que viu as Torres Gêmeas virarem pó. Há deslizes graves como a análise pueril e sem qualquer fundamento do comportamento sexual do nova-iorquino (“Estamos falando de hormônios, do incontrolável apelo da natureza borbulhando nas veias, fervendo na pele…”). Em respeito à inteligência do leitor, não vou reproduzir todo o parágrafo, mas ele acaba em: “Reproduza! Reproduza! Reproduza!”.
É pena que, na maioria das crônicas, Silvestre não “reproduza” a sensibilidade mostrada em Mister Manuel, o imigrante português que morre justamente quando decide voltar para seu país. Ou mantenha o nível de Uma mulher no exílio, um relato interessante e impecável de sua ida ao Oriente Médio para entrevistar um líder guerrilheiro anti-Saddam Hussein.
Se na contabilidade final a montanha-russa de Outros tempos tem mais baixos que altos, o livro surpreende ao revelar um Edney Silvestre menos sensaborão e com um texto muito melhor do que aquele que apresenta na televisão, em reportagens na Globo. Mesmo assim, não dá para perdoar a indefectível foto no maior estilo turistão na capa do livro.