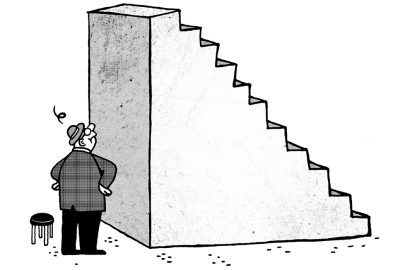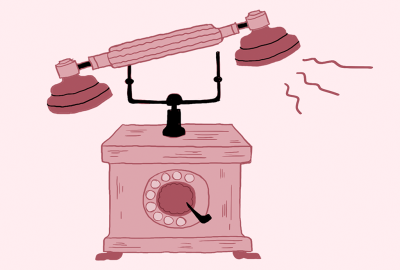A desconfiança é tomada, em geral, como um sentimento negativo; isto é, vista como uma ausência, a de uma qualidade fundamental, a confiança. Contudo, os sentimentos, como os paletós e os tapetes, carregam também um avesso, e é por isso que se pode tomar a desconfiança — o poder da suspeita, a capacidade de supor, conjeturar e duvidar — como um sentimento positivo e criativo. O escritor nova-iorquino Paul Bowles, que morou grande parte de sua vida em Tanger, no Marrocos, viveu essa experiência. Casou-se com Jane Bowles — mas ele preferia os rapazes e ela, as mulheres. O acordo (talvez fosse melhor falar em desacordo) entre os dois guardava uma aparência bastante funcional, até que Jane se apaixonou por uma criada marroquina, com quem veio a ter uma relação que se estendeu ao longo de duas décadas. E com ela ficou, até morrer, vítima de uma doença cujo diagnóstico os médicos não conseguiram estabelecer.
Paul Bowles sempre achou — sempre suspeitou — que a criada (que talvez tivesse dupla face), para conservar a amada, pudesse ter recorrido a algum pacto demoníaco. E, depois da morte da mulher, teve certeza, mesmo sem provas, de que Jane fora envenenada pela amante. A desconfiança, que provavelmente foi nociva a sua vida pessoal, no entanto, tornou-se positiva para sua literatura. Dizendo melhor: no episódio, veio à tona, de forma mais bruta, um elemento que, desde antes, já predominava na escrita de Bowles. Suas narrativas tratam, em geral, de personagens instalados em situações limites, diante de um abismo ou de uma catástrofe, cujo sentimento de segurança está à beira do colapso e que, retidos em mundos remotos e asfixiantes, lutam para não ceder à desintegração psicológica. Personagens cuja existência é gerida pelo medo e que, por princípio e em conseqüência, sempre desconfiam do que vêem e do que ouvem, agindo, assim, como agentes da desconfiança. Um sentimento particular, que predominou em certa etapa da vida pessoal de Bowles e que lhe trouxe inquietações íntimas nada desprezíveis, na literatura ganhou (desde antes, porque já não se trata aqui de um tempo lógico, de um jogo de causa e efeito) um valor positivo, tornando-se mesmo, pode-se cogitar, o motor de sua escrita. O que estimula a pensar que a arte não está associada aos bons sentimentos, nem enobrece, por si, o caráter de ninguém. Basta pensar em nomes radicais, como Genet ou Céline, para verificar que, de fato, as relações da arte com a subjetividade não guardam a aparência reta de uma fotografia, ou de um espelho. São, ao contrário, tensas e vagas, e pedem de seus intérpretes muita prudência, além de espírito desarmado.
• • •
Releio A consciência de Zeno, do italiano Ítalo Svevo. Svevo — como os austríacos Robert Musil e Arthur Schnitlzer —, ainda que tenham sido escritores despreocupados com as inovações formais que marcaram sua época, estão entre os maiores romancistas do século 20. Além disso, a literatura dos três vem marcada pela leitura que fizeram de Freud e, por isso mesmo, pela reviravolta que a psicanálise produziu nas mentalidades e na cultura. Ponho-me a pensar em Zeno, um personagem incapaz de agir. Quer parar de fumar, mas não pode chegar a seu propósito, uma força invisível o retém. É inseguro, sofre de fraqueza psíquica e o pouco que se mexe, é sempre para responder (como um animal qualquer, vitimado pelo instinto) a estímulos externos que, ao mesmo tempo, ele recusa e que, ainda assim, o acossam. Ao ceder enfim à pressão dos outros, ou das circunstâncias externas, sente-se manobrado, manipulado, menosprezado; mas essa força alheia, que ele é incapaz não só de ver (até porque não pode ser vista), mas também de nomear, é a única que consegue não se movê-lo, mas agitá-lo. Zeno se comporta como um prisioneiro, retido numa engrenagem cuja existência só ele parece perceber, na qual é o único detento e onde só lhe resta espernear, sem a chance de que seu pequeno show seja levado em conta por uma platéia.
Poucos personagens do século 20 falam com tanta veemência do século 21 que estava por vir quanto Zeno. Ele — assim como os personagens mais importantes de Musil e de Schnitlzer — é um sujeito deslocado de seu tempo, que sofre a pressão, quem sabe, de coerções que ainda estavam por vir, ou que ainda não podiam ser claramente divisadas e nomeadas. Foram criaturas do século 20, mas são só a ponta de um fio que se desenrola, veloz, pelo século seguinte, o nosso século de agora, e cuja origem ainda estamos longe de detectar. São personagens, são livros que, ainda hoje, não podemos ler com indiferença — como não podemos ler com indiferença o Livro do desassossego, de Pessoa, ou O castelo, de Kafka. Lê-los, relê-los, é encontrar/reencontrar com o poder visionário guardado na literatura, algo bem diferente da literatura morta, desligada de seu meio e de seu tempo, que vive apenas “por si”, defendida, hoje, por tantas vozes influentes.
• • •
Numa entrevista, Bernardo Ajzenberg, o autor de A gaiola de Faraday, diz: “Escrever é recuperar o fôlego, se desfazendo do ar antigo que está dentro do teu corpo. É trocar o sangue”. A postura proposta por Ajzenberg é a única capaz de conduzir a literatura de volta ao real. Só quando um leitor “troca de sangue” com um livro, isto é, só quando é brutalmente afetado pelo que lê, os aspectos vitais da literatura se manifestam. Não existe essa separação, “aqui o livro”, “ali o escritor”, que hoje vigora em meios ilustrados e de prestígio. Um livro não existe também sem seus leitores, e para cada leitor um mesmo livro é um livro diferente, é outro livro, e esse desfiladeiro de leituras, em que um livro se desdobra, se perde e se perpetua, é sempre interminável. Seu fim não é a “leitura correta”, mas a “ausência de leitura”, ou seja, aquele momento em que ele cai no esquecimento. Há um sangue (talvez seja ainda melhor pensar numa eletricidade, que é invisível e porta cargas intensas de choque), uma eletricidade que, surgindo entre o leitor e seu livro, ligando-os, configuram o que podemos chamar, de fato, de leitura. Ler não é só entender, associar, interpretar, aceitar ou recusar; é, sobretudo, experimentar uma transformação, sofrer o impacto de um livro, como de uma pedra, ou de uma faca. A medida de um livro está nesse impacto (e não no escândalo, ou nos raciocínios que é capaz de gerar), abalo que ele consegue produzir em seu leitor. Nessa colisão entre escrita e leitor. O leitor que se preserva do que lê não merece esse nome.
• • •
No poema Não é o Tibre que transborda, de Lucinda Persona, esbarro em versos que me perturbam: “Essas observações são importantes/ ao poema? Não sei/ este é um poema? Também não sei/ mas se derrama/ não que as palavras fundamentais/ estejam ausentes/ é que minha ligação com a realidade/ é muito estreita”. A criação de uma intimidade, ou cumplicidade, Lucinda sugere, é peça chave na formação de um poema. Ao ler um poema que de fato o abala, o leitor “é”, por instantes, o poema que lê. Não é o Tibre que transborda, é a poesia, já que a arte é feita desses extravasamentos, ou contaminações. O poeta se contamina pelo que escreve — e repassa o vírus que inoculou a seus leitores. Mesmo um poeta dito “cerebral”, como João Cabral de Melo Neto, escreveu comprimido entre palavras, açoitado por elas, em estado de tensão — ou, como Cabral preferia dizer, de melancolia. Daí muitos poemas hoje guardarem por contraste, a aparência de camisolas gastas e largas, corpos disformes, incapazes de interferir e, por que não, de ferir. Mas não os poemas de Cabral, ou os de Lucinda, que nos deixam com as mãos manchadas de sangue.
• • •
O escritor argentino Juan José Saer diz que a literatura se compõe de uma parte fixa e outra móvel, ou fluida. Quando escreve um romance, ele explica, parte sempre de um plano, isto é, de algumas linhas fixas. Mas, conforme avança na escrita, o elemento fluido vai se infiltrando em seu plano inicial, de tal modo que o resultado não é nem a pré-concepção original, nem o elemento fluido que a invadiu, mas o modo como esses dois elementos passam a se relacionar, como eles resistem um ao outro, como eles se suportam e coabitam. De fato, não existe literatura que preste sem esse movimento interior, não importando aqui saber quais elementos predominam e quais outros permanecem recalcados, ou disfarçados, ou simplesmente recusados. A literatura (a arte) é uma luta que se trava não para vencer, ou para derrotar, mas para experimentar. Esse combate é absolutamente individual — e se perde quando o escritor se submete a hábitos mentais, cânones, ou regras de escola. Para combater, cada escritor deve encontrar seu próprio tamanho, seu campo de luta e suas próprias armas; se cede e se molda aos princípios de terceiros, pode obter o reconhecimento de seus pares, e até se consagrar, mas não chegará a ser o que escritor que devia ser.
No filme Janelas da alma, a que já me referi em nota anterior, José Saramago recorda, a propósito, que não vemos nem as coisas muito grandes (ninguém vê uma galáxia), nem as coisas muito pequenas (como um vírus), só vemos as coisas que têm o nosso tamanho. Ou seja, o próprio ato de ver tem sua origem numa limitação, numa exclusão, numa cegueira. Ou, como disse o cineasta Wim Wenders, se tudo víssemos, nada veríamos — e filmar seria uma atividade impossível. Só vemos, portanto, porque tantas outras coisas nos escapam. Os textos de Saer, já disse um crítico, parecem sempre começar com a frase: “!Agora estou sentado e aqui vejo”. Logo, o escritor não narra, mas ilumina o que vê — e, é bom que se entenda, um escritor não vê apenas com os olhos. Se só vê o que tem seu próprio tamanho, só pode ver, ou imaginar, aquilo que é, ou, no máximo, ou que pode vir a ser. Aqui também o real impõe seus limites, que não podem ser ultrapassados, mesmo num campo em que vigoram o sonho e o delírio. Escrever, então, é tornar-se aquilo que se é — e não se adaptar ao desejo do outro, ou sucumbir às vantagens do elogio, ou do sucesso. Para tomar uma expressão de Renato Mezan, que fala da psicanálise e não da literatura, é “uma experiência de si e uma descoberta da própria liberdade interior”. Sem isso, pode haver até quem escreva bem, mas não há escritor que escreva para valer.