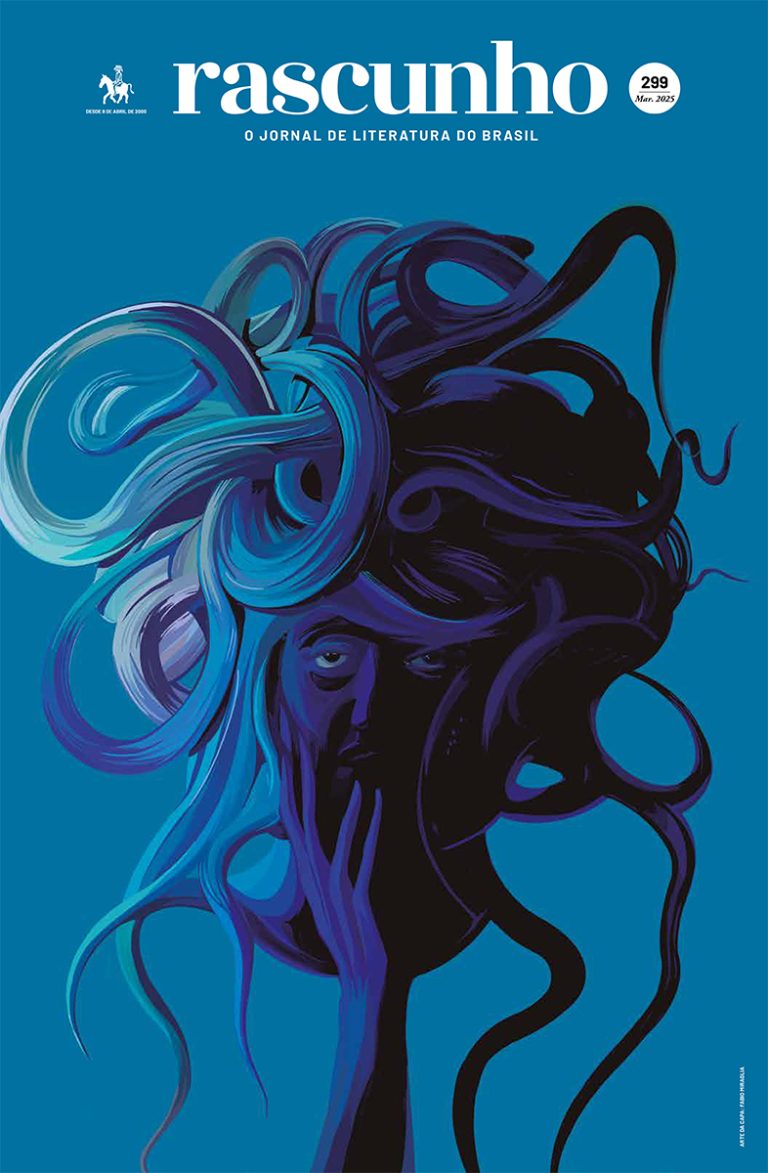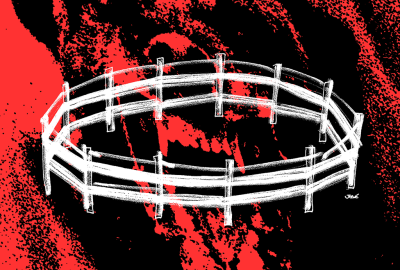A literatura brasileira valoriza a impunidade. Adriano Espínola completa 25 anos de crimes poéticos (e o dobro de vida) e permanece com liberdade criadora. “Se continuo livre, isso se deve por certo à benevolência dos críticos do país”, afirma. Professor de Literatura Brasileira na Universidade Federal do Ceará e doutor pela UFRJ, desfruta de um reconhecimento cada vez maior: integra as antologias Cem melhores poemas do século XX, de Ítalo Moriconi, e 100 anos de poesia, de Claufe Rodrigues e Alexandra Maia, tornou-se questão de vestibular em Fortaleza, Beira-Sol está na quinta edição, Lote clandestino ganha relançamento pela Topbooks e o poema Táxi continua circulando com sucesso nos Estados Unidos. É um escritor genuinamente independente, muitas vezes até de sua obra. Órfão, órfico, muda antes de ser fixado em algum jargão. Diversificou estilos em sete livros publicados. Foi até o fim da linha do metrô e voltou para cantar a história. Entranhou-se no caos, retratando a tragédia dos favelados e captando a velocidade das metrópoles. Criou uma miniatura de sua época, a dicção tensionada, quase estalo, revirando “o suor oculto das coisas” e o sentido velado das palavras. Trabalha com resíduos de ideologias, restos de memória, sobras de vozes, formando um patrimônio da exclusão. Converte as tocaias da noite em matéria solar. Habilitou o lirismo dentro do concretismo, impregnando diálogos contemporâneos de uma aspiração épica. Cartógrafo dos versos, cruza narrativas e símbolos, fundindo a realidade histórica com a da linguagem.
Em entrevista ao Rascunho, Adriano Espínola mostra que não lhe falta autocrítica, muito menos talento para polemizar. Acredita que os poetas precisam mesmo de aeróbica. “É visível o cansaço, a falta de pique e de fôlego de certos textos.”
• Sua poética se adapta às cidades em que morou. Não estou falando de uma descrição, mas de absorver a linguagem de Fortaleza, Nova York, Rio de Janeiro, Paris, Grenoble, perceptível em O lote clandestino, Fala favela, Em trânsito e Beira-Sol. Que terrível espelho é esse?
Terrível, nada. Acho antes fascinante o marurbano. As metrópoles são para mim um espelho crítico da vida contemporânea, o lugar onde o tempo humano se espacializa, ganha direções, velocidade, contornos e desafios não raro épicos; lugar onde todos os tempos se encontram; lugar de trocas intensas de coisas e palavras; onde se aguçam encontros e solidões, trabalho e lazer, amores e ódios, crimes, cores e crenças; lugar, enfim, onde a História, como diria Walter Benjamin, se inscreve simbolicamente nos fragmentos da vida cotidiana, cujo ritmo trepidante, vertiginoso, tentei expressar nos textos de O lote clandestino e nos poemas-viagem Táxi e Metrô (Em trânsito), os quais atravessam cidades do Brasil e do exterior. Nesses poemas, tudo se torna passageiro, rotativo, impulsionado por um Eros transfigurador. Já em Fala, favela, Fortaleza comparece sob um ponto de vista dramático, no seu duplo sentido, em que busco expressar, baseado num episódio real, o drama de favelados expulsos de suas casas, empregando aí uma linguagem igualmente popular. Em Beira-Sol, a cidade, as coisas e os seres refulgem, por sua vez, sob o brilho de metáforas alucinadas de sol, desse sol que com seu gume aceso retalha cumeeiras, ruas e rostos à beira-mar. Em suma, você tem razão ao notar que minha obra — admitamos essa hipótese generosa para meus exercícios literários — revelaria uma certa absorção da linguagem das várias cidades onde morei e que poeticamente possuí, sempre de passagem.
• Sete livros, todos praticamente diferentes entre si. Como diz o poeta Saint-John Perse, “habita a metamorfose”. Sua dicção não se acomoda em nenhum canto, diversificada no verso livre, nos haicais, na métrica clássica e na rima nordestina?
De fato, tenho procurado diversificar meu trabalho poético. Em cada livro, tento realizar, bem ou mal, um projeto temático e estilístico diferente do anterior. Essa diversidade, que tive oportunidade de ressaltar em um cândido artigo, publicado aqui mesmo no Rascunho, não significa de modo algum qualidade. Ao contrário: corro o risco de dispersão ou desfiguração constante, a um passo do esquecimento futuro. Isso me parece um grave defeito. Mas o que fazer? Sempre que ponho minha orquestra verbal para tocar, digamos, uma peça clássica, logo em seguida sinto vontade de batucar um samba, improvisar um jazz ou tirar um som das panelas e madeiras da casa. Mas veja bem: essa diversidade não resulta tão-só da forma externa do poema (soneto, haicais, sextilhas, etc.), como você alude ou alguém poderia supor. O negócio é mais embaixo. Tem a ver com a forma interna, com o traçado estilístico, que é uma espécie de jogo de corpo com a linguagem aliado a uma visão-de-mundo específica. O estilo literário é algo mais carnal que imaginário. Um músculo que se desenvolve. Uma pulsão e uma ex-pulsão da escrita. É com esse duplo movimento que entro e saio da cena de um livro que escrevo. Não é à-toa que correr, levantar peso ou nadar faz bem aos escritores.
• Tanto Metrô (1993) como Táxi (1986), reunidos no Em trânsito (Topbooks, 1996), possibilitam um livro portátil, que assimila a velocidade, o alvoroço, fragmentando os versos e incorporando os cortes cinematográficos. Houve um resgate da colagem modernista e da montagem futurista?
Sim, a estrutura desses poemas é de base cinematográfica. Ao escrevê-los, pensei em atuar como um diretor que, com um orçamento limitado e um roteiro em aberto, procedesse de modo avaro e veloz, cortando cenas aqui e acrescentando outras acolá, de modo a valorizar esteticamente cada quadro e a grana investida. Interessante é que o poeta Décio Pignatari, depois de ler o Táxi, me disse que teve a impressão de assistir a um filme, como se eu tivesse escrito o poema com uma câmera na mão, ao atravessar a cidade e a periferia, realizando uma narrativa que seria “uma mistura de Mallarmé com João Antônio”. A produção “cinematográfica” desses poemas se faz também com base em inúmeras colagens intertextuais e montagens de cenas diversas, no tempo e no espaço, realizadas entre o olho que lembra e a memória que vê.
• Percebo duas fases distintas em sua trajetória: uma valorizando a cultura urbana e outra, a cultura popular. Beira-Sol revela um mundo mítico, dos pequenos povoados, dos jangadeiros e rendeiras de Fortaleza. Por sua vez, Em trânsito, assim como O lote clandestino e Fala, favela, dramatizam o caos social e verbal das metrópoles. Nota essa dicotomia entre a infância do mar e o desespero adulto, entre o sol (“pai de todo pensamento”) e a noite, entre a paciência do folclore e a pressa das gírias?
Acredito que, em meu trabalho, a cultura urbana predomina sobre a popular. O lote clandestino e Em trânsito pretendem expressar, de modo vertiginoso até, o cenário das cidades, com seus esplendores e misérias, chamamentos e bloqueios, desenvolvendo-se a partir de uma linguagem marcadamente metonímica, associativa, incorporando com rapidez múltiplos registros lingüísticos, referências culturais e literárias do país e de fora. Já Beira-Sol e Fala, favela apresentam tipos e cenas populares brasileiros/nordestinos, sobretudo este último livro, em que as vozes dos favelados surgem em tensão dialógica, o que facilitou a sua representação teatral. Em ambos, a linguagem se centra no eixo metafórico, levando, em Beira-Sol, até mesmo a uma percepção mítica e transfiguradora da realidade presente e histórica, com os seres e as coisas refulgindo na claridade. Não vejo nisso aí nada de folclórico, nem tampouco os poemas urbanos são marcados pela pressa das gírias, mas sim por uma multiplicidade de falas e ritmos, recortados e recolhidos pelas esquinas e sinais, na agitação das ruas, praças, sinais e gestos.
• Você surgiu do protesto, da performance, do engajamento social. Ainda persiste a vontade de mudar a realidade pela linguagem?
Quando Fala, favela foi encenado, em 1980, acreditava-se então que era possível contribuir, no plano artístico-literário, para que ocorresse uma mudança na realidade social e política. Isso se chamava à época “cultura de resistência”. Era preciso, sim, derrotar a censura e a repressão e denunciar as mazelas sociais de nosso país. Naquele momento, a arte engajada era de todo válida. Fala, favela ajudou, de alguma forma, quero crer, a elevar a consciência das pessoas envolvidas no processo de organização social e na luta pelos direitos de moradia, em Fortaleza. Hoje, entretanto, já não mais seria possível pensar em mudança da realidade política e social do país por meio de um poema ou de uma peça de teatro. O jogo é outro. Se há liberdade democrática no Brasil, existe, por outro lado, uma incrível manipulação do desejo e das necessidades humanas pela mídia voltada para o consumo e para o deus mercado, em escala planetária. A linguagem verbal, assim como a subjetividade, estilhaçou-se. As imagens do mundo, na tevê, se sucedem, vertiginosamente, sob o comando do controle remoto. Mudar a “realidade” significa mudar de canal: simples questão de zapping.
• Você teatraliza a palavra, buscando a máxima expressão gestual. Poderia dizer que sua poesia é um teatro velado?
Creio que sim. Cada livro meu apresenta um conjunto, estilisticamente marcado, de poemas que dialoga por oposição com outro livro, criando uma estrutura dramática implícita com base nas diferentes vozes poéticas. Como todo ator (ou aprendiz de), procuro encarnar física e psicologicamente o personagem, que seria o “autor” destes ou daqueles versos. Assim, ao escrever os haicais de Trapézio, tornei-me vegetariano e pratiquei o zen-budismo, enquanto durou o silêncio e a iluminação do satori; ao me dedicar aos poemas de O lote clandestino, passei a andar de gravata, a comer pizza e fast-food, consumindo tudo o que via pela frente e falando adoidado; depois, entrei num Táxi e me mandei, a toda e apaixonado, até ao último motel da praia do Futuro. Já ao escrever os poemas de Beira-Sol, fingi-me de pintor, alimentei-me só de frutos do mar, bebendo a luz do sol do meio-dia, até sentir-me translúcido e sacar que “o sol é o pai de todo pensamento”, e assim por diante… Enfim, tenho me divertido com os poetas-personagens e as cenas-versos que se desdobram dentro de mim. Essa é a herança barroca de que mais gosto.
• O anonimato é uma de suas preocupações. Pretende recuperar o nome em tempo de muito individualismo e raras individualidades?
Quem disse que me preocupo com o anonimato? Me preocupo sim com o inominado. E não pretendo recuperar nada — a não ser o nome das coisas que vejo por alguns momentos, para logo esquecer no espaço do poema. Tudo é perda, meu caro. O único nome digno de recobrir uma possível individualidade poética já foi pronunciado há cerca de 3.000 anos e que continua válido até hoje. Trata-se da resposta de Ulisses ao gigante Ciclope, ao ser perguntado como se chamava: Ninguém. Os poetas, pois, continuamos ninguéns — se quisermos, é claro, sobreviver, depois de vazarmos o olho desta Civilização furiosa.
• Sua poesia é feita do desejo, a compulsão. Um prazer que começa no próprio ato poético, na metalinguagem. Não há versos sem atrito e o risco de se perder no percurso?
Escrevo por puro prazer, sem essa de que a criação literária seria cercada de sofrimento. Mesmo falando dos dramas da condição humana e social (injustiças, angústias, solidões, morte), a realização do poema é extremamente prazerosa. Machado de Assis costumava dizer que o homem mais feliz do mundo era aquele que achava que tinha escrito um bom conto. É claro que sempre imaginamos que escrevemos um bom poema; daí o estado de felicidade, que pode durar três horas ou prolongar-se até a manhã seguinte, não importa. Meu recorde é passar uma semana satisfeito com o resultado de um poema. Esse prazer da criação literária engendra uma estranha libidinagem feita de música e sentido entre as palavras. Mais que isso: uma perversão milenar inconsciente do poeta, ao mascarar no texto um Édipo insaciável transando com a língua-mãe. Ao descobrirmos a interdição desse desejo, tornamo-nos de repente trágicos. Não há prazer poético sem atrito, perda. A fruição literária resultaria da fricção da ficção. Na mitologia do nosso tempo, a prestigiosa psicanálise chamaria a essa escrita edipiana da posse e perda da linguagem de “perversão sublimada”.
• Até que ponto sua poesia segue uma linha de intervenção ou de invenção?
Fala, favela é um livro claramente de intervenção; de intervenção político-social. Quis naquele momento denunciar a injustiça social, buscando ser o mais justo possível com as palavras, ao lado dos humilhados e ofendidos. Foi um texto escrito em cima dos acontecimentos, na “impureza do minuto”, como diria Drummond. Acho que os poemas urbanos — principalmente “Minha gravata colorida” —, em O lote clandestino, podem também ser vistos como de intervenção crítica diante da virada civilizatória pós-moderna, no bojo de um capitalismo triunfante e globalizado, manifestando-se, sobretudo, nas grandes cidades contemporâneas. Mas o tom, nesse livro, é outro: cínico-paródico. Com esse tom ou com essa “indignação santa”, como bem observou Miguel Sanches Neto, a figura do poeta e a função social da poesia, em uma sociedade brutalmente mercadológica e insensível, são postas em questionamento. Quanto à linha de invenção do meu trabalho, não saberia avaliá-la. Creio que cheguei a urdir alguns versos toleráveis, não sei se alguns poemas dignos desse nome, talvez algumas metáforas e imagens entretecidas de uma certa música ensolarada. Não criei nenhuma nova poética, sequer uma palavra (minto: inventei falsamente, em O lote clandestino, o Cinismo — “Eu, o real fundador do Cinismo na poesia brasileira” — e a palavra “esquívoco”, no poema Metrô, mistura de esquivo e equívoco, talvez para definir a minha própria poesia), nem inventei rigorosamente nada que já não existisse à Beira-Sol.
• Todos os livros ganharam reedições, com exceção do primeiro, A cidade (1976), assinado com o pseudônimo de Pedro Gaia. A estréia ainda resiste ao tempo?
Na verdade, A cidade não é bem um livro, mas um folheto de cordel. Foi impresso em uma das mais tradicionais gráficas de Juazeiro do Norte. Entretanto, os poemas ali reunidos nada têm de populares, isto é, não se trata de poesia de cordel, mas de versos livres. Quis juntar o veículo popular a versos de extração, digamos, erudita. Pedro Gaia foi um bandido famoso nordestino; já deve ter morrido. Quando li no jornal uma matéria sobre seus feitos, pensei na hora: “Este não é nome de bandido, mas de poeta!”. Sem hesitar, pus seu nome como autor daqueles toscos versos — não sabendo que estava, com esse gesto, selando ali meu destino de poeta. De fato, com A cidade dava início a uma já considerável carreira de crimes poéticos, até hoje impunes. O último deles foi a reedição, neste ano, de O lote clandestino. Sou, portanto, um criminoso reincidente. Imagino que mereço pegar no mínimo 25 anos de cana, correspondentes aos anos que passei aprendendo as artes da falsidade ideológica e literária. Se continuo livre, isso se deve por certo à inoperância do sistema jurídico e à benevolência dos críticos do país… A propósito, para lembrar o meu primeiro ato de delinqüência literária, na nova edição de O lote clandestino, meti lá um verso de A cidade, cujo significado até hoje não atino bem: “Grãos da manhã para a fome dos galos”. Trata-se de um decassílabo provençal (involuntário), que vinha cantando no meu pé do ouvido todas as manhãs, passando, agora, no Lote…, a bicar também a imaginação dos leitores, que não sei se me perdoarão por mais essa escroqueria poética.
• Segundo os críticos, você migra de uma geração a outra. Pedro Lyra o inseriu na geração 60 ao mesmo tempo em que participa de Outras praias/Other shores, antologia de poetas emergentes. Qual é a verdadeira faixa de atuação? Quem são seus contemporâneos?
Bem, a data de nascimento de um sujeito é irrevogável, não é mesmo? O camarada é condenado à existência, como diria o sátiro Silenos ao rei Midas, sem que possa fazer nada, a não ser agüentar o tranco ou morrer cedo. Nasci em 1952. Como infelizmente não pude abolir esta data nem morri cedo, tenho que suportar a idéia de pertencer a diversas gerações. O crítico Pedro Lyra, por exemplo, travestido de biólogo e estatístico, em sua obra Sincretismo: a poesia da geração 60, entendeu que sou desta geração, porque, tendo nascido antes de 55 e publicado um folheto de cordel em 76, estaria com mais de 20 anos e, portanto, apto a gerar filhos… e livros. (A literatura deixaria assim de ser uma questão de produção intelectual para ser de reprodução animal, o que, neste caso, me situaria na década de 70, já que meu primeiro filho nasce em 79…). Charles Perrone (que ousou traduzir para o inglês o Táxi e publicá-lo nos EUA) considera, no posfácio da edição americana, que pertenço mesmo é à geração 80, pois minha presença literária ocorre nessa década. Já Ricardo Corona, o organizador de Outras praias, me pôs ao lado dos poetas emergentes de 90, talvez porque meu trabalho se tornou mais conhecido naquela altura. Sei que esse negócio de geração literária é controverso. Critérios biológicos, cronológicos, históricos e estéticos entram em disputa para tentar enlaçar no tempo um grupo de artistas. Como estamos tratando aqui de literatura, creio que os traços predominantes devem ser mesmo os histórico-literários. Assim, acredito que minha faixa de atuação estaria nos anos 80, porque, além de lançar Fala, favela, em 81, publiquei, logo em seguida, outros títulos (O lote clandestino, 82; Trapézio, 84 e Táxi, 86), os quais me trouxeram uma certa visibilidade literária, ligando-me a escritores da cidade e de fora que também surgiam, naquela hora, com livros e preocupações estéticas mais ou menos semelhantes, tais como Airton Monte, Antônio Paulo Graça, Carlos Emílio, Floriano Martins, Geraldo Carneiro, Oswald Barroso, Ruy Espinheira Filho etc. Desconfio, porém, desse papo de geração literária. O que existe, em literatura, é o indivíduo e não o grupo. Trata-se de uma abstração que só tem sentido para professores, escritores e historiadores preocupados, no fundo, com o seu próprio enquadramento intelectual e dos amigos na história cultural do país, a fim de formar uma quadrilha etária, uma gangue de corvos e coevos, de atuação interestadual, objetivando bicar o poder literário nas universidades, na mídia, nas revistas e jornais especializados, através de esquemas promocionais, afagos e lorotagens mútuas. Estar ligado a uma dada geração literária não melhora nem piora a obra de ninguém.
• Adota uma posição de franqueza em relação aos movimentos, o que já gerou alguns desafetos. Qual é o grande pecado da poesia brasileira? Seria a vaidade (encoberta de modéstia)?
Por Zeus, fico realmente surpreso, meu caro Xenofonte, ao saber que ganhei desafetos por falar com franqueza! Sempre achei o contrário: que esconder o jogo, ser atencioso, simpático e diplomático, todas essas “boas maneiras” da vida literária é que me trariam problemas de relacionamento… Par delicatesse j’ai perdu ma vie, já advertia Rimbaud, o selvagem. Pois é. Não consigo imaginar tais detratores. Primeiro, porque meus exercícios literários não têm importância alguma: não passam de borrões parodísticos, presos a uma formidável dívida externa, no plano das idéias, e a imagens e metáforas menos variadas do que avariadas; segundo, sou bem pior do que aparento ser. Não valeria a pena, suponho, perder tempo com um sujeito de tal categoria. Se alguém insistir (no que não creio) na gloriosa tarefa de me esculhambar, cedo-lhe de bom grado uma lista com uma série de defeitos meus, literários e morais. Aí, pode fazer a festa… Mudando: você me pergunta pelo grande pecado da poesia brasileira atual. Difícil dizê-lo. Grandes poemas e livros foram escritos recentemente (Guardar, Alma em chamas, Latinomérica, Sublunar, Terceira sede, Epifania para Galileu Galilei, etc.). Com o risco de queimar a língua, talvez possa me lembrar não de um, mas de dois pecados: a falta de preparo físico e a surdez galopante de certos escritores. Nada a ver com vaidade encoberta de modéstia, que isso não é privilégio dessa estranha fauna de lunáticos, mas dos artistas de um modo geral. Alguns camaradas precisam de fato entrar logo numa academia… não de letras, mas de ginástica, exercitar o corpo, que eles mal conhecem; adquirir massa muscular e resistência. Correr, saltar, levantar peso. O país necessita de uma literatura saudável, aeróbica. O bom estilo e as boas idéias nascem daí. Porque é visível o cansaço, a falta de pique e de fôlego de certos textos — com as devidas exceções, é claro —, resultando daí imaginação capenga, obscuridade, truncagem semântica, excesso de peso, impotência verbal e morbidez obsessiva e tanática diante da existência. Por falta de condicionamento físico e muita pose, certos poetas ficam repetindo as mesmas jogadas e estratégias formais de poema a poema, de livro a livro, incapazes de dribles mais ousados e chegadas ao gol. Pensando melhor, talvez a atual falta de imaginação não seja exclusividade dos escritores, entre os quais, orgulhosamente, me incluo. Você já reparou como os discursos políticos dos candidatos são parecidos, embolados no meio de campo? Arrisco-me a afirmar que a crise deste país não é bem social ou econômica, mas sobretudo de imaginação criadora. Basta lembrar, nesse sentido, a imaginação política, artística e esportiva que ousou criar Brasília, a poesia concreta, Grande sertão: veredas e conquistar a Copa do Mundo, na Suécia, quase tudo ao mesmo tempo, na década de 50! Sem falar na Bossa-nova. Quanto à surdez dos poetas, é incrível como ninguém mais escuta e lê ninguém com atenção! Os poetinhas só paramos (estou também nessa, ora bolas!) para escutar nossa própria orquestra interior, achando que é a mais afinada do mundo. Só lemos os outros em porta de livraria e apressadamente. Ninguém quer mais conhecer a sério a obra e as idéias dos colegas, à exceção de uns poucos grandes leitores, que ainda existem e resistem, como André Seffrin, Antônio Carlos Secchin, Charles Perrone, Ítalo Moriconi, Mauro Faccioni Filho, Miguel Sanches Neto. De um modo geral, o sujeito só viaja em torno do seu umbigo, dirigindo-se, no máximo, àqueles de traços assemelhados ao do seu corpo geracional ou estilístico. Eis um outro pecado da literatura atual: o clubismo, o patotismo. Só entra quem tem crachá. E haja poetas empatotados ou empacotados, nas revistas e antologias que andam por aí e no exterior! Essas publicações parecem mais um jogo entre compadres, cunhados e apaniguados: uma “pelada”. Eu mesmo participo de algumas delas. Quem está fora desses esquemas, ou cai no coitadismo chorão (“ninguém me ama, ninguém me quer…”), ou no narcisismo mega e compensatório, achando-se o maior poeta do Brasil e do século; sem falar, ainda, naqueles que apostam na posteridade redentora, que iluminará feito um letreiro, numa esquina futura, sua obra prodigiosa, por ora incompreendida.
• De que modo Gregório de Mattos e Guerra, objeto de sua tese de doutorado, influenciou seu conteúdo lírico, no que se refere à carnavalização, ao engano e ao duplo/máscara?
No plano da lírica, em quase nada, pois as grandes linhas de minha produção poética eu já havia esboçado aos 30 e poucos anos. Meu contato com Gregório de Mattos para valer só ocorreria a partir dos 43 anos, quando começaram meus estudos e pesquisas em torno da figura, na UFRJ, para a realização da tese. O que houve mesmo foi um grande encontro. Evidentemente que uma certa cumplicidade ou identidade (que outros chamam de empatia) nos uniu, centrada no Barroco. Não fora isso, não teria ido tão longe, em termos intelectuais e mesmo geográficos (Rio, Pernambuco, Bahia, Portugal e Espanha), atrás de seus rastros, de seus versos e de seu rosto. O Barroco, como se sabe, palpita, incessante, no coração da poesia atribuída a Gregório de Mattos. Irriga-a com suas contradições, tensões e mascaramentos. Sob o calor dos trópicos e das índias e mulatas sensuais, em interação com os colonizadores priápicos e prelados contrarreformistas (nem por isso menos libidinosos), a arte barroca — enamorando-se da terra e suspirando pelo céu — acentua essa palpitação, desdobrando-a étnica e lingüisticamente, em Gregório de Mattos. Carnavaliza-se em seus versos, onde se misturam a cidade alta e a baixa, o alto corporal das brancas e o baixo corporal das negras e mulatas, a linguagem nobre e a popular, a expressão de devoção mística e o termo pornográfico, a celebração lírica e o chicote impiedoso da sátira. Gregório, em síntese, soube fazer-se múltiplo, mordaz e mestiço, naquele instante de nossa formação sócio-cultural. Tornou-se um habitante da metamorfose, como diria Saint-John Perse, citado por você. Em uma época profundamente teatral, quando poetar significava quase sempre encenar as palavras, o Boca do Inferno assim o fez tão bem que só hoje nos damos conta do vigor e extensão de suas encenações literárias, embora Eugênio Gomes já tivesse chamado a atenção, em 1958, para o gênio cômico de Gregório de Mattos. Para mim, ele se tornou não só um poeta contíguo, mas também contemporâneo, apesar de ter nascido em 1636. Estudar o Barroco e a obra do Boca, isto é, sua maestria lírica nas “artes de enganar”, resultou em conhecer um pouco mais os meus próprios processos artísticos… Por isso mesmo, não sei se inventei esse Gregório mascarado e deslizante, ou se é ele que me inventa, nessas horas em que a palavra poética dá cambalhotas no palco da linguagem…
• Você completa agora 50 anos e 25 de poesia. A filtragem será maior daqui por diante. Tem novos projetos?
O sucesso, como nos adverte a manjada frase de Rilke, não passa de uma soma de equívocos. O mesmo acontece, eu diria, com o fracasso; ambos resultam de mal-entendidos. Entre os dois, há um campo de batatas — que é a obra — disputado por duas tribos; ora uma vence, ora a outra. A propósito dessa fábula, costumo dizer que a literatura brasileira se divide entre machados & perdidos. Passar de um lado a outro, do fracasso ao sucesso, ou vice-versa, é simples questão do acaso, capricho do tempo ou do bom (ou mau) funcionamento do sistema gastrointestinal dos críticos e leitores, tendo em vista as batatas que poderão apanhar e comer… Todo reconhecimento de uma obra é precário, instável. A qualquer instante, imagino que alguém virá me desmascarar. Estou certo de que há um inexplicável engano, uma contínua trapaça em relação à minha poesia, não sei bem de que lado: se do meu, ou do do leitor. Talvez de ambos. Ou, quem sabe, da parte do editor, o José Mario Pereira, generosa figura que insiste em publicar minhas garafunhas. Quanto aos meus projetos poéticos, tenho mais um livro a publicar. Depois disso, tchau. A vida não é só literatura. Daqui a pouco me aposento da Universidade. Quero mais é curtir a casa de praia em Águas Belas, a 120 quilômetros de Fortaleza, ficar pescando ali por perto, numa boa. Não quero nem exijo mais nada, a não ser o sol e o tempo tombando diante de mim sobre o azul das águas. Chega. Chega de poesia, essa forma monstruosa do delírio e da vaidade! Não me pega mais. Estou fora.
O POETA CHEGA AOS 50
Poema inédito de Adriano Espínola
Como quem não quer nada,
dobro de repente a esquina
inclinada
dos 50.
(Festa de lobos, de loucos
anos passados em surdina).
Alguém logo se aproxima
e no meu peito cola;
um outro de mim
se desprende e cala.
Quem são, indago,
o corpo rente
ao branco muro em frente,
que me dividem assim
em dois,
entre o sonho do que fui
e a vigília imprevisível
do depois?
Agora, sei:
Olá, sombras amigas,
vinde clarear minhas têmporas
antigas,
e os gestos, e os sinais,
que emito de passagem!
Exclamo, expectante,
sem mágoa nem nostalgia,
ao chegar a salvo dessa viagem
no tempo
náufrago de amores e fracassos,
à beira do cais
dos meus próprios passos.
Quem, pergunto a ela, me inventa
a cada instante,
a cada dia,
ao dobrar a esquina
dos 50?
Uma sombra obstinada súbito avança
e me ilumina.
E é Ninguém.
E é Ulisses com sua espada.
Martim Soares Moreno e Araquém,
combatendo em uma praia
do passado, mais além.
Lâminas, lendas e lutas pretéritas
(que me pertencem também)
me trespassam, junto a esse muro
rabiscado do presente,
memória do futuro.
E já sou eu agora, que sou nada,
triste animal de tão contente,
tecedor da arte dos enganos
(que é a poesia, essa estranha arte
pródiga de espantos),
feito um cego em uma calçada,
tocando à parte,
por onde passo
e para onde sempre vou.
E chego,
por descuido de algum
secreto arcano,
à esquina
desses inesperados anos,
sendo o que sou:
um homem comum;
carne e terra girantes
do acaso,
50 vezes em um.