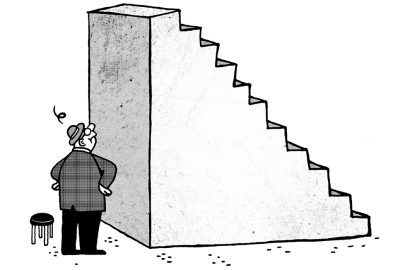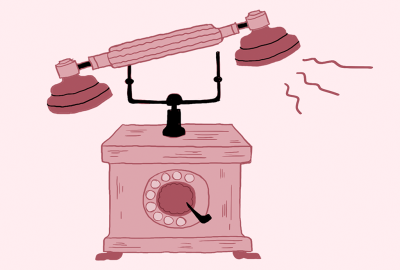Red Ryan é barman em Dublin. Para encontrá-lo é fácil. Após as 19 horas vá ao Bloody, um pub, antigo reduto de punks e hoje território ocupado por artistas, que fica duas quadras adiante da O’Connel Street Bridge; durante o dia, vá a essa mesma ponte que ele, hora menos hora, aparece, completamente bêbado, para se pôr frente a pessoas na miséria e xingá-las de inúteis parasitas da previdência social.
No dia do jogo Brasil e Inglaterra, antes do almoço, Red me levou para conhecer as casas do período georgiano da Summerhill Street. Mal chegamos, ele começou a me puxar pela mão, sei lá se entusiasmado com as propagandas que andam sendo transmitidas na TV, falando que essas relíquias arquitetônicas são o grande tesouro desta cidade, ou, quem sabe, mais pela minha promessa de comemorarmos com uma boa Guinness a Copa do Mundo a ser ganha pelo Brasil.
— Amo o Brasil e amo o futebol e amo você! Vamos para minha casa brindar todas essas coisas maravilhosas.
No meio do caminho até Barrytown, bairro onde mora, Red adormeceu e começou a roncar. As pessoas do ônibus não se incomodaram, pelo contrário, foram muito solidárias, algumas chegando a parar de conversar para não incomodar o ilustre bêbado desconhecido. Sentado a seu lado, fiquei realmente comovido com tamanho apreço por um viciado estúpido como Red, tanto que o chacoalhei até que acordasse.
— Chegamos? — quis se levantar.
— Não.
— Ah… me acorda quando chegarmos, e voltou a sentar-se e, quase que imediatamente, fechou os olhos e voltou a roncar.
— Red.
— Chegamos? — quis novamente se levantar.
— Não, e antes que sentasse e uma vez mais adormecesse, pedi que se mantivesse firme. Red, me conta de novo do seu professor escritor e roteirista e produtor de cinema.
— Você assistiu a The Commitments?
— Assisti.
— Pois então, é ele. Roddy Doyle, ou Barrytown Doyle, porque escreveu uma trilogia de romances situados no meu bairro: The Commitments, A van e The sniper. E fez isso sem nem ter trinta anos, e tinha um pouco mais de trinta quando parou de dar aulas porque Paddy Clarck Ha Ha Ha foi indicado ao Booker Prize, em 1993, e ganhou, deixando o desgraçado rico e famoso.
E começa a rir e fica pálido, o que não dura muito tempo, apenas até abrir as pernas e vomitar no chão. Os passageiros continuam na mesma, dando como único sinal de que perceberam a esbórnia o fato de escancararem as janelas para dissipar o terrível cheiro. Em silêncio, eu agradeço, apesar de que isso não diminui minha chateação por minha calça ter recebido muitos respingos dos restos mortais do café da manhã de Red.
— Na verdade, o velho Doyle nunca foi metido, pelo contrário, Red limpa boca com o lenço duro tirado de seu bolso. Quando The Commitments virou filme, 13 anos atrás, ele bem podia ter começado a botar banca, mas, não, continuou na mesma, vindo dar aulas, corrigindo provas, dando autógrafos em livros seus trazidos pelo alunos, tomando o mesmo trem e mantendo afiadas as orelhas e disciplinando qualquer um que se metesse a besta. O cara não era chamado de Punk Doyle à toa.
— Me mostra onde ele mora?
Como se eu tivesse feito uma ofensa mortal, o rosto de Red fica vermelho e, mesmo a meio metro de distância, sinto o calor que emana de seu corpo.
— Eu só não te encho de pancada porque você é brasileiro e vocês vão humilhar a Inglaterra hoje de madrugada.
Sem mais palavras, Red levanta-se e desce no ponto seguinte e segue pela calçada a pé, ainda furioso com minha estratégia para conseguir me aproximar de Roddy Doyle. Eu bem que tento segui-lo, dando meus argumentos:
— Eu preciso conversar com Doyle para entender o que ele pensa de literatura.
— Liga para a telefonista. Quem sabe, ela te arranja o endereço dele.
— Red, desculpa, se você quiser, não precisa me apresentar a Roddy Doyle. Apesar de acreditar que preciso conhecer escritores para melhor entender o que eu amo, nossa amizade é mais importante.
Mal termino a fala, Red vira-se e me abraça bem ao modo irlandês, com muito carinho e jogando o cheiro de vômito em meu pescoço. Quase coloco os bofes para fora, tanto pelo aperto quanto pelas minhas narinas irritadas, mas me contenho, pois não tenho nenhuma frase de efeito de reserva.
— Eu não te levo na casa dele porque a casa de um homem de família deve ser preservada, mas, hoje à noite, eu te apresento. Punk Doyle vai com seus amigos ao Bloody, assistir ao jogo.
Irlandeses de verdade são assim: péssimo comportamento e valores inquebráveis. Quem os conhece, ou leu Uma estrela chamada Henry, entende o que eu quero dizer.
Duas da tarde. As batatas do restaurante do primo de Red, Peter McCarthy, são servidas frias e duras e o molho branco à base de bacalhau não ajuda a melhorar o sabor. Para minha sorte, um velho grisalho, Tom Cashin, começa a levantar brindes seguidos homenageando vários santos católicos, o que me dá tempo de levantar da mesa e ir ao banheiro. Quando volto, a garçonete tirou meu prato. Red pergunta se eu quero outra porção pois não é justo eu ficar com fome por causa da pressa de uma das funcionárias de seu primo. Claro que eu me recuso, justificando que não é culpa dela. Para minha surpresa, esse meu desprendimento acaba trazendo a admiração de Red, de seu primo Peter e mesmo da garçonete que, antes de voltar para a cozinha, pergunta até quando pretendo ficar em Dublin.
— Um brinde ao Brasil e um foda-se à Inglaterra!, Tom Cashin grita provocando frisson entre as centenas de freqüentadores do Bloody.
Red, ocupado servindo doses e mais doses de tudo quanto tenha álcool em sua composição, além de Guinness em vários volumes, pediu para que Peter McCarthy tomasse conta de mim. O que, a princípio, achei desnecessário pois, ao descobrirem que sou brasileiro, passei a ser comemorado de todas as formas possíveis.
— Realmente torça para que seu time ganhe, caso contrário, muitos bêbados de cabeça quente vão querer tomar satisfação, Red me sussurrou antes de vestir o avental de trabalho.
Medo não é a palavra certa para descrever meu estado de ânimo, horror seria o mais correto. E quem acha graça disso é porque nunca viu um pub irlandês, lotado, aguardando um jogo de futebol que, para eles, significa o mesmo que a vingança final contra os petulantes e esnobes ingleses. Claro que comecei a aceitar todas as bebidas que me eram oferecidas, e olha que eram muitas.
Por volta de uma e meia da manhã, envolto em uma bandeira do Brasil, chegou Stephen Frears, o diretor dos filmes A van e The Sniper, seguido por Punk Doyle que, de punk, realmente não tem nada. Tweed marron, calça azul, camisa branca. Meio careca e com óculos que lembram aqueles professores certinhos de filmes americanos. Após rápidas apresentações, Doyle aceitou gentilmente que eu ficasse em sua mesa, mas me fez prometer que nos encontraríamos outro dia para conversar a respeito de literatura, roteiros, filmes ou o que mais fosse.
— Não estou em meu melhor humor — e antes que eu perguntasse o motivo, acrescentou. — Desde o começo escrever roteiros foi uma questão de dinheiro, ou da falta de dinheiro. A mesma mulher que co-produziu The Commitments, Linda Miles, no começo de 1988, sugeriu que eu fizesse o roteiro e eu aceitei. Ela estava procurando dinheiro para a produção e ela não tinha como me pagar. Os outros dois roteiristas que escreveram o roteiro comigo tinham envolvimentos com a companhia que tinha o dinheiro para o filme. Eles eram amigos de Alan Parker, eles mostraram a ele o roteiro e ele decidiu fazer o filme. Sempre é sobre dinheiro, sabe? Quanto você acha que vai ser o jogo?
— Um a zero — Frears responde de modo tímido (depois fiquei sabendo que a bandeira do Brasil fora resultado por uma aposta perdida).
Seguiram-se várias perguntas sobre Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos e Romário, o que suscitou um interessante comentário de Peter McCarthy
(— R é uma consoante muito popular entre jogadores de futebol do Brasil, não é? É macumba?)
que causou risadas a todos que o ouviram e o irritou um pouco.
Duas e meia da madrugada, meus olhos estavam ardendo de tanta fumaça e comecei a ver duplos. Um pouco mais animado, Frears avisava que a Inglaterra sofreria sete gols de Romário, e pedia calma a todos caso o oitavo gol fosse anulado. Doyle, algumas doses a mais, virou-se para mim e disse em seu melhor inglês:
— Sabe qual a diferença entre escrever literatura e escrever para cinema? Quando você está escrevendo uma novela, ou um conto, você está fazendo ficção, isto é, trata-se de colocar as palavras juntas (você escreve uma palavra, então você escolhe mais uma…). você está construindo um edifício de palavras, realmente, e o ritmo é importante; então, algumas vezes você tem de rejeitar uma palavra e pôr outra no lugar porque o ritmo foi quebrado.
Tom Cashin chega em nossa mesa e abraça Doyle, o que não o impede de continuar falando.
— Por outro lado, quando você está escrevendo para o cinema deixa de ser uma questão de palavras, passam a ser instruções, por exemplo, para um designer, que precisa ter o quarto descrito corretamente… Então você não está mais preocupado em colocar as palavras corretamente pois é tudo informação. As únicas vezes em que você se preocupa com as palavras é quando os personagens estão falando e isso é sobre conectar as cenas juntas. Cena após cena em um caminho que faça com que o espectador mantenha sua atenção alerta, e desse modo duas cenas viram uma. Isso é mais um exercício mecânico.
Tom beija as bochechas de Doyle e sai dançando ao ritmo de uma canção de Van Morrison, The foggy dew, outro que é esperado esta noite.
— Quando você está escrevendo ficção tudo é uma escolha de palavras e cada palavra, individualmente, é uma decisão literária, e quando você está escrevendo um roteiro cinematográfico é diferente, se você tem um personagem caminhando dentro de um quarto, isso é porque ela caminha no quarto; não há preocupação em justificar, por isso não é grande literatura. Tudo isso é instrução para o diretor e para os atores.
Red nos serve mais uma rodada de Guinness e liga os televisores que ainda permaneciam desligados. Um deles, colocado quase sobre nossas cabeças, obriga-nos a erguer os queixos em um ângulo estúpido, que nos torna parecidos com marrecos bebendo água em poças de chuva.
— É mais difícil escrever literatura porque, de acordo com minha experiência pessoal, todos os roteiros têm sido baseados em livros, então as histórias estão prontas, e torna-se uma questão de pegar a história e adaptá-la para a tela. Quando eu escrevo uma história não há nada feito. É mais difícil e mais árduo. E também toma tempo.
Mal percebo quando a banda de Van Morrison, The Chieftains, acomoda-se em um dos cantos do balcão. Todos velhos banguelas e de rostos adoravelmente decadentes. Saíram de suas casas, com seus instrumentos, especialmente para comemorar a derrota da Inglaterra. Desse modo, é justo que se aqueçam tocando o hino irlandês.
— Eu penso que a função do roteirista é como o construtor de fundações. Eu penso que o roteiro é a fundação. O diretor, os técnicos, os designers trabalham nessa fundação. Por outro lado, quando você está escrevendo uma novela você tem o edifício inteiro para construir e não apenas as fundações. O roteiro é só a fundação.
Peter, que continua a meu lado, todas as vezes que alguém cogita uma derrota do Brasil, ameaça partir para a briga, e após ser apartado, me encara rangendo os dentes. E o pior é que minhas pernas estão moles demais para eu brigar, correr, ou, até mesmo, apanhar decentemente. Tudo o que me resta é torcer para que Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos façam sua parte e salvem minha vida.
— Não há nada autobiográfico nas três novelas da trilogia de Barrytown. Elas são completamente ficcionais. Eu nunca tive uma banda, eu nunca fui desempregado e eu nunca estive grávido. Elas não foram inspiradas em minha vida, mas na vida como um todo. Elas foram inspiradas nas minhas observações que aconteceram no meio da década de 1980.
Por um momento, penso que devo xingar Felipão
(— Filha-da-mãe!)
por não ter levado Romário à Copa. Caso eu seja trucidado por uma multidão de irlandeses bêbados e decepcionados com a vingança malsucedida, será culpa do gauchão. Ainda bem que ninguém entende português e, levados pela animação, erguem seus copos iniciando uma longa série de brindes.
— Eu não me sinto próximo de nenhum escritor em particular. Eu não sigo uma maneira particular de escrever. Um dos prazeres da leitura é ler. Eu não escrevo de um modo formal, mas eu aprecio ser informal. Eu acredito que o escritor utiliza a linguagem de sua localidade. Por exemplo, se você pega James Kelman, que mora em Glasgow, quando você o ler você vai ouvir o sotaque de Glasgow. Quando você lê Rushdie, você pode ouvir seu sotaque. E acontece o mesmo quando você lê autores americanos.
Quatro da manhã, o jogo começa. Punk Doyle não desgruda o olhar da televisão enquanto Frears vai de um lado a outro do pub chacoalhando a bandeira verde e amarela. The Chieftains guardam seus instrumentos e vêm sentar-se próximo a nós. Pergunto porque jogam cartas entre si.
— O coração não agüenta — Matt Molloy, o flautista me confidencia.
Kevin Conneff, o cantor, balança a cabeça concordando.
No intervalo do primeiro para o segundo tempo, o resultado está ameaçador. Peter e Tom estão abraçados ao redor de uma garrafa de uísque assobiando o hino irlandês. Como mal se mantém em pé, sinto um certo alívio pois, por mais que queiram me espancar, após o primeiro soco é bem provável que todos nós beijemos a lona e por ali fiquemos.
— Eu realmente amo ensinar, mas, após catorze anos ensinando, eu estava entediado e não conseguia pensar que aquele seria meu trabalho para o resto de minha vida. Eu prefiro, muito mais, escrever ficção do que ser roteirista porque é mais árduo, é um longo trabalho e um desafio para mim. Eu aprecio roteirizar porque é mais social, enquanto a literatura é mais solitária.
Antes do início do segundo tempo, Red me serve uma Guinness acompanhada de algumas tiras de tripa de carneiro fritas. Pergunta se tenho algum último desejo no caso da tragédia se confirmar.
— Eu trabalho em casa então estou perto de minha família. Quando eu termino um trabalho, abro a porta e estou em casa. Isso é muito bom porque o ato de escrever, por si mesmo, nos torna solitários e isso é muito difícil de se lidar. É muito difícil de mostrar o que você tem enquanto está fazendo. Minha mulher é a única pessoa que lê meus livros quando eu os termino. É uma coisa completamente diferente de um filme. Você vê o produtor antes de mais nada, depois o diretor, e, então, quando o filme está sendo feito, acontece toda a excitação que o ato de escrever não tem. Eu adoro ver quadros, assistir a filmes, mas minha verdadeira ocupação, o que eu realmente amo, é escrever ficção.
— Gol! — berro feito um desesperado e mando Red e Peter para onde merecem ir após tantas urucas, na linguagem universal dos dedos.
Minutos depois, Punk Doyle, fazendo jus ao apelido, tira os dois de cima de mim e me encontra de olho roxo, camisa rasgada e um sorriso que me deixa com a cara rasgada de lado a lado. Após o apito final, até Van Morrison, recém-chegado, me cumprimenta com um beijo na bochecha. Ele me diz que, como eu, tinha certeza de que o Brasil ia chegar lá.