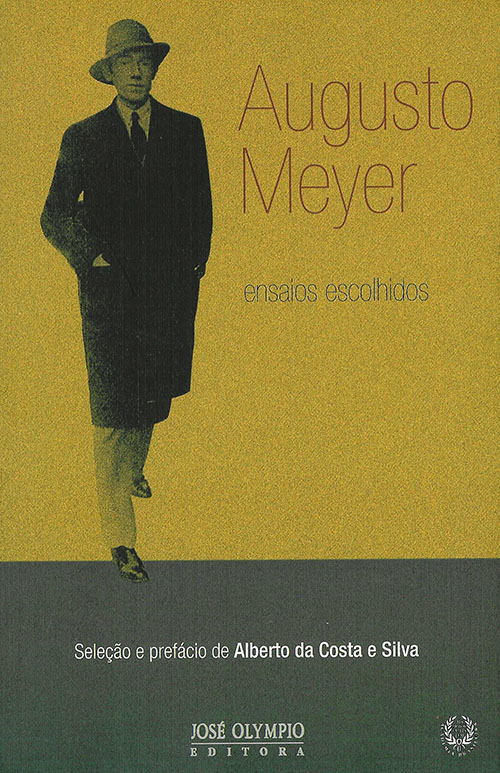Qual a natureza — pelo menos a que acredito que seja — da crítica literária? A título de nota introdutória, respondo: ela é, em essência, uma conversa em tom íntimo, um diálogo confortável e descontraído travado entre leitor profissional e obra, cujo espaço por excelência é a forma indeterminada do ensaio — que não é particularmente típica da academia nem esquematicamente simplificada como a resenha, essa espécie de release intelectualmente glamurizado. Seqüestrada a crítica por resenhas e teses, o que se perde com seu esquecimento é toda uma fina sensibilidade moldada por séculos de contínuo exercício dos sentidos. Mas deixemos que Augusto Meyer (1902-1970) exemplifique com rigor o que digo.
No texto Pergunta sem resposta, de Ensaios escolhidos, ele transcreve dois versos do germânico Walter Von der Vogelweide, provavelmente escritos em 1227 (Owê war sint verswunden alliu mîniu jâr?/ Ai de mim, onde estão tantos anos meus que se foram?; Ist mir mîn leben getroumet oder ist ez wâr?/Terei sonhado ou vivido a minha vida?), e neles encontra reunidos dois argumentos que teriam longa vida na literatura ocidental, que são o da “evanescência das cousas” contido na expressão alemã ubi sunt? (“onde estão?”) e o tipicamente barroco a vida é um sonho. Os rumos de ambos os tópicos virão a se encontrar numa curva de perplexidade frente à voracidade do tempo que avança indiferente, enquanto o homem se pergunta, aturdido, que foi feito de tudo o que viveu, que então lhe parece sequer ter existido no passado. Donde vem a pergunta: Terei sonhado ou vivido a minha vida? Então, após ter escolhido o corcel com o qual atravessará geografias e eras das letras ocidentais, Meyer se atira dentro do caleidoscópio de sua memória, guiado por uma erudição constantemente desmentida pela leveza da escrita, que sopra o rosto do leitor quase o fazendo crer-se em uma varanda.
A próxima parada é François Villon, ao pé do qual Meyer desfia larga bibliografia, de Étienne Gilson a Italo Siciliano, para mostrar quão comum era essa glosa “entre as poesias populares latinas da Idade Média” (Jacopone da Todi, Jean Castel, Eustache Deschamps), sob a suposição de que seu maior divulgador fora Boécio. É um imenso cortejo de versos interrogativos, à base de inquirição do que houve e já não há, como no poema de Deschamps: “Ou est Platon le grant naturien/ Ne Orpheus o sa douce musique?”
Todavia, seu maior realizador é Villon, que compôs a “Ballade des Dames du Temps jadis, que já não é dança macabra, nem lição de moral, nem variante de variante, muito menos chapa de chapa, é só poesia”, como anota Meyer. O verso que a um só tempo resume o espírito do poema e de um clichê duma época é: Mais ou sont les neiges d’antan? (“Mas onde estão as neves passadas?”).
E então, sem um preâmbulo sequer, somos encaminhados para a literatura de língua espanhola, onde o mesmo tema teve desenvolvimento paralelo e seria tardiamente registrado no século 19 por Menendez y Pelayo na Historia castellana en la edad media, o tipo de bibliografia obscuríssima sobre a qual só os mais empedernidos leitores deitam a vista. Há o ubi sunt? em López de Ayala, há em Ferrant Sánchez, mas com verdadeira perícia e potência imaginativa está é nas Coplas de Jorge Manrique; Meyer destaca trechos exemplares:
Qué se fizieron las llamas
de los fuegos encendidos
de amadores?
E, logo após, sucedendo a um breve volteio por versos portugueses de Sá Miranda (“Ó mundo, tudo vento e tudo enganos”), aportamos ligeiramente na crônica brasileira de Simão de Vasconcelos, com a densidade poética de seu Vida do venerável Padre José de Anchieta, para então saltarmos no tempo novamente e tomarmos rumo pelo memorialismo de Chateaubriand. Mas, antes de concluir o passeio pela rica antologia a que Meyer daria o título de Pergunta sem resposta, nos deparamos com outros dois casos. O primeiro, estes dois versos de August von Platen: “E aquele homem que já fui e há muito/ Troquei por outro eu, onde está ele?”
Já o último é o nosso muito conhecido Profundamente, de Manuel Bandeira: “Hoje não ouço mais as vozes daquele tempo (…)/ Onde estão todos eles?/ — Estão todos dormindo/ Estão todos deitados/ Dormindo/ Profundamente”.
Ao fim, o espantoso: começamos em Walter Von der Vogelweide e, quando nos demos conta, sem esforço algum, já caminhávamos ao lado de Manuel Bandeira em nossas letras pátrias.
Uma voz
Meyer era um anotador de sutilezas, de filigranas. Sua lucidez era turva a ponto de torná-lo obcecado por detalhes marginais que eram cavoucados, revirados até ganharem a evidência misteriosa que os permitia ser trazidos para a linha de frente da literatura — deixavam a guarita do curioso e iam para o front do essencial. Meyer, muito charmoso, escrevia com um monóculo de relojoeiro. Antes de ver o desenho geral do relógio, admirava a elegância com que um ponteiro voltava-se para um lado, outro para outro, dando certa hora, dando em outro momento outra.
Como faz em Tradução e traição. Nesse ensaio, foca seu interesse nas variadas traduções que um único verso do soneto Tanto gentile e tanto onesta pare…, contido na “Vita nuova” de Dante, ganhou em língua portuguesa. O verso é: “e par che de la sua labbia si mova”, que em todas as versões tem “labbia” traduzida por “lábio” ou “lábios”, como no texto de C. Tavares Bastos — “E dos seus lábios emanar parece…” Eis então que Meyer põe o seu monóculo e vê: “labbia” na verdade é um arcaísmo, significando não “lábio”, mas “semblante”, “rosto” ou “aspecto”. Esse tipo de erro, de pequeno desvio do original de forma quase subliminar, é responsável pela leitura equivocada de uma multidão de leitores, de uma geração a outra. Mas são fatos da literatura, e Meyer, um escafandrista das arestas, escreve: “O desacerto labbia-lábio decerto não prejudicou a transmissão da tonalidade poética, nem a sua ressonância emocional. Lábio é palavra que passou por translação de sentido, espiritualizando-se, a ponto de sugerir, tanto quanto o olhar, uma significação fisionômica de grande intensidade expressiva. A muita gente, lábio dirá muito mais do que rosto, semblante”.
Meyer trava um diálogo com a literatura, o leitor e a História. É um conversador nato, prolífico, que fala apaixonada e confortavelmente de tudo que lhe interessa, ao mesmo tempo em que faz crer que tudo que é de seu interesse pode ser encontrado nas páginas dos autores que admira. Para me utilizar de uma imagem algo lugar-comum, era um homem sentado à mesa de um café e que, ali, regado a fumo e cafeína, era capaz de passar uma tarde inteira comentando miudezas, futilidades livrescas, pois seu trato com as letras é de uma naturalidade que dispensa qualquer manejo didático e que faz pensar em épocas — ubi sunt? —em que a literatura podia despertar interesse no homem comum da mesma forma como uma partida de futebol lhe desperta hoje.
Sua pequena fantasia para o príncipe dinamarquês em Solilóquio do Hamlet, por exemplo, dá prova dessa sua postura de quem abre um livro para observar severamente a matéria viva que, dali, tem coisa a dizer a todos nós. Ele afirma que, se lhe fosse incumbido levar a peça aos palcos, a reduziria a apenas Hamlet sozinho (“sozinho como só ele”) frente à platéia que lhe crava olhares, pois o personagem sofre do “mal de não saber tapar os ouvidos à voz coletiva da corte, ao sussurro interior da consciência, que é a voz dos outros a imitar a nossa voz: milhares de olhos indagadores fitando o pobre eu desajeitado em cena, o medo da opinião judicial, o terror diante do coro”. Meyer conversa conosco para mostrar que Hamlet dirige a palavra a ele, a mim e a você. Era alguém que escrevia para ter onde continuar a falar.
De dentro da literatura
Este homem que tanto conforta o leitor, não obstante o confronte com sua própria ignorância, tem a fala segura e reta de quem não precisa alongar-se, esforçar-se para alcançar a matéria sobre a qual quer tratar. Augusto Meyer não era propriamente o tipo de ensaísta que tratava de “autores”, de obras específicas. Mais ainda, não era leitor que necessitasse falar “sobre” a literatura. Meyer dá a viva e assustadora impressão de lhe ser possível falar de dentro da literatura, feito fosse ele mesmo alguém da platéia que imaginou diante de seu Hamlet. Mas não o digo em sentido metafórico, apenas para sugestionar a imagem dum homem de intensa intimidade com os livros. É mais que isso. É a habilidade, adquirida com muito esforço concentrado e voltado para a leitura de bibliotecas inteiras, de com naturalidade raciocinar sobre um problema cotidiano e, subitamente, ver-se já perdido entre questões literárias.
O que faz lembrar a extensão e a estrutura de seus textos. Meyer não precisava de mais que quatro ou cinco laudas para iluminar beiras, extremidades, vultos à meia luz em obras que sobreviveram a bibliografias inteiras sem serem desnudadas com tamanha inconveniência e convicção. A ele, a concisão era mais uma peça de instrumentário, mais um mecanismo formal de que se valia do que exatamente um valor, do que se pode supor errôneo lhe atribuir uma escrita “concisa”. Muito ao contrário, era larga, solta e fluía sem solavancos ou apertos, feito um bailarino capaz de realizar movimentos complexos no espaço exíguo de um banheiro. Perceba-se, então, que a seus olhos Machado de Assis não fora grande romancista, porque, embora um colosso de escritor fosse, sua perícia na execução de romances não estava à altura de seu gênio: “falta-lhe humildade, ilusão de criador, paciência de acompanhar as personagens com aquele mínimo de indispensável simpatia, sem o qual tudo se reduz a um jogo subjetivo de análise psicológica, e a poesia narrativa perde fôlego, exausta”.
E a famosa assertiva de Buffon, segundo a qual “o homem é o estilo”? Meyer não via nela apelo à figura de carne e osso do criador enquanto alguém indissociável de sua obra, mas, para além, a consciência sutil de que “o estilo é mais que o homem — a tentativa de superação do homem, na expressão do eu idealizado, em sentido abstrato, pois, ao criar o estilo, tenta o escritor aproveitar o seu ritmo instintivo e orgânico na criação de um ‘eu ideal’”.
Infelizmente, os textos coligidos em Ensaios escolhidos (Alberto da Costa e Silva os selecionou) chegam só a sugerir uma imagem total do escritor que foi Meyer, e aqui escrevo propositalmente “escritor” para adensar a sugestão que o volume esboça. Em seu espírito convivam duas pulsões que na escrita possuíam manifestações quase antagônicas, antagonismo que se pode inclusive extrair dos ensaios em que versou sobre as artes — tão distintas — de Dostoiévski e Eça de Queiroz. Enquanto no mestre russo “o ardor inventivo pouco se importa com a exigência dos limites, irrompe, transborda, carrega o próprio autor na torrente impetuosa, e o visionário mais uma vez se sobrepõe ao romancista, como também quase sempre o romancista absorve o homem de partido”; em Eça sobressai um mundo “modelado sobre o imediato, o palpável, o concreto”, pois pertenceu ele “à família inquieta de Balzac, esse comilão de teses”. Dostoiévski poderia esboçar uma personagem e deixar que ela procedesse com livre-arbítrio em sua mente criadora, de maneira que o romancista poderia, por vezes, mais sentir seu punho ser puxado sobre o papel do que a vontade consciente a guiar a pena que delimitava o universo dos seres que imaginou. Com o português, nada disso aconteceria, por motivo de sua vocação ser a elaboração de personagens-tese (muito embora, relativiza Meyer, “o demônio da arte, que é um diabo arbitrário e presunçoso, presta uma atenção frouxa e distraída às nossas boas intenções e não gosta de submeter-se à pauta conceitual”). Eis um escritor que principiava a escrever sem ter uma idéia muito clara de para aonde rumava. E eis outro escritor que avistava um fim para depois buscar os meios de como atingi-lo. Arrisco-me a dizer que ambos os paradigmas estão no ensaísmo de Meyer.
Todos os ensaios até aqui citados são passíveis de acomodação nessa última “forma”, a de um scholar que se sentava para escrever já sabendo em minúcias o seu destino. Faz-se necessário agora, portanto, flagrar o ensaísta Augusto Meyer que avança às apalpadelas, o dos textos em que se evidenciam com força maior os seus talentos de artista, do poeta que foi (autor, aliás, de dois livros de poesia; é muito famoso seu poema Gaita). Não é sem motivo que os textos mais exemplares dessa sua verve sejam aqueles em que exercita alguma ficção, um aquecimento de prosa de ficcionista. Vejamos um exemplo.
Um narrador
Originalmente publicado no livro A forma secreta (1965), o ensaio — ou conto?, ou nota? — Lúcifer está ausente da presente coletânea. Trata-se de um sonho, do registro de uma fantasia que se vale da narrativa dos protocolos e hábitos celestes que o Criador ditou para seu convívio com os Anjos, a fim de apontar a natureza do embate humano contra ou a favor da vida. Escreve Meyer: “Fabricados de pura luz pela mão direita de Deus, serviam-lhe os Anjos de lenitivo à solidão divina. Concebeu-os como instrumentos em que pudesse interpretar-se a si mesmo, em sua melodia essencial — a inefável perfeição do silêncio criador”. E pergunta: “Haverá maior solidão que a solidão divina?”
Quebrando aquilo que nem poderia chamar-se isolamento, pois não havia do que estar apartado — é espécie absurda de solidão —, o Criador dá vida aos Anjos para entregar-se à ilusão de “se ouvir a si mesmo, repercutido em eco, ou retratar-se no espelho dos puros espíritos”. Foi busca do estabelecimento de um diálogo, porém debalde. Pois o “coro celestial era a princípio de uma unissonância para nós quase inconcebível”, posto que por inteiro feito de seres identicamente perfeitos, um espelhado no outro, todos espelhados no primeiro e supremo modelo que é Deus. Este, embora todo-poderoso, fracassou na tentativa de debelar a solidão; via a si em todos os lados e sentia que a monotonia de sentir-se só apenas ganhara vários e distintos rostos.
Mas, num momento trágico, Ele ousou criar um ser de perfeição maior, de fulguração tal que “a seu lado os outros Anjos anoiteceram”. Já não apenas refletindo a perfeição, mas a excedendo, foi Lúcifer capaz de compreender a Criação. Assim, surge o impasse: “O excesso de perfeição já não é perfeição, pois a verdadeira perfeição não vai sem justa medida”, diz o Senhor. Não obstante, foi desse impasse que pôde surgir o diálogo, pôde ser engendrada a diferença soberba capaz de romper a tranqüilidade divina; nascera o sonho da razão. “Só do contraste, da falha, da fragilidade ameaçada poderia provir o balbucio de um diálogo vivo e então sim, não apenas monótono ou divino, mas contrastado, sofrido, trágico…” E Lúcifer, erguendo a voz a Deus, a fim de completar o ciclo de riscos e estertores que com sua temerosa criação teve início, pede-lhe que ao primeiro homem dê “agora o medo da Morte, além da consciência na vontade”. “Dá-lhe a angústia do irreversível, o suplício da recordação feliz, do paraíso perdido e do irrecuperável; dá-lhe a um só tempo a insatisfação constante e a ilusão da plenitude, para que não se acabe o sofrimento, pai do movimento. Sairemos então afinal do solilóquio divino, e começará o verdadeiro diálogo”.
…E Meyer já se havia deixado conduzir por uma alegoria bela, porém tenebrosa, a fim de nos contar os concursos da beleza, do mal e da dor. Este Meyer talvez não seja o mesmo leitor imensamente sóbrio e minucioso em sua paixão pelos clássicos portugueses, sobretudo Camões e Almeida Garret; talvez também não seja o de Le Bateau Ivre, em que se extenua em um volume inteiro na tarefa de desbastar o magnífico poema de Rimbaud, padrinho precoce do moderno mundo dos delírios; é possível que não seja sequer o memorialista nato ou o folclorista obsessivamente documental. É apenas o Meyer que vibra notas estranhas na boca do Deus…
“O Senhor, dando execução imediata ao diálogo, trovejou:
— Adão, onde estás?”