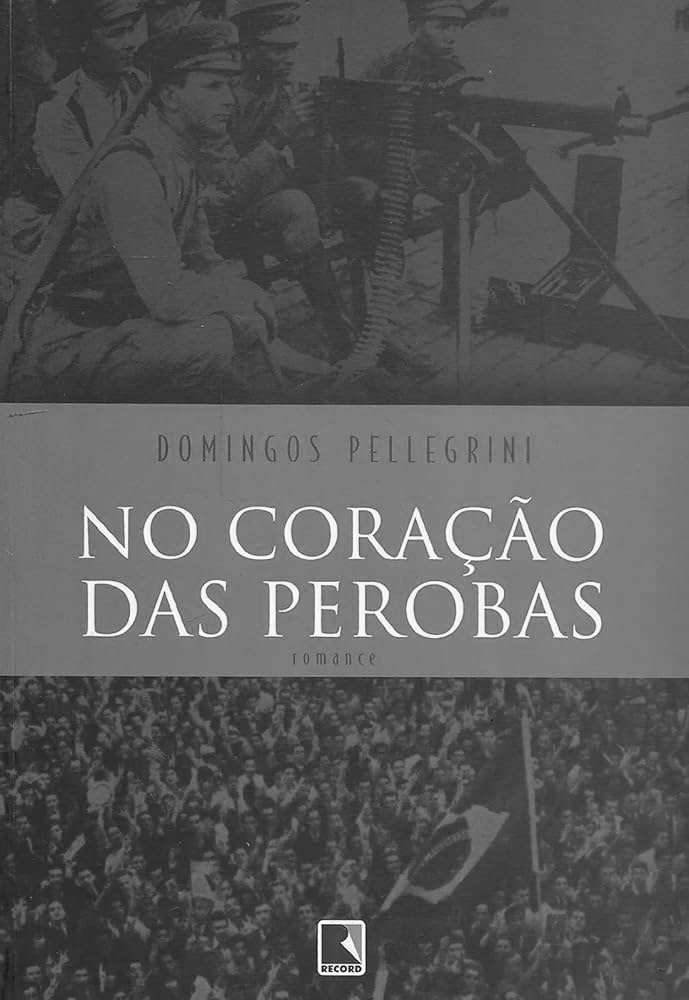Simplificando ao máximo, é possível dividir os prosadores brasileiros contemporâneos em duas categorias. De um lado, aqueles que se concentram na elaboração da linguagem; em outro extremo, os que investem na construção do enredo. Muitas vezes, os primeiros perdem-se em experimentalismos estéreis ou em textos herméticos, enquanto os segundos nem sempre apresentam tramas fortes. É raro o escritor completo. Mas ele existe e atende por Domingos Pellegrini. Autor de livros juvenis, competente contista, poeta só agora editado, recentemente vem demonstrando ter fôlego ao se aventurar pelo romance. Suas longas narrativas apresentam painéis impecáveis, seja tratando da formação do norte paranaense (Terra vermelha) ou da decadência de nossa sociedade (O caso da Chácara Chão). Ele apresenta mais um amplo retrato em seu recém-lançado No coração das perobas.
Se os ficcionistas brasileiros, em sua maioria absoluta, são destituídos de visão de mundo, Domingos Pellegrini oferece um enredo que traduz uma aguçada reflexão sobre a realidade brasileira. A personagem Juliana Prestes, sem nenhum parentesco com o ilustre Luiz Carlos, elege a Coluna Prestes como tema de sua dissertação de mestrado. Ela fica sabendo da existência de um remanescente do grupo e, contrariando as regras acadêmicas, decide utilizar uma única fonte de informação. Assim, a mestranda londrinense passa os fins de semana em Foz do Iguaçu gravando depoimento de Juliano Siqueira.
A estratégia de Pellegrini funciona. Todo seu conhecimento sobre o assunto é revelado por meio da voz de um personagem que teria participado da Coluna Prestes. Juliano Siqueira marchou do começo ao fim, relatando grandes episódios e pequenos incidentes. Para surpresa da historiadora, o homem também esteve nos principais movimentos revolucionários que aconteceram no Brasil no século 20. Assim, serão comentadas — sem a mesma força com que é feita a explanação sobre a Coluna Prestes — as revoluções de 30 e 32, a intentona comunista de 35, a tentativa de golpe integralista de 38, o golpe militar de 64, até o impeachment de Collor, em 92.
Juliano Siqueira acreditava que por meio das revoluções seria possível modificar as estruturas da sociedade. Mas todos os revolucionários que chegavam ao poder se tornavam tão prepotentes quanto aqueles governantes que eles condenavam. A situação se repete em toda nova revolução, mas nem por isso Juliano Siqueira se torna pessimista. Até o último de seus dias continuará lutando por aquilo em que acredita. E a crítica do autor não se restringe àqueles que ocupam confortavelmente as poltronas do poder, mas, sobretudo, ao povo, que, por omissão, covardia, enfim, por falta de interesse, nada faz, colaborando para que nunca aconteça uma transformação social.
Se nos sábados e domingos Juliana Prestes tinha verdadeiras aulas de história do Brasil, nos dias úteis estava em combate. Em determinado momento, teve de se defender e acabou batendo em um delinqüente, filho de uma família tradicional de Londrina. Justo ela, uma mestra em capoeira. Assim, tornou-se bode expiatório na disputa pela reitoria, tendo ainda de responder a um processo administrativo na universidade. Domingos Pellegrini, que tem experiência em campanhas políticas, mostra como pode se desenrolar a disputa por um cargo eletivo. Reportagens distorcidas manipulando a opinião pública, achaques sistemáticos, entre outros golpes, são as armas de quem acha que os fins justificam os meios. E no meio desse turbilhão, Juliana ainda encontrará o amor de sua vida, um fotógrafo que reside no lado brasileiro da tríplice fronteira e que foi batizado com o mesmo nome de um dos pilares da Coluna Prestes, Miguel Costa.
Apesar de toda a reviravolta, a trama é bem resolvida e a linguagem adequada para cada situação. Nos momentos em que Juliano Siqueira recorda suas experiências, o texto preserva características da oralidade. Quem já ouviu o escritor londrinense falar, palestrando ou em entrevista ao vivo, pode encontrar semelhança entre a voz do autor e a do velho revolucionário. Domingos Pellegrini é um excelente orador, e tem habilidade para inserir fluência, ritmo da respiração, pausas e até entonação na fala de alguns de seus personagens, neste caso, em Juliano Siqueira.
Assim como aqueles pioneiros que desbravaram o norte paranaense, Domingos Pellegrini também está abrindo caminho, desta vez, na literatura nacional. Do Paraná, o Brasil conhecia, até então, uma Curitiba cinzenta, de garoa e de frio, com seus personagens perturbados, taciturnos e tímidos, retratados, principalmente e com maestria, nas obras de Dalton Trevisan e Jamil Snege. Ao longo dos anos, nos contos, e recentemente, nos romances, Pellegrini vem apresentando uma outra face do Paraná, iluminada, alegre, com seres cheios de disposição lutando contra toda e qualquer dificuldade. E não se trata de otimismo bobo, mas de vitalidade — característica que homens e literatura devem, ou deveriam, ter.
Domingos Pellegrini prova que é possível viver longe dos grandes centros e construir uma obra a partir das referências locais. Não há nenhum problema em utilizar Londrina como cenário de seus romances, contanto que a abordagem sobre o tema seja universal. Depende apenas de quem está olhando. E este olhar está resultando em livros, livros e ainda mais livros. Ele também acaba de publicar artesanalmente o volume de poemas O tempero do tempo, e anuncia que até junho deve estar nas livrarias, editado pela Lettera, Notícias da chácara — coletânea de crônicas publicadas no Jornal de Londrina, na coluna Aos Domingos, Pellegrini. Aos grupos de teatro oferece uma peça inédita, A morte do coitado. E neste inverno pretende revisar o próximo romance, Quadrondo.
Política, acaso, rotina, música, Londrina e outras prosas compõem a entrevista exclusiva que ele concedeu ao Rascunho.
• Você se impõe uma rotina para escrever?
A não ser que tenha algum compromisso de publicidade ou jornalismo de manhã, o que procuro evitar, escrevo todo dia de manhã, abrindo o computador lá pelas sete e meia, depois de já fazer o almoço dos cachorros. Primeiro correio, depois literatura, seja qual for o projeto em curso. Escrevo até onze meia, meio-dia, daí vou fazer, ou esquentar, almoço, com música. Daí, sesta. Depois, me dedico à chácara, à família, à “curtura” — diversão e cultura a curta distância, inclusive turismo rural. Gosto muito de riacho, mata, cascata.
• Quanto tempo você levou para escrever seu mais recente romance?
No coração das perobas foi escrito em seis meses, a partir do momento em que dei título à história que vinha rolando na cabeça. Lembro que no mesmo dia em que pintou o título, comecei a escrever e fui até o fim dia a dia, acho que uns quatro meses, depois mais dois meses para revisar, reescrever, sabendo o tempo todo onde queria chegar, que é a expressão “no coração das perobas”, que quase encerra a história, quase porque as orelhas continuam a contar a história, ou de como me envolvi nessa história de uma mestranda de História e mestra de capoeira. Mas a cena final só pintou na reescritura, quando vi que tudo devia acabar com o casal Juliana e Miguel na cama, pois geralmente é na cama que as civilizações começam, não? O jornalista londrinense Marcos Losnak reparou que meus romances todos cruzam a história de amor de um casal com histórias de lutas ou guerra. Depois de José e Tiana, de Terra vermelha, o casal, ou, no caso, a dupla de quem mais gosto é Juliana Prestes e Juliano Siqueira, um casal que transa pelas idéias e pela paixão revolucionária a vontade de mudar e melhorar o mundo.
• Uma das principais qualidades de No coração das perobas é a força narrativa, característica também presente em Terra vermelha e em O caso da chácara chão. Quem já teve a oportunidade de ouvir você falar, seja palestrando ou mesmo em uma entrevista ao vivo, percebe sua incomparável, inimitável capacidade de contar histórias. De onde vem isto? É um dom?
Acho que contar histórias é um dom, sim, o dom da narração. Mas todo mundo tem um pouco, ao menos o suficiente para contar histórias ou ler poemas para os filhos pequenos, que é a melhor coisa que podemos fazer por eles e pela sociedade. Tive a graça de, além de contar com esse talvez dom, ter sido filho de barbeiro com dona de pensão, e barbearia e pensão são lugares onde não faltam histórias. Ouvi histórias — às vezes uma simples anedota — dos últimos peões, aqueles que tinham dentes de ouro, e dos mascates, dos camelôs… A força narrativa deve vir do uso de formas orais, linguagem oral desde o vocabulário e a sintaxe coloquial, com clareza mas, ao mesmo tempo, imagens fortes e surpreendentes, sempre privilegiando a ação, ou seja, como cinema, e dessa forma, Homero já era cinematográfico.
• Essa linguagem própria, intransferível é algo que você sempre buscou ou veio naturalmente com o exercício da literatura?
Sempre me incomodou a linguagem literária, a linguagem artística afetada de posturas, truques e tiques distantes da realidade e da vida comum. Percebi rapidamente que já havia muita gente escrevendo difícil para poucos, e que seria melhor escrever claro para muitos. Desde os primeiros escritos, quis usar uma linguagem de todos e para todos, coerente com minhas, então, crenças comunistas, que superei, enquanto a linguagem continuou se desenvolvendo, mas conservando a oralidade e a claridade — mistura de linguagem clara com idéias próprias. Meu primeiro livro quase não tem adjetivos — eu chegava a esses extremos. E, como eu queria a linguagem para todos, também queria a realidade de todos, a realidade comum, não fantástica, por ver que é mais rica do que qualquer fantasia, desde que você saiba ver. Ficava com raiva, já rapazola, lendo, por exemplo, José de Alencar e tendo de suportar aquelas divagações e descrições românticas interrompendo a narrativa. Filho do tempo do cinema e da tevê, acredito que as ações falam inequivocamente, ao contrário das palavras. Daí, desde o primeiro livro de contos [O homem vermelho], e desde os poemas, que só agora estão sendo publicados, sempre procurei não só uma linguagem clara e coloquial, escrevendo como quem fala com arte, e uma visão do mundo baseada na observação própria e não em idéias ou teorias alheias, sejam políticas, religiosas ou culturais. No verão, tomo vinho tinto com gelo e não quero saber o que pensam os enólogos, pois provei e gostei. Observando com os próprios olhos, também descobri a teoria quadronda, que é tema do próximo romance, Quadrondo, que pretendo revisar neste inverno. Mas, enfim, Wilson Martins resumiu tudo isso numa frase, dizendo que sou “autor de linguagem própria e uma não menos própria visão do homem”.
• Nos momentos em que Juliana Prestes vai pensar, em vez de começar uma nova frase, você se vale de itálicos. Pretende incorporar isto em seus próximos livros?
O uso de itálicos, embora utilizado para outro efeito, já aparece em Questão de honra, meu primeiro romance. Foi escrito no meio de Terra vermelha, quando a história deu um nó e dei um tempo esperando desenrolar. Eu estava escrevendo com Bolsa Vitae, todo dia, e aí no primeiro momento de folga, sem o que fazer, peguei na estante da sogra Retirada da Laguna, do tenente Taunay, e me apaixonei. Escrevi Questão de honra em nove dias, mais três para revisar, num total de doze dias. Então, descansei mais três dias e voltei para Terra vermelha com toda história resolvida sem ter tido tempo de pensar nela. Sentava e a história saía. Essas coisas me espantam e me encantam. Não é um barato? Mas voltando aos itálicos, não sei se voltarei a usar. Depende de cada história. Cada uma com suas próprias formas.
• Juliana Prestes decide fazer uma dissertação de mestrado e em vez de subsídios intelectualizados — livros, teses —, ela busca informações em uma única fonte, que é um homem com experiência de vida. Você estaria querendo dizer que as teses universitárias são repletas de citações e destituídas de verdade, vitalidade e real conhecimento das coisas do mundo?
Sim. É uma forma de criticar o dandismo universitário, onde muitos parecem dândis a lidar com a realidade só com luvas, à distância, via livros, sem qualquer envolvimento orgânico com a realidade. Fazem aquelas teses destinadas ao pó das prateleiras, em linguagem cifrada da sua turma de especialistas, fantasiando a mediocridade com a linguagem pretensamente científica e recobrindo tudo com o glacê da bibliografia monumental. Todas as vírgulas no lugar, e o foco em lugar nenhum, ou seja, perdido nas estrelas teóricas ou em algum detalhe insignificante.
• Por meio do personagem Juliano Siqueira, você critica não apenas os governantes, mas também a população que, por diversas omissões, colabora para que tudo continue sendo com sempre foi, é e será. E apesar de o personagem se frustrar com todas as revoluções, ele continua lutando até a morte. O que poderia resultar em pessimismo, revela-se otimismo. Depois de tudo, em que você acredita?
Acredito, antes de tudo, no desenvolvimento como força humana maior, embutido na genética, na filosofia, na política, na educação, na arte etc. A humanidade nasceu para melhorar sempre. Talvez dessa crença venha o que você chama de otimismo. Otimista, sim, mas não bobo. “Nóis é caipira mas num é besta”. Há alguns séculos, enlouquecíamos de dor de dente, acreditávamos em bruxas que hoje nos divertem, e dez por cento da população francesa descende do Homem de Cro-Magnon, hominídeo que habitou por lá há dez mil anos. Tinham de manter o fogo aceso o tempo todo para sobreviver, e hoje colhem trigo com colheitadeiras automatizadas que corrigem o piloto quando ele erra. A democracia, com todos seus defeitos, tornou-se modelo de regime universal. Mesmo os socialistas já não admitem viver sem as garantias da democracia, que na prática acabam com a possibilidade de retorno do socialismo autoritário. Continuamos a ser o único ser no planeta que cuida dos feridos e enterra seus mortos. Já fomos à Lua, mesmo que para tão pouco ainda, melhor seria ir aos bancos dos paraísos fiscais e pegar o dinheiro da corrupção, que fica lá parado, e usar em programas sociais de efeito civilizatório permanente. Acredito na luta. E nos valores em “ade”, sem os quais nada funciona, nem os valores em “ão”, nem em “ismo” — tradição, revolução, eleição, renovação, socialismo, capitalismo, liberalismo, anarquia, democracia. A fábula de Caim e Abel é permanente. Vivemos em luta com nossos irmãos do mal, que também está em cada um de nós. E todos sabem bem o que é mal e o que é bem, o que é bondade e maldade. Minha literatura, como minha vida, se orienta pelos valores humanos ancestrais, que iniciaram e desenvolveram a humanidade. Honestidade, ou seja, não fazer aos outros o que você não quer para você. Sinceridade, também chamada paixão — você vê que o político apaixonado é sincero, e são poucos, até porque toda paixão passa e eles continuam a ser políticos profissionais. Claridade, também chamada transparência. Qualidade, de desempenho, de produção e de espírito. Bondade, por exemplo, desejando para os outros o que você quer para si mesmo. Fraternidade, que elimina qualquer guerra racial, religiosa ou econômica — é só os povos serem fraternos que toda guerra acaba, não é? Questão de honra termina com a expressão: “fraternidade, tanto entre os homens como entre os povos”. Civilidade, enfim.
• No coração das perobas traz uma disputa pela reitoria da universidade. O que você tem a dizer das campanhas políticas em que esteve envolvido?
Participei de três campanhas eleitorais, e a última motivou a escrita de Os meninos no poder, romance (a sair). Numa campanha, é só não esquecer aqueles valores em “ade” e, se não fosse assim, não entraria na campanha ou dela sairia logo, como aconteceu numa delas. O pior de uma campanha é ter de vencer ou afastar os que acreditam que os fins justificam os meios, e o melhor é poder criar e apresentar programas de governo que depois se tornam realidade. É a glória para um intelectual.
• O personagem Juliano Siqueira cita algumas personalidades históricas, entre eles, Ghandi, Jesus Cristo, Siqueira Campos, Tiradentes, Castro Alves, Guevara etc. Eles seriam também ídolos do escritor Domingos Pellegrini?
Dos que você cita, só Guevara superei, ou seja, foi herói para mim, mas hoje não é mais. Era muito ingênuo militarmente falando, tanto que morreu disso, e politicamente era autoritário. Prefiro Ghandi e Mandela, já que não acredito mais em mudanças pela força militar. Pela força, no máximo, mudam os poderes públicos, as formas do Estado, os homens no poder, mas é só pela educação, pela humanização e pela participação que as coisas mudam efetivamente, ou seja, por meio da civilidade. Gosto muito de Mandela, que curtiu 27 anos de cadeia e saiu falando em perdão, pacificou a África do Sul e depois se retirou do poder, como Ghandi, em vez de se agarrar a ele como quase todos. Admiro a todos que você cita, e muitos outros, como Walt Whitman, Thoreau e Augusto dos Anjos. Cultivo até meus heróis locais, como alguns que transformei em personagens de Terra vermelha. Infeliz o povo que não tem heróis, como infeliz foi a frase de Brecht, “infeliz o povo que precisa de heróis”. Todos nós precisamos de heróis.
• Juliana Prestes foi em direção de Juliano Siqueira com a finalidade de obter informações sobre a Coluna Prestes e, para surpresa dela, ele também havia participado das principais revoluções brasileiras que ocorreram no século 20. E, inesperadamente, Juliana encontra também o amor de sua vida, Miguel Costa, um homem com o mesmo nome de um dos participantes da Coluna Prestes. Ao apresentar essa soma de coincidências, você estaria sugerindo que todos nós dançamos a música do acaso?
Acredito nas coincidências, nos imprevistos e acasos, bem como nos desastres e sortilégios. Afinal, é o que não depende de nós — e na vida muito depende de nós, mas muito não depende, ocorre independente e mesmo contra nossa vontade, e por isso mesmo precisamos saber agir nessas circunstâncias. No caso da Coluna Prestes, mesmo, foi superando desastre após desastre, cerco após cerco, que aqueles rapazes — na maioria eram rapazes, com a generosidade da juventude nas veias — fizeram tanto por tantos que tão pouco retribuíram. O nosso nascimento, por exemplo, que é tão determinante em nossas vidas, já independente de nossa vontade, e nos dá uma família, uma terra natal, uma nacionalidade, um signo, uma raça, ou uma mistura de várias. É uma visão ingenuamente realista a que acredita ser a vida e a realidade dependentes apenas de nossa vontade. Quem dera…
• Londrina, naturalmente, está presente em diversos momentos de sua vasta obra. E os londrinenses sentem orgulho de você. Passei o carnaval deste ano em Londrina e pude constatar que as pessoas — seja balconista, seja motorista de ônibus, seja comerciante etc., até as quem não leram seus livros — admiram sua presença na literatura. Assim como aqueles pioneiros que desbravaram a região do norte do Paraná, você também está abrindo caminho, inserindo Londrina, e o Paraná, no mapa literário nacional. É essa a sua missão?
Escrevo sobre o que conheço, e a terra e a gente que mais conheço são estas. Com a globalização, fica evidente que as únicas coisas insubstituíveis são os costumes, a culinária, o sotaque e as coisas de cada terra, a cultura regional, que se contrapõe à padronização industrial e informacional do mundo. Além disso, Londrina tem uma história singular e entusiasmante, com integração racial e cultural, este patrimônio brasileiro. Meu próximo romance, Quadrondo, se passa, porém, em uma ilha do Paraná, na metade do livro; e outra metade na Europa, “procê vê que o caipira vai se mundanizando”. O importante é que a visão de mundo e do homem seja universal.
• Depois do contista, depois do jornalista, depois do autor de livros juvenis, depois do poeta, depois do publicitário, depois do haicaísta, depois do roteirista, depois de tudo, ainda aparece o romancista. O que mais você ainda quer fazer por meio da linguagem escrita?
Ainda gostaria de escrever teatro. Tenho uma peça pronta, A morte do coitado, que ofereço a qualquer grupo que queira encenar. É teatro popular, e enfoca a saúde neste país ainda com tantas injustiças e destratos ao povo que paga embutidos os maiores impostos do mundo.
• A Folha de Londrina noticiou que você está participando de um projeto que reúne, uma vez por semana, pessoas que gostam de vinil em um bar da cidade. É verdade que você, além da música, gosta muito de dançar?
Gosto de Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Raul Seixas, jazz, samba rock, qualquer tipo de música boa eu gosto, mais ainda dançando. Mandela deixou claro que se a gente dançar, teremos e o mundo terá menos problemas, da saúde à política. Vou lá no Bar do Apolo Theodoro pra tocar meus velhos vinis. É um evento que acontece toda terça-feira com alguém botando a discaiada pra tocar. Também ando cantando em videokê. E onde tem música, danço. Piorou um problema na minha coluna e, enquanto puder dançar, vou dançando, até um dia ter de operar. Fazia mais de uma década que deixei de ir a bares. Mas agora vou ao bar de meu velho amigo pra dançar, levando minha filha mocinha, veja só!
• Além da prosa e da poesia de Domingos Pellegrini, o que mais está sendo feito em Londrina, em termos de produção cultural? De que maneira você se mantém informado?
Pois é, como avaliar a produção cultural de Londrina? Não é coisa para quem passa a maioria dos dias e noites numa chácara, só vendo vídeo, um ou outro noticiário e programa de tevê, além de conferir a Rádio Universitária. Leio um jornal municipal, olho três nacionais pela internet, estou sempre lendo. Estou ilhado, mas navegando.
• Qual sua opinião sobre os suplementos de cultura?
Os suplementos culturais são dirigidos a vários segmentos, mas quase nunca ao leitor comum, para todos. O leitor comum pega um suplemento rural e tem mais o que ler do que num suplemento cultural, notadamente os literários. Lembro quando Milionário e José Rico fizeram shows para um milhão de pessoas na China, e a Ilustrada, da Folha de S. Paulo, deu ao fato uma notinha maliciosa, ignorando a dimensão cultural de um evento nessa proporção, talvez o maior já realizado até então por artistas brasileiros. E quando os suplementos eram apaixonados pelos concretistas e só dava irmãos Campos em todas as áreas? E que rendição intelectual foi àquela adoração do estruturalismo, sem falar na rendição permanente aos mitos e confrarismos de esquerda ou de vanguarda. E os auto-elogios? E as seções de cartas cheias de louvores? Vaidade parece ser o tema permanente de muitos suplementos cultuais.
• Em geral, os personagens de seus romances são idealistas, que ao entrarem em contato com determinadas situações, geralmente, se frustram. Mas, ao final, eles conseguem êxito. Quer dizer que com o tempo, o Pellegrini revolucionário, realmente, tornou-se o Pellegrini humanista?
Sim. Melhor, não? Revoluções passam, traem a seus próprios princípios e, muitas vezes, destroem mais que constroem. A humanização é permanente e conseqüente.
• Ano passado, quando O caso da chácara chão recebeu o Prêmio Jabuti, categoria romance, alguns intelectualóides — autores urbanos que sabem escrever, mas não têm conteúdo, ou seja, 98,75% dos escritores brasileiros contemporâneos — desdenharam sua literatura e sua opção de residir em uma chácara inserida em uma cidade do interior. Essa opção de viver em um local tranqüilo favorece sua literatura? De que jeito?
Morei três anos em São Paulo e tenho saudade só da vida cultural, shows, exposições, comidas, festas, mas optei por uma vida mais saudável. Lá, me faziam mal o ar, a água — no banho!, o barulho, o clima, o ritmo neurótico daquela megalópole. Percebi que morar ali seria atraso de vida. Além disso, com internet, a informação se descentralizou. Quanto a intelectualóides, existem os óides e, todas as corporações e categorias. Eles servem de espelho, mostrando como não deve ser o intelectual ou artista que queira retribuir o dom com serviços prestados à humanidade, que, afinal, é quem conduz o bastão das loterias genéticas. E viver na chácara favorece não só minha arte como vida toda. Durmo de portas e janelões abertos, os cachorros ali no terraço e todo dia com novidades no pomar. Como sempre, estou vivendo a melhor fase da minha vida.