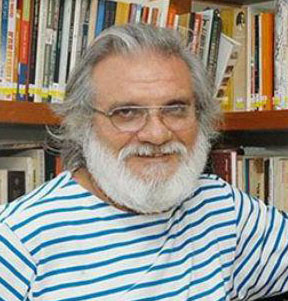MUDOU de posição na poltrona. O lençol caiu dos ombros, alojando-se no ventre — liso e leve —, cobrindo as pernas — longas e luzidias —, os peitos duros à mostra — túrgidos e tensos —, as mãos pousadas nas coxas — grossas e graves —, o revólver na direita, a cabeça arriada sobre o ombro esquerdo com ligeira inclinação para trás, testa larga sem rugas e marcadas por sobrancelhas negras, os olhos fechados, o nariz fino e sutil, queixo delicado e firme, os lábios tocando-se, dando a impressão de riso irônico e distante, desenhando a maravilha de uma mulher que não apenas procura a felicidade — encontrou a felicidade. E aquilo chamava-se mesmo: encontrar a felicidade? Ou o caminho era a expectativa do assassinato, só conhecido por aqueles que descobrem a montagem da eternidade? Respirou fundo e o busto moveu-se sem, no entanto, perder a grave leveza plena de encanto e ternura. Enfim, uma mulher em cujo seio repousava a morte.
Não queria mais se preocupar — quieta, contando de dez a um para relaxar um músculo, de dez a um para relaxar outro, de dez a um desta vez o terceiro, até se sentir plena e abandonada, em busca do sonho — respirando, lenta e profunda, e procurava não pensar em nada — esvaziando a cabeça de todos os pensamentos — todos, absolutamente todos, todos —, os olhos fechados e parados, depois começou a movê-los num ângulo de trinta graus à direita, trinta graus à esquerda, e parados, os olhos parados. Decidira ausentar-se, sonhar ou delirar, meditar, enfim — amar por amor ao crime, única e absolutamente amar por amor ao crime — até atingir o nirvana terrestre — viver sem viver, morrer sem morrer, viver por morrer, morrer por viver, deixar o mundo sem abandoná-lo — despojando-se de todas as outras vontades, desejos, delírios ou sensações, dominada por palavras que vacilavam, ecoavam e ajustavam-se, consolidando-se na frase: repetindo-a, e repetindo-a, e repetindo-a — amo matar, amo matar, amo matar —, numa espécie de mantra, até que a frase atingisse o inconsciente: visualizando-a, revolvendo-a, dominando- a.
Ali, tomada de felicidade e de alegria, sentia-se dona do corpo de Leonardo, assassinado e sacrificado, transformado em boneco — de pano?, todo morto é de pano, sem alma, coisa, de borracha? — definitivo, com quem ela podia brincar — feito não houvesse furo de bala, sangue derramando, grito de morte —, carregando-o pelos pés, pelas pernas, pelos pêlos, abobalhada de prazer nas ruas, no corredor, no quarto, e arrancando-lhe os olhos, os cabelos, os braços, e zanga — só essa zanga esquisita de quem ama, capaz até de provocar riso — mula meia, mula torta, palavras mágicas que aprendera na infância para afastar susto de mula sem cabeça — ou gargalhada — para ver a cara do outro se mastigando de impaciência: esquisita essa diferença do agressor rindo do agredido, do agredido rindo do agressor e os dois tentando fingir comédia, mágoa, cochilo de amante. O que devia exato acontecer ou já devia estar forçoso acontecendo: a comunhão dos corpos, a plena comunhão dos corpos que se realiza séculos sem fim: a cumplicidade do criminoso com a vítima e que os levará juntos à eternidade e voltarão unidos em todas as reencarnações — ou reencenações? — almas gêmeas, irmãos gêmeos, corpos gêmeos, como é mesmo que se diz? Corpo queixoso de mágoa esse de Leonardo, morto, sendo carregado pelas calçadas ou meramente dormindo na cama e ela fazendo gato e sapato, sem lamento de morte, sem cheiro de morte, sem sombra de morte e morrendo — morrendo? também ela? morrendo de rir quando ele lança aqueles imensos olhos tristes — as pessoas magoadas só têm olhos? — sem cabeça, sem braços, sem pernas, só e apenas olhos? — e ela acalmando sossega leão eu não vou lhe matar outra vez — foi só uma e nunca mais — morte só pode ser uma? para sempre uma? definitivamente uma? e por que morrendo de rir? morte devia ser sempre morrendo de rir — morte de amante podia ser várias muitas várias muitas por amor absolutamente por amor para ver aquela cara de mágoa — não dessa mágoa convencional e boba — daquela mágoa eterna quando a pessoa se entristece, se queixa e também promete vingança — palavra feia, ruim, podre — sentimento mesquinho e estúpido — aliás, não promete vingança, isso não presta, não é apenas uma palavra, nunca será apenas uma palavra — e uma palavra, com toda a carga de solidão, dor e festa, é apenas? —, promete amor — o gosto de sangue na boca, as lágrimas nos intestinos, a pancada no coração — para que venha mais cruel e mais terrível, mais amor, quem mata por amor não quer matar, quer magoar.
Levantou-se da poltrona para celebrar a morte — depois da limpeza da mente, da entrada na órbita mágica, de vislumbrar o desejo e de sentir a
realização — a beleza do sonho arrastando-se aos pés, a certeza de que o Leonardo ali deitado não passava de lembrança, aceitara as garras dos pensamentos —, preparava-se para os exercícios, que poderiam ser feitos
quantas vezes quisesse e que exigiam concentração e esforço redobrado. Primeiro, meditação, contemplação; depois, movimentos. Sentia-se uma absoluta e irremovível mulher moderna — não podia falhar em nenhuma
moda: freqüentar academias, comer folhas, especializar-se em auto-ajuda, espalhar fetiches pela casa, freqüentar bailes periféricos. E gozar, gozar — para sempre gozar. Infinitamente.
Vestiu a saia curta e quadriculada de preto e marrom, fios dourados, dessa que começa no umbigo, quase um balão, e cujo fecho fica na parte de trás, franjas de renda branca, com fitas azuis entrançadas na cintura,
bem justas até as nádegas — que se enlevam e atormentam e angustiam, o coração serelepe, o sangue latejando — com ênfase nos quadris, em dimensão de força —, solta e esvoaçante nas coxas rijas, destacando os joelhos redondos e firmes. Descalça. Os cabelos soltos e o busto desnudo. A barriga seca, o umbigo sutil e os braços leves — amorenada, bem amorenada, nunca mais a mulher branca, que Leonardo conhecera na faculdade de Direito, nos bons tempos do quebra-pau. Feito outra, outra
mulher. Não uma mulher renovada — outra mulher — não haveria sequer conciliação entre as duas — jamais se conheceram, jamais se viram, jamais se tocaram — igual o Leste e o Oeste da carne, o Norte e o Sul do espírito. No antigo era uma dessas senhoras brancas de ombros largos, que exigia a Revolução nas passeatas — jogando pedras na polícia e derrubando cavalos com bolas de gude espalhadas nas avenidas. Mesmo faz pouco tempo tinha outro corpo — era habitada por outra alma — essa alma branca que tentou — ou desejou matar Leonardo por diversas vezes — e sem forças porque não largava o terço, a oração, o livro — e que começava os exercícios com a meditação matinal e ainda no banheiro fazia os exercícios: com as mãos nas nádegas, pulando e gritando, três vezes: abunda felicidade, abunda felicidade, abunda felicidade.
E agora mudava de corpo e de alma — até porque, para que haja mudança completa, a alma tem que ser absolutamente outra. Não renovada: outra. Usaria a máscara. Coloca-a no rosto: uma índia? uma
feiticeira? uma entidade? Por que estava se sentindo uma nova mulher? Por causa da máscara, basta uma máscara e a gente já se sente estúpida — mínima máscara, máxima máscara — porra de máscara, vida de merda —
máscara de vida, a vida mascara — é hora do banho — não, não, não, banho, não — mudei de alma e não de máscara — reconhece que precisa fazer os exercícios terreno-espirituais — uma mulher moderna está tolhida de toda festa e para sempre fodida se não for comida numa academia. Não era morena, amorenada, negrinha — na verdade fora pintada de vermelho, esse vermelho puxado, de terra escura sem sol, queimada nas entranhas da
terra, retirada do oco das árvores, feito acontece nos rituais indígenas. É a Mãe do Vento, índia tukúna, cabelos escassos, orelhas enormes, dentes de garras, olhos pequenos — e dança e baila e gesticula — quase de cócoras — sentada em si mesma — as pernas arqueadas — os braços imitam as asas do ar — circula a cama de Leonardo — que não vê, que não sente, que não dorme — caminha, gira, volteia — ou uma índia tukana — a máscara cerimonial de uma imensa testa amarelo-marrom e o olho enfiado na carne — nariz transformado em ponta — a boca pequena, mais língua do que dente — o queixo caído — os mesmos movimentos — de vento ou de guerra — de feiticeira que traz a morte encravada nos músculos e nos nervos — nas pontas dos pés — no escuro dos gestos. Tem alma de tukana. Tem alma de tukúna. Tem alma de vento e de tempestade. Tem alma de morte. Celebrações, rituais, danças. Segurava o revólver na mão direita semelhante a um maracá — agitando-o, girando-o, circulando-o — e gritava para dentro, para os clamores do sangue, para a agitação da alma, esquecendo a faca sobre a bandeja no frigobar.
É chegado o terceiro e último movimento — o decisivo tempestuoso derradeiro terceiro movimento onde o ódio é semelhante ao sono — repleto de angústia de azedume de sombras — e que se parece muito com um ventre — quente, aconchegante, terno — esquecendo o mundo desventuroso, cruel e doloroso — ó mundo ó dor ó crueldade — matar é igual a se suicidar? — quem mata morre? — acompanha o morto e fica com o corpo só para fingir? Um morre e o outro engana? — penando as penas? pagando as penas? pegando as penas? — e Alice pára no meio do quarto, faz uma careta, respira fundo. Acumula todo o ódio — o ódio que se transforma em amor — o ódio é amor — no estômago — na boca do estômago, na boca da lua, na boca da noite — arrasta-o das estranhas — e acumula-o na garganta — volta a repetir o movimento e na terceira vez — o estômago, o peito e a garganta entumescidos — joga-o em Leonardo, gritando: Hahh — e depois — Hahh — e em seguida — Hahh — e finalmente: — Hahh-hahh-hahh. Extenuada. Alice extenuada. Suada. Desfalecida. E ele não acordou nem se mexeu — e nem sabe que está tomando um banho de fim do mundo. Ela precisa completar a série do exercício terreno-espiritual e retorna ao meio do quarto — três vezes três: nove — noves fora: nada — nada é a palavra exata para quem vai morrer: nada. Não, absolutamente, nada não: espere-me no Céu, meu grande amor. Sua, está suando muito — não esquece o cansaço, não deixa de senti-lo e precisa ir adiante, seja como for, ir adiante sempre. Lembra-se dos exorcistas que morrem — atacados por devastadores enfartes — enfrentando os cães e ela nem precisa disso. Um copo d’água, talvez. Não, um copo de ódio — amor? — basta um copo apenas um copo e todas as forças da terra se mobilizarão, está escrito — não é assim que se diz? — a mãe falava nessas coisas todos os dias — a voz da mãe
ecoa pela madrugada inteira, pelo dia total, pela vida completa. Afinal, não seria exorcismo afastar Leonardo do caminho? tirá-lo da estrada? enxotá-lo para a margem? afogá-lo no deserto? O ódio nina, nina ódio?
Um ódio carinhoso — tão bom esse ódio carinhoso que ela sente por Leonardo — ódio terno que precisa ser alimentado com flores e guaranás, roseira no jardim pedindo piedade de água e estrume. Sol e sombra. Calor.
Transpirando belezas e sentada com as pernas abertas no sofá — os braços nas coxas — os peitos nervosos e baloiçantes — a máscara estava satisfeita: realizara a meditação — exigente e lenta — e todos os principais — repetidos e renovados — exercícios de auto-ajuda — desde os iniciais três pulos de abunda felicidade — até aqueles que exigiam saltos e danças —
ousadias e liberdades — obedecendo a um ritual maravilhoso que se assemelha à magia para enfeitiçar o marido — motivo e ação — e levá-lo para os confins da eternidade.