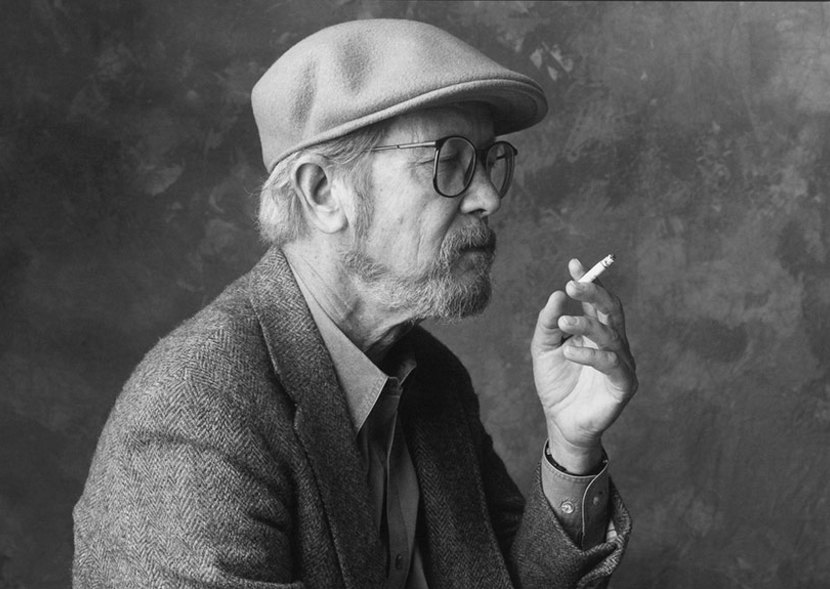Hombre é uma das melhores narrativas de Elmore Leonard.
Publicada em 1961, pode ser chamada de pequena obra-prima — não do gênero mais associado ao prolífico Leonard (a novela policial), mas àquele tipo de romance quase inteiramente desprezado pelos pedantes e pelos idiotas: a literatura western. Com base em Hombre, o exigente diretor Martin Ritt produziu e dirigiu, em 1967, um dos seus melhores filmes, com atuações memoráveis de Paul Newman, Fredric March, Richard Boone e Diane Cilento.
A novela de Leonard estava pronta para o cinema — e Ritt realizou um filme de narrativa ágil e seca, semelhante ao tom do livro que pertence à linhagem “nobre” do gênero.
No Brasil, o western ficou restrito, no mais das vezes, à tradução dos piores escritores, editados em livrinhos de bolso vagabundos. Não tenho conhecimento do lançamento de obras de alguns mestres inteiramente desconhecidos, entre nós, como o Jack Schaeffer de Monte Walsh, o Alan Le May de The Searchers, o Walter Van Tilburg Clark de The Ox-Bow Incident, o Elmer Kelton de The Time it Never Rained, o Charles O. Locke de The Hell Bent Kid, o Benjamin Capps de The White Man’s Road, o Milton Lott de The Last Hunt… e, sem dúvida, o Elmore Leonard de Hombre.
Quem é o hombre? Ele se chama John Russell, mas é o apelido que ressoa, o tempo todo, na história desse mestiço dividido entre dois mundos, meio cristão e meio pagão, meio branco e meio apache. Hombre sinaliza a ambigüidade racial, mas é também o genérico que aponta para o dilema anterior às raças e que implica a discussão sobre ser responsável pelo outro, naquele “inferno” sartreano que passa pela suportação do próximo.
Claro que estamos — no livro como no filme — fazendo uma travessia no cerne da arrogância do “branco”, com poucas palavras gastas para expressar a maldade que se aninha numa cultura cuja brutalidade tenta se ocultar por sob hinos e discursos, religião e retórica. Nesse sentido, não se diferencia tanto dos enredos urbanos e cínicos dos romances policiais de Leonard — mas ali está uma pista sobre o começo da loucura, e nela podemos entrever a “doença” do homem branco formando-se na ilusão de que tudo é “pelo progresso”: por ele, devastamos a natureza e perdemos aquela qualidade de ver as coisas inteiras, o universo como um todo do qual perdemos o sentido de conjunto. Essa “metade” é a que o mestiço John Russell rejeita em si mesmo — mas ele se erguerá para a morte em nome dela, no final, quando se cumpre a travessia do semi-selvagem para a vítima-completa, pois Russell está condenado pela bondade que exige dele a adesão a qualquer modelo de “heroísmo” pendente da moralidade cristã que transaciona com carne podre na reserva de San Carlos e outros campos de extermínio.
Rica em ação, a novela nos mostra o quanto nossas dubiedades e hipocrisias aumentam os perigos, nas fugas desesperadas. O “vilão” dessa narrativa seca e direta não é fora-da-lei, o “celerado” Braden, mas o animal indiferente e dissimulado que pede proteção e piedade a toda hora, o agente da reserva de índios confinados para morrerem à míngua, enquanto devem tentar aprender a ler nas páginas da Bíblia.
Talvez não seja só coincidência o fato de a diligência improvisada ser o “carro da lama” (a carreira de diligências acaba de ser fechada, no início do livro; só resta, então, esse carro de trabalho para conduzir os últimos passageiros a Bisbee e a Contention). Mesmo o nome de Mrs. Favor — a mulher do agente índio — segue ressoando algum significado, no contexto mexicano que em que vemos todos pedindo a “ajuda” de John Russell, isto é, o seu sacrifício — em nome da lógica e da “moralidade” brancas.
Esse livro é sobre uma descida ao inferno dos outros, pela encosta sem volta, próxima de uma mina perdida. Russel se decide a agir — contra a lógica índia — e perderá a vida em troca da salvação de Mrs. Favor, que ele despreza e deixaria morrer, na tribo. Na verdade, nós leitores pressentimos o sacrifício desde muito cedo, quando a simples conversa incidental no carro da lama funciona como variações do mesmo tema – “poluindo” o espírito do meio-índio (Martin Ritt, nos letreiros do filme, usa autênticas fotos de crianças apaches nos encarando com a patética fragilidade dos desprotegidos, como se apontasse: “Aqui estão os John Russell”).
As palavras fazem perder o antigo menino, derrotam a sua alma. É curioso que seja assim, pelas palavras, que se dê a perda do adulto, quando Russell baixa a guarda e deixa penetrar alguma retórica pela couraça “apache”. Não há um momento determinado, na narrativa, na qual possamos detectar essa hora vigésima quinta — mas sabemos que a mera companhia dos outros (brancos) conspira contra o mestiço até o momento em que ele irá baixar, do altiplano mescalero, para morder a poeira da mina abandonada por alguns loucos desiludidos. No capítulo derradeiro, vemos um homem que menospreza os motivos, as ações e os argumentos cristãos ceder a vida aos seus ventríloquos. Por quê? “Oh, nós não queríamos isso, não era para ser assim…” — nos lastimamos, na fraqueza que nunca se prepara para o pior, diante do passo errado do mestiço. Errado? O que há de errado com o sacrifício?
A pergunta jaz com Russel, na encosta fatal para ele — quando a sua resistente indiferença cai por terra, deixando-o desprotegido da “impiedade” índia (que “garantia” a sua lógica e a sua vida). Talvez por isso um crítico norte-americano tenha escrito, quando do lançamento de Hombre: “Provoca calafrios: a maior parte dos leitores sentirá na espinha um arrepio desagradável”.
O romance de Leonard extrapola dos limites geralmente atribuídos às “narrativas do Oeste” — e merece ser traduzido neste momento em que os americanos ainda se pergunta sobre as raízes do ódio que lançou o país no luto mais inesperado, recentemente. É verdade que novos Rangers partiram no encalço dos “apaches” longínquos da Ásia, pondo-se em marcha a cavalaria com a bandeira da vingança etc., mas nem mesmo a atual guerra de extermínio encetada contra o Afeganistão poderá calar certas questões que remetem para trás e para aquela fronteira de justiça atravessada, pisada pelos velhos pioneiros.
Tão curta, a novela ainda assim consegue ser exemplar sobre corações e mentes divididos e vai além da temática “racial”, avançando em território inesperado num western. E as editoras brasileiras têm uma dívida para com o público leitor brasileiro: nunca fizeram traduzir o melhor do gênero, mesmo apesar do sucesso de filmes baseados nas novelas de alguns mestres que rivalizam com autores policiais clássicos (Dashiell Hammet, Raymond Chandler, James Handley Chase e outros) na qualidade literária das narrativas de “cowboy” que não abandonam os mitos formadores da América, mas tentam investigá-los até o centro onde pulsa algum segredo não revelado, ainda, no coração do hombre.