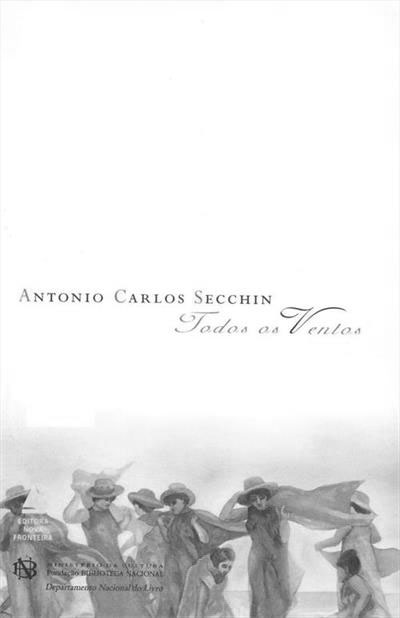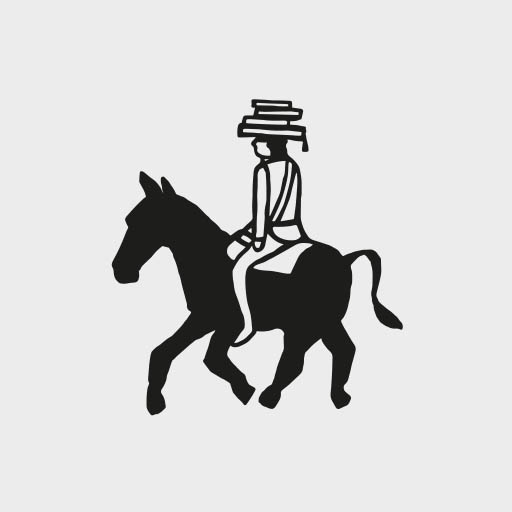… E o vento chamou. Pois Antonio Carlos Secchin, 50 anos, poeta, crítico e professor titular de Literatura Brasileira da Universidade Federal do Rio de Janeiro escutou a voz do vento, ou melhor, da poesia, reuniu sua pequena, mas significativa obra poética (revista e diminuída), e acrescentou cerca de 40 poemas inéditos, vários deles premiados pelo programa de bolsas da Biblioteca Nacional.
O resultado de tudo isso é Todos os ventos. Autor de três coletâneas de poemas — Ária de estação (1973), Elementos (1983) e Diga-se de passagem (1988) —, Secchin lançou, no ano passado, um Guia dos sebos das cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo (Nova Fronteira), que já está na quarta edição. Considerado um dos maiores bibliófilos do país (sua biblioteca particular ostenta cerca de 11 mil volumes, entre poesia, ficção e ensaio), Antonio Carlos também alcançou fama no Brasil e no exterior como um dos principais estudiosos da poética de João Cabral de Melo Neto, analisada em sua tese de doutorado João Cabral: a poesia do menos (Topbooks, 1999).
Acompanhe a seguir….
• Todos os ventos reúne a sua poesia anterior, revista e diminuída, acrescida de uma produção de inéditos. Antes desse novo livro, você publicou apenas três pequenos volumes, sendo que dois deles por editoras de pouquíssima ou nenhuma distribuição. A rigor, sente-se como se estivesse prestes a estrear na poesia?
Sim, trata-se de algo paradoxal: a publicação de um livro que representa ao mesmo tempo minha “estréia” e minha “obra completa”. Na verdade, boa parte dos novos poemas foi escrita em circunstâncias pessoais pouco favoráveis. Cheguei a supor que se trataria de meu último livro. Nesse caso, o derradeiro ataria a ponta com o primeiro, Ária de estação, também de poesia, e eu ao menos me sentiria mais reconciliado com o que suponho ser minha mais intensa (ainda que pouco extensa) vocação. De todo modo, espero que Todos os ventos apresente uma convivência não-litigiosa entre a sabedoria da experiência e o entusiasmo da estréia.
• Por que supôs que este seria seu último livro?
No ano 2000 constatei, com certo pesar, que era mortal… Até então, a idéia da morte era algo que me soava tão longínquo quanto um pôr-do-sol em Netuno. De repente, contraí uma toxoplasmose — quase 30 dias consecutivos de febre, risco de cegueira, seqüelas que duraram meses. A poesia, represada há tanto tempo, retornou com intensidade. Cheguei a escrever dois poemas num único dia, o que, em termos de minha produção, corresponderia a um sedentário que conseguisse correr três maratonas em 12 horas. Todavia, não creio que a doença tenha agregado um tom fúnebre ou melancólico à minha poesia. Ao contrário, tratei da morte até com certo humor, e há muitos textos irônicos, leves e solares desse período. Se você observar, a seção mais densa e meditativa da obra — os Dez sonetos da circunstância — não fala propriamente da morte, mas, quase sempre, da perda em vida: evocação de situações e objetos perdidos, não porque morreram, mas porque se transformaram.
• O seu caso lembra, de uma certa forma, a trajetória de dois grandes poetas brasileiros, que somente em torno dos 50 anos divulgaram, para um público maior, suas respectivas obras poéticas. São eles Joaquim Cardozo e Dante Milano. Concorda com essa comparação? Não teme que sua poesia possa obter uma repercussão limitada, uma vez que você — assim como os dois poetas mencionados — não tem desenvolvido, pelo menos até o presente momento, uma carreira poética regular?
É provável que muitos nem tenham ouvido falar de minha experiência poética, limitada a poucos e magros volumes de ínfima circulação. Nos anos 90, atuei maciçamente na crítica, e pode existir preconceito ou desconfiança contra um “crítico” que, repentinamente, se arvora a ser “poeta”. Procurei desenvolver uma escrita em que o discurso crítico fosse poroso ao poético, e vice-versa. Circunstancialmente, o lado crítico foi muito mais solicitado do que o poético. Seria meu desejo que, a partir de agora, essa equação se invertesse. Quanto a Cardozo e Milano, só posso ficar lisonjeado com a referência: ambos grandes escritores, respeitados independentemente de possuírem obras de pequena extensão.
• Todos os ventos abre com um poema curioso, que toca num tema delicado: a possível homossexualidade de Álvares de Azevedo. Mais à frente, há um poema intitulado Noite na taverna, numa referência à famosa novela azevediana. Fale sobre esses dois textos e sobre o seu interesse pelo poeta, assim como pelos demais escritores do Romantismo brasileiro (você chegou a publicar um ensaio sobre a presença do mar na poesia dos românticos).
Estudei detidamente a produção romântica brasileira, inclusive a de muitos poetas de segunda linha, jamais reeditados. Tenho pouca afinidade com a linguagem romântica, mas bastante interesse pelas tensões culturais e ideológicas do período. É fascinante o estudo das diversas máscaras com que os personagens-poetas camuflam ou revelam o território da sexualidade. Meu poema É ele! não pretende retirar a máscara do poeta e revelar uma verdade, mas apenas colocar-lhe outro disfarce, malicioso, que, no caso, abre campo para a perspectiva homossexual. Quanto ao interesse por outros poetas românticos, lembro ainda que escrevi as Memórias póstumas de Castro Alves, a serem incluídas em meu próximo livro de ensaios.
• Em Remorso, outro poema instigante, você escreve: “A poesia está morta./ Discretamente,/ A. de Oliveira volta ao local do crime.” Qual o seu intuito ao escrever esses versos? Que crime de lesa-poesia o poeta parnasiano teria cometido?
Uma possível resposta pode ser encontrada em outro poema do livro, o soneto Trio, que cita o triunvirato-mor do nosso Parnaso (Alberto de Oliveira, Olavo Bilac, Raimundo Correia): “aprisionam em seus versos as pombas e estrelas/ apostando que em jaula firme e decassílaba/ não haverá qualquer perigo de perdê-las./ Adestram a voz do verso em plena luz do dia./ À noite a fera rosna a fome da poesia”. Essa perspectiva decorativa, domesticada e autojubilosa sintetiza o pior do Parnasianismo.
• Dois poemas de Todos os ventos são muito singulares: Um poeta é o único sem dedicatória, e Luz é o único com epígrafe. Fale sobre essas particularidades.
Um poeta é texto satírico, cuja idéia partiu de um verso de Leminski, em que ele, ironicamente, dizia ser sua poesia “um mero plágio da Ilíada”. Pensei em caricaturar o poeta de mentalidade provinciana, vaidoso, que produz muito pouco, centrado no próprio umbigo, e que se julga, com diminuta e inexpressiva obra, superior ao próprio Homero (risos). Tal poeta não corresponde a nenhum modelo prévio real, embora várias pessoas tenham me “garantido” que o inspirador seja A, B ou Z (risos). Isso demonstra, de um lado, que o tipo é mais abundante do que eu poderia supor e, de outro, que há uma tendência, por parte de alguns, a personificar o poeta descrito nesse texto, que objetiva apenas revelar, de modo genérico, uma maneira grotesca de se relacionar com a poesia. Por isso, o poema não é dedicado a ninguém. Quem sabe eu não devesse dedicá-lo “A vários”, e cada um pusesse a sua carapuça? (risos). Quanto a Luz, trata-se de um poema — a partir do próprio título — escrito unicamente em monossílabos, e a epígrafe de Racine consiste num verso considerado intraduzível por Manuel Bandeira: “Le jour n’ est pas plus pur que le fond de mon coeur.” A segunda parte do poema é minha proposta de tradução, frente ao desafio lançado por Bandeira.
• Sua poesia tem muito ritmo, seus versos são bastante musicais. Isso seria uma herança do Simbolismo ou do seu passado universitário como letrista de música?
Recordo vagamente que meu primeiro poema, escrito na adolescência, no milênio anterior, tinha uma tonalidade simbolista. Assim, comecei a fazer poesia com apenas 70 anos de anacronismo, e não 150, como seria o caso, se meu modelo inicial fosse romântico. Mas não creio que o traço simbolista tenha prosperado, inclusive pela minha tendência “objetivante” e pela concretude e plasticidade das imagens de meus poemas. Quanto às atividades de letrista, cessaram por falta de parceria musical, mas, na época dos festivais universitários da década de 1970, me atraíam bastante.
• Foi nessa década, aliás, que você participou da famosa antologia 26 poetas hoje, organizada e lançada por Heloisa Buarque de Hollanda em 1976. Como isso ocorreu?
A rigor, considero meio acidental minha entrada nessa coletânea: eu era colega e amigo de Heloisa, nessa época ainda professora de Letras. Creio que ela simpatizou comigo e se interessou em conhecer e divulgar minha produção, daí o convite. Mas não compartilho do ideário estético da “poesia marginal”, tão amplamente representada na antologia. Aliás, vejo com certo espanto o afã com que tantos poetas se empenham em integrar o elenco de antologias, como se isso fosse um passaporte para a imortalidade, a consagração de uma obra. Esse pensamento, a meu ver, é totalmente equivocado. O que consagrará alguém, se for o caso, é o juízo crítico advindo da decantação do tempo, e não o fato de a pessoa ter infiltrado em antologia um ou dois poemas ao lado de textos de figurões já canonizados, na inócua tentativa de chupar, por tabela, algo da notoriedade alheia. Sobretudo na nossa atualidade, quando os ânimos entre os grupos poéticos estão extremamente acirrados, o que prepondera é o sectarismo de incontáveis e grotescas autocoroações.
• Sua poesia mais recente abriu um novo leque na sua obra: o do poema narrativo, que, entre nós, foi cultivado com mestria por um poeta como Drummond em O caso do vestido, para só citar um exemplo. Por que esse interesse pela poesia narrativa? Seria um reflexo ou prolongamento do ficcionista que há em você?
Gosto de experimentar o maior número possível de formas, e de fato nunca havia tentado de modo mais conseqüente o poema narrativo. Todavia, meu impulso narrativo (seja na poesia ou na prosa) se adapta antes aos registros ditos “menores” (conto, novela), do que ao largo sopro épico ou romanesco. Me agrada explorar o detalhe, a peripécia breve, e não traçar painéis gigantescos que supostamente incluam todo o destino da humanidade.
• Por falar em ficção, sua estréia nessa área foi em 1975, com a novela Movimento. Parece-me que a sua prosa parte daquela máxima famosa de Mallarmé: “Tudo no mundo existe para acabar num livro”. Qual foi seu objetivo, ao escrever essa novela, que tem boas doses de realismo fantástico, além de um pouco de Borges e Kafka? Levar a máxima mallarmeana até as últimas conseqüências?
De algum modo, esse livro foi uma grande declaração de amor à literatura, e você observou muito bem esse aspecto da hipertrofia do literário, até aquele ponto máximo em que… Bom, não contemos o que ocorre, na otimista suposição de que alguém ainda possa se interessar em ler essa velha ficção que escrevi aos 21 anos, mas que ainda hoje não renego.
• Em Carta ao Seixas, conto publicado no belíssimo e injustiçado livro Machado de Assis — uma revisão (Editora In-Fólio, 1998), mais uma vez a literatura (no caso, a machadiana) é o tema central. O conto é quase uma justificativa para a teoria que você defende no ensaio Em torno da traição. Contudo, como bem argumenta Dalton Trevisan, ao que consta, Machado, quando era vivo, jamais teria negado a “culpabilidade” de Capitu, tão apregoada pelos críticos da época. A ambigüidade da qual você fala — e não se pode negar que ela existe no texto de Dom Casmurro — não poderia ser inconsciente? Ou seja: Machado, sem querer, “atirou no que viu e acertou no que não viu”?
Essa é uma grande missão do escritor: acertar sempre no que não vê. Para mirar apenas no visível, nem seria necessária a arte. Machado, vivo, não se pronunciou sobre “culpas” ou “virtudes” da personagem — é possível, mesmo, que, na época, houvesse uma pressuposição tácita da “culpa”. Mas, em oposição ao veemente argumento de Trevisan, poderíamos dizer que ele está falando do Machado “leitor” (mesmo que seja leitor de si mesmo), cuja opinião pode ser discutida e desmontada pelo Machado “autor”, que insere no texto muitas sutilezas, a ponto de, na condição de leitor, ele próprio não percebê-las…
• Fale mais especificamente sobre a gênese de Machado de Assis — uma revisão. Como nasceu esse livro e quais suas principais contribuições para a ensaística sobre o “Bruxo do Cosme Velho”?
Lamento, como você, que não se tenha dado atenção a esse trabalho, do qual fui organizador, ao lado de José Maurício Gomes de Almeida e de Ronaldes de Melo e Souza. O livro reúne esplêndidos ensaios inéditos de alguns dos nossos maiores machadianos — inclusive a transcrição de uma das últimas conferências proferidas por José Guilherme Merquior. A proposta foi rever Machado, percorrendo-lhe as várias dimensões da obra: o romance, o conto, a crônica, o teatro, a poesia, a crítica… Na segunda parte do volume, entram estudos de caráter mais específico. E o todo é emoldurado por magníficas imagens de Machado e do Rio de Janeiro de fins do século 19, começo do século 20.
• Quando nasceu seu interesse pela crítica literária? Antes, durante ou depois dos primeiros versos? Quais os críticos que mais o marcaram?
O interesse pela palavra em todos os seus desdobramentos — ficcionais, poéticos e ensaísticos — me acompanha desde muito cedo, e não saberia estabelecer escalas de anterioridade. Li com atenção e prazer nossos principais críticos — muito Álvaro Lins, Sérgio Milliet, Cavalcanti Proença, Eugênio Gomes, Franklin de Oliveira. Dentre os vivos, para não magoar ninguém com inevitáveis omissões, destacaria um único e grande nome, que, ao que consta, prefere manter-se longe de qualquer exposição: refiro-me a Fausto Cunha.
• Acredita que a crítica universitária que se faz, hoje, no Brasil, é melhor do que a que foi feita no passado, antes da criação das Faculdades de Letras?
Bons e maus críticos existem dentro e fora do circuito acadêmico. Acho inócua essa querela entre crítica universitária e não-universitária, como se não pudesse haver circulação entre esses espaços. O importante, a meu ver, é o bom senso na adequação da linguagem ao público a ser atingido. O discurso crítico deve ter em conta o compromisso da inteligibilidade, seja diante de um auditório altamente especializado, seja diante dos leitores de jornal.
• O que representa, para você, a titularidade da cadeira de Literatura Brasileira da UFRJ, antes ocupada por Tristão de Athayde e Afrânio Coutinho?
É muito honroso suceder a nomes dessa magnitude, com inegáveis contribuições para a história das idéias no Brasil. Alceu de Amoroso Lima foi dos mais importantes críticos do Modernismo, e Afrânio Coutinho teve papel pioneiro e de grande divulgador, entre nós, do “New Criticism”, além de ter implantado a Pós-Graduação em Literatura Brasileira da UFRJ. Tornei-me titular através de concurso público em 1992 e, com isso, aumentaram as responsabilidades e as solicitações: sou chamado com freqüência a integrar bancas de concurso, a emitir pareceres, a presidir eventos. Sempre que posso, aceito esses convites, porque julgo minha participação quase como um dever inerente ao cargo, para o bom funcionamento da estrutura universitária. Mas sem esquecer o fundamental: continuo, com grande prazer, dando aulas na graduação e na pós-graduação, e orientando teses.
• Na seção Aforismos, de Todos os ventos, você afirma que “herança não é apenas aquilo que recebemos, mas aquilo de que não conseguimos nos livrar”. Fale sobre a presença do poeta João Cabral de Melo Neto na história da poesia brasileira e, ao nível pessoal, na sua vida e na sua obra de crítico e de poeta. A poesia cabralina foi ou ainda é uma obsessão para você? Ainda pretende escrever sobre ela?
Estudei muito João Cabral exatamente para não fazer a poesia que ele faz. Sua poesia é tão cabal e cabralmente realizada, que acaba condenando os que a seguem a um papel de diluidores. O impacto do “grande nome” tende a ser muito mais paralisante do que fecundo. Fui amigo de Cabral, sobre sua obra escrevi mais de 400 páginas. Organizei, a pedido dele, a coletânea Melhores poemas (em sétima edição pela Global) e, recentemente, junto com Felipe Fortuna, preparei a coletânea Piedra fundamental (Editora Ayacucho), a maior antologia do poeta já publicada no exterior. Depois disso, não creio que ainda vá me concentrar detidamente em sua obra. Certa vez, em tom de brincadeira, disse-lhe que, como já o estudo desde 1977, iria pedir ao INSS uma “aposentadoria em Cabral” (risos).
• Não acha que essa obsessão possa ter atrapalhado a sua carreira poética? Hoje, sente-se livre para dedicar-se principalmente ao poeta Antonio Carlos Secchin?
Certa vez, disse ao poeta que nossa relação dava certo porque era um obsessivo falando de outro… (risos). Mas, no caso, a perspectiva era essencialmente a do crítico literário. Como observei, suponho que a possível influência dele em minha poesia, se for o caso, seja bem diminuta.
• Mas ao estudar tanto uma obra alheia você não teria deixado de se dedicar com mais intensidade à sua própria?
Difícil contabilizar o que, na doação a um outro, corresponderia a uma pilhagem de si mesmo. Não penso que minha poesia se tenha rarefeito pelo fato de eu haver me dedicado a Cabral ou a vários outros poetas e escritores. Quando o poema precisa surgir, ele irrompe, como escrevi em Biografia, “sem mão ou mãe que o sustente”. Essa força sorrateira e indomável, quando tem valor de verdade para o sujeito que a sofre, desconhece as boas maneiras e a conveniência. Hóspede invisível, só percebemos que visitou nosso corpo ou nossa casa quando já nos deixou: o vestígio de sua passagem é o poema. O poema é o rastro possível da poesia que se foi.
• Como era o seu convívio com João Cabral? Em 1990, você conseguiu “arrancar” do poeta alguns poemas inéditos, anteriores à publicação de Pedra do sono, estréia oficial de Cabral, que este ano estaria fazendo 60 anos de poesia. Essa primeiríssima produção poética foi lançada em livro pela Faculdade de Letras da UFRJ (Primeiros poemas, 1990). Fale sobre os bastidores dessa publicação e sobre a importância do livro.
Foi no período em que mais nos freqüentávamos. Em 1990, propus para ele (e a proposta foi aceita por unanimidade) a concessão do título de doutor “honoris causa” pela UFRJ. Isso o deixou felicíssimo. Pensei, então, em marcar a cerimônia com algo especial, e lhe indaguei se não me emprestaria, para publicação, um pequeno caderno manuscrito (com a letra de sua primeira esposa, dona Stella), contendo sua produção inicial, dos 16, 17 anos. Para minha surpresa, aquiesceu de imediato, e o resultado foram os Primeiros poemas, que saíram pela Faculdade de Letras da UFRJ em tiragem numerada e limitada de 500 exemplares. Pena que, na edição da Obra completa (Nova Aguilar, 1994), o livro tenha se descaracterizado como unidade autônoma, e que seus poemas tenham sido deslocados para um “Apêndice”.
• Ainda assim, seu livro João Cabral: a poesia do menos (Topbooks, 1999) foi considerado, pelo próprio poeta (em entrevista concedida a este jornalista), como o melhor estudo já escrito sobre a poética cabralina. Explique essa obra e o conceito da “poesia do menos”.
A hipótese, aqui simplificada, é a de que haveria uma analogia entre o espaço referencial rarefeito que habita a poesia de Cabral, com seus tópicos do deserto, da secura, da pedra, e a linguagem também rarefeita do poeta, com sua índole descarnada e anti-retórica. Tratei de acompanhar esse processo livro a livro do poeta, desde Pedra do sono, de 1942, até A escola das facas, de 1980.
• Você é muito conhecido, também, como bibliófilo. Nessa atividade, você é um dos maiores do país. Quando e como nasceu essa paixão? Quais são seus livros mais raros ou preferidos? Quantos volumes possui sua biblioteca?
Aos 17 anos, quando entrei para a Faculdade de Letras, creio que possuía uns 30 livrinhos (lia muitíssimo em bibliotecas). Hoje, devo ter cerca de 11 mil volumes, em diversas áreas das ciências humanas, e sobretudo na área literária. Basicamente, comecei a constituir, na década de 1970, uma boa biblioteca de trabalho, que se foi avolumando em decorrência de meu interesse por autores menores, esquecidos, marginalizados. Como tais autores não costumam ser reeditados, tive de buscá-los em primeiras edições, e daí cresceram meu interesse e conhecimento do livro enquanto objeto, e não apenas como conteúdo: a capa, a ortografia, o papel, as ilustrações também testemunham uma época, ao lado do teor propriamente literário da obra. Não saberia dizer qual minha peça mais rara, inclusive porque também disponho de fotos, documentos e manuscritos, muitas vezes objetos únicos.
• Essa paixão pela bibliofilia levou-o a lançar o Guia dos sebos das cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, o qual é, até hoje, o seu “best eller”. Como nasceu essa pequena jóia rara? Houve algum similar antes dele?
Esse guia nasceu do meu desejo de compartilhar a grande experiência que acumulei na matéria, numa espécie de serviço de utilidade pública. Eu já havia publicado duas versões mais modestas: uma para o Rio, outra para São Paulo. Mas, agora, o Guia… encontrou sua versão gráfica mais apropriada, com a capa dura e colorida. No conteúdo, também houve ganho, com a junção de Rio e São Paulo num único volume. Lamento não ter podido, ainda, estender a pesquisa a outras capitais. O Anexo do Guia lista apenas alguns sebos de umas poucas cidades, e não foi elaborado por mim. De todo modo, na versão atual já se esgotaram três edições, com mais de 5 mil exemplares vendidos. Algo espantoso para quem supunha que o interesse por livros velhos, antigos ou esgotados estava em declínio…
• Falando ainda de bibliofilia: sua experiência nessa área levou-o também a descobrir um dos livros mais raros da história da poesia brasileira: Espectros, de Cecília Meireles, que permaneceu no limbo por 80 anos. Na sua opinião, por que isso ocorreu? Como você avalia essa obra inicial?
Espectros estava desaparecido havia mais de 80 anos (não se encontrava nem na biblioteca pessoal de Cecília) e tive a felicidade de localizá-lo a tempo de integrá-lo à “edição do centenário”, que preparei em 2001 para a Editora Nova Fronteira. Como ninguém conhecia a obra, muita lenda corria sobre ela, inclusive a de que conteria textos de teor erótico. Não é verdade: o livro reúne bem-comportados (e medianos) sonetos de lavra neoparnasiana. Aí, talvez, resida o âmago da questão: é provável que Cecília desejasse ter sua pré-história (uma vez que ela considerava Viagem, de 1939, o início de sua “história poética”) associada não ao Parnasianismo, e sim ao Simbolismo. A poeta chegou a excluir Espectros da relação de suas “obras publicadas”. Mas, curiosamente, em 1930 ainda se referia com algum carinho a esse livro, conforme pude constatar em carta à escritora portuguesa Fernanda de Castro.
• Fale sobre a edição e o seu trabalho, na organização da Poesia completa de Cecília. Além de Espectros, essa edição resgatou algum outro livro ou poema relevante da autora?
Trabalhei quase dois anos na edição, e espero que o resultado tenha ficado à altura de Cecília. Foram corrigidos dezenas de erros, que se perpetuavam havia décadas. A bibliografia de Cecília foi sensivelmente ampliada, simplesmente porque tratei de pesquisar em fontes primárias, em vez de apenas repetir a listagem das edições anteriores. Publiquei ainda, pela primeira vez em livro, um belo poema de 1930, intitulado Saudação à menina de Portugal, e que nas bibliografias vigentes (porque ninguém o conhecia, senão de título) era arrolado como “conferência”.
• Como foi sua experiência na editoria da revista Poesia Sempre, da Fundação Biblioteca Nacional?
Por duas vezes fui editor de Poesia Sempre: quando a revista nasceu, na gestão de Affonso Romano de Sant’Anna, e no início da gestão de Eduardo Portella. Sei que a revista não teve e ainda não tem a repercussão que merece, mas, em meio a alguns dissabores, considero muito positivo o saldo do que pôde ser feito. Foi, possivelmente, a mais democrática publicação no gênero: os editores adjuntos representavam variadíssimas tendências poéticas, e todo o material era discutido e aprovado (ou não) através de voto. Os conselheiros editoriais, ensaístas e resenhistas eram todos profissionais da melhor qualidade. Para não falar de matérias memoráveis, como a entrevista de Ferreira Gullar (número 9) e os dossiês dedicados a Manuel Bandeira (número 8) e Cecília Meireles (12).
• Que análise você faria da poesia brasileira contemporânea, em termos de linhas de força?
A questão é complexa e, se me permite, prefiro remeter o leitor ao estudo Poesia e gênero literário, que integrará meu próximo livro, intitulado Escritos sobre poesia & alguma ficção, com previsão de lançamento para o ano que vem, pela EDUERJ. Nesse artigo, a partir da produção de poetas bastante diferentes, como Alexei Bueno e Carlito Azevedo, busco mapear os caminhos e descaminhos da produção contemporânea. O denominador comum da nova geração — o interesse pelas técnicas literárias e pela formação especializada — de um lado pode homogeneizar perigosamente uma parcela da poesia de hoje. Mas, por outro, só acredito na formação de alguma poderosa voz individual se ela possuir, em grau elevado, plena consciência de seu ofício. Não há mais lugar para a inocência.
“O menino se admira…”
a Bella Jozef
O menino se admira no retrato
e vê-se velho ao ver-se na moldura:
é que o tempo, com seu fio mais delgado,
no rosto em branco já bordou sua nervura.
E por mais que aquele outro não perdure,
quase sombra no relâmpago desse ato,
ele há de ver-se mais antigo no futuro,
vendo ver-se no menino do retrato.
É que o tempo, de tocaia em cada corpo,
abastece a manhã com voz serena,
que pouco a pouco se transmuda em voz de corvo,
na gula aguda de ficar sozinho em cena.
A moldura vazia denuncia o intervalo:
sobre o tempo, e nada ou ninguém para habitá-lo.
…
“Com todo o amor…”
A Waldemar Torres
“Com todo o amor de Amaro de Oliveira.
São Paulo, 2 de abril de 39.”
O autógrafo se espalha em folha inteira,
enredando o leitor, que se comove,
não na história narrada pelo texto,
mas na letra do amor, que agora move
a trama envelhecida de outro enredo,
convidando uma dama a que o prove.
Catharina, Tereza, Ignez, Amália?
Não se percebe o nome, está extinta
a pólvora escondida na palavra,
na escrita escura do que já fugiu.
Perdido entre os papéis de minha casa,
Amaro ama alguém no mês de abril.
(Poema extraído do livro “Todos os ventos”, Editora Nova Fronteira, RJ, 2002)