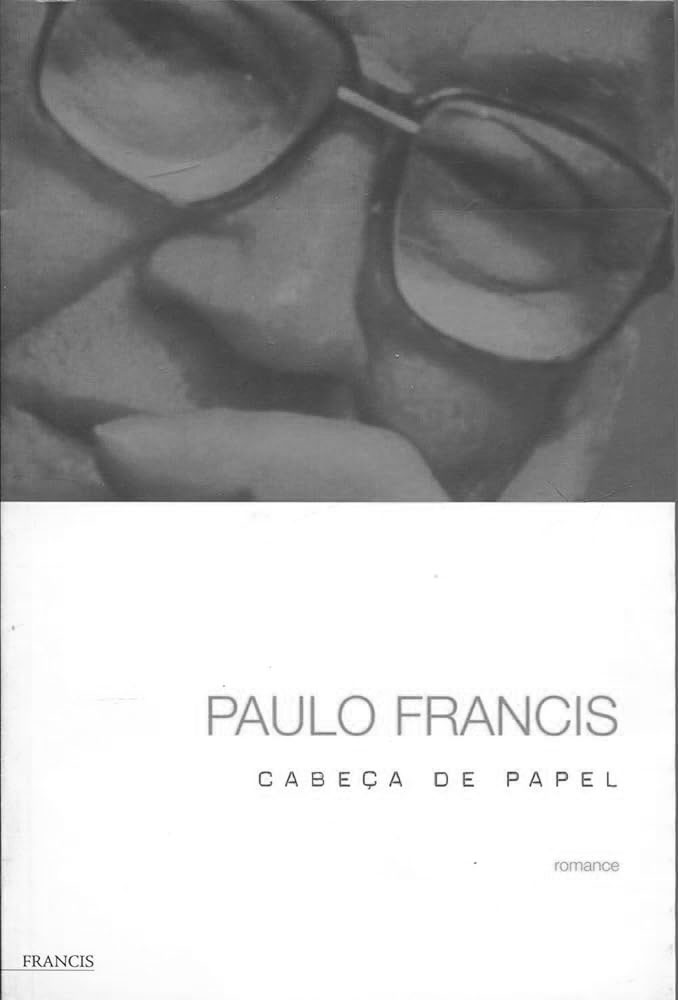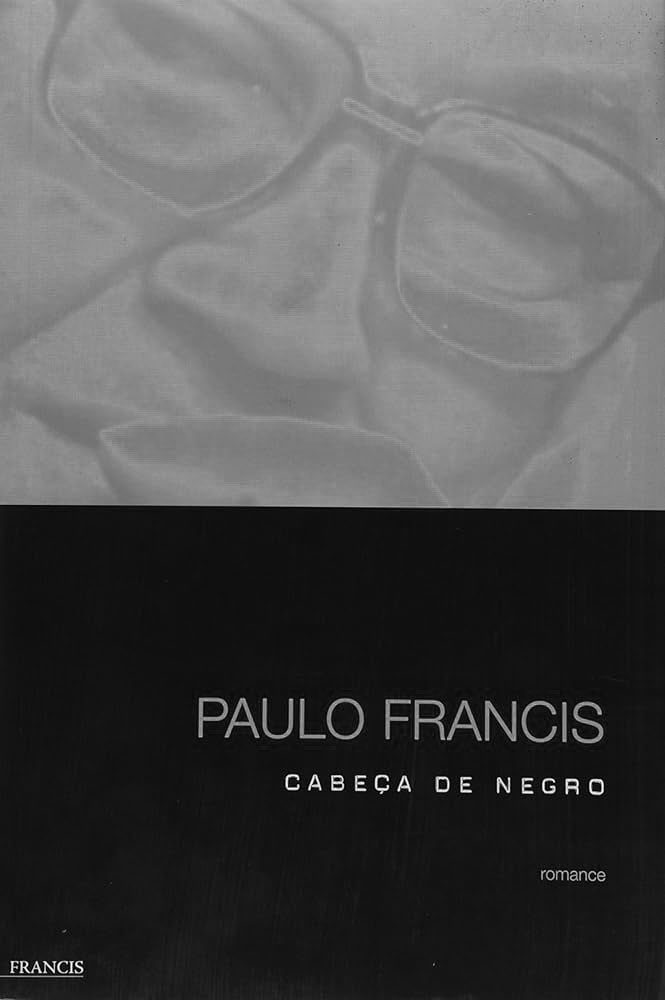Quando dei por mim, Paulo Francis estava morto.
Lembro-me muito bem: estava almoçando, assistindo ao telejornal do meio-dia, como de costume. Eis que, enquanto cortava o bife à milanesa, escuto a apresentadora dizer que Paulo Francis havia morrido, vítima de um ataque cardíaco, em Nova York. Não acreditei. Deixei o bife de lado. Não chorei, como era de se esperar, mas levantei o volume da televisão, na expectativa de conseguir enfim acreditar no que ouvia. Paulo Francis estava morto naquele fevereiro de 1997.
Não era possível porque eu o assistira no Manhattan Connection do domingo anterior. E rira à beça de uma de suas declarações. Dizia o Paulo Francis que quando fumava maconha (o que não fazia havia muito tempo) tinha ganas de escutar Wagner. Houve quem reclamasse do volume das minhas gargalhadas naquele fim de noite de domingo.
Minha admiração por Paulo Francis, porém, era antiga. Criança ainda, aos 12 anos, eu lia sua coluna Diário da Corte. Não entendia patavina, mas quando entendia, ria. Na escola, um pouco maior, eu levava recortes de jornais para a professora de português me explicar. E súbito me vi sendo repreendido pela experiente professora Olinda por estar usando frases sem verbo na redação. Segundo a professora com nome de cidade nordestina, não podia usar aquilo porque no vestibular seria considerado um erro.
Hoje, curiosamente, vejo-me com o fantasma de Francis às minhas costas. A título de insulto, várias pessoas vêm dizer que eu quero ser o Paulo Francis de Curitiba. Doce ilusão. Lembro-me até de um professor universitário aqui da Cidade Sorriso, que num arroubo altruísta me mandou um e-mail cheio de insultos que culminavam com a sábia observação de que eu queria ser Paulo Francis, mas não tinha cacife para tanto. Acertou em cheio.
O fato é que jamais almejei ser Paulo Francis. Eu ria das declarações daquele homem, mas aos poucos comecei a pensar o quão amarga devia ser a vida dele. Claro que, depois de sua morte, li dezenas de depoimentos de pessoas que atestavam que Paulo Francis era um homem feliz. Para mim, contudo, ficará sempre a imagem de um homem que compreendia o mundo, mas que não conseguia expor tamanha compreensão e que ao mesmo tempo não entendia como é que o resto da Humanidade podia ignorar coisas tão essenciais na vida, como ver uma boa montagem de Faustaff. Esta incapacidade de expor a compreensão do mundo aparece nos seus livros Cabeça de papel e Cabeça de negro, motivos deste texto.
A inteligência de Paulo Francis, claro, sempre me fascinou. Eu ficava admirado com a sem-cerimônia com que citava nomes para mim ainda misteriosos. E ficava pasmo com a capacidade de ter uma opinião certeira sobre tudo. Claro que Paulo Francis errava, errava muito. Dizem que às vezes inventava números e estatísticas só para ter algo que corroborasse sua opinião. Era, no entanto, divertido ler este jornalismo ficcional. Quem tiver boca de rir que ria.
Duas coisas me chamaram a atenção em Paulo Francis: a ojeriza por rock e a incapacidade de admirar Jorge Luis Borges. Eu era um adolescente que gostava de rock, claro. Quanto pior o rock (hoje acho que isso é um pleonasmo indiscutível), mais eu gostava. Paulo Francis, porém, era o responsável por ministrar neste espírito em formação que vos fala pílulas de bom gosto. Foi graças a ele (não escondo a fonte) que comecei a ouvir algumas óperas. As populares, somente. Foi graças a ele que atentei para a voz de Maria Callas. O jazz também me foi ensinado por Paulo Francis. Nomes como Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Cole Porter e Charlie Parker ouvi-os primeiro na dicção caricatural de Paulo Francis. E o rock foi, aos poucos, me sendo insuportável. A não ser, claro, para fins meramente nostálgicos, de um tempo em que não tinha maiores preocupações que dar um beijo na segunda menina da terceira fila à direita na sala de aula: Simone.
Não só era um adolescente que gostava de rock como era também um adolescente que gostava de rock em busca de informação. E nisso foi lá me deparar com um Borges. O primeiro livro que li do escritor argentino foi Ficções. Arrepiei-me. Perguntava aos outros. E pensava que tinha algo mesmo errado comigo. Eis que Paulo Francis me redime, não me ensinando, mas me explicando, somente, por que Borges não me descia. Simples: um escritor feito para os acadêmicos amarem. Sob medida para semiotas (mistura de semiólogos com idiotas).
É claro que discordávamos muito, eu no meu medíocre anonimato, ele lá nas alturas da Big Apple. Posso dizer, contudo, que parte da minha base intelectual provém de citações de Paulo Francis que eu quis conhecer a fundo.
Curiosamente, quando Paulo Francis morreu, eu dele não tinha lido nada. Nenhum romance, nenhuma coletânea de artigos. Alguns dias depois de sua morte, lá fui eu seguir o ritual de um bom necrófilo: na Biblioteca Pública emprestei uma edição em capa dura, do Círculo do Livro, das novelas de As filhas do segundo sexo. Até hoje me pergunto se o mesmo Paulo Francis que eu admirava era mesmo o autor daquele livro absolutamente primário. Das duas novelas nele contidas, li apenas a primeira. Uma besteira sem tamanho, uma crítica aos bons costumes burgueses, uma denúncia da hipocrisia contida no discurso sexista, etc., etc. Francis não faz senão reproduzir lugares-comuns, numa tentativa frustrada de ser um retratista de costume. Soou panfletário, tão-somente.
Insisto, porém. E depois de entregar o volume de As filhas do segundo sexo, emprestei a coletânea de artigos Paulo Francis nu e cru. Ali estava o bom e velho Francis, em seu estilo jocoso, que os idiotas de plantão (sempre estão de plantão os idiotas) insistem em levar a sério. Ri aos borbotões. Ao mesmo tempo em que me pesava a falta de Paulo Francis semanalmente, no jornal. Por sorte eu havia guardado o recorde de anos e anos de colunas (não adianta me pedirem porque na última mudança joguei tudo fora). A má impressão causada pelas novelas de As filhas do segundo sexo se dissipou. E eis que resolvi dar uma chance ao romancista Paulo Francis.
Li, então, seus romances que deveriam compor uma trilogia, Cabeça de papel e Cabeça de negro. Livros que releio agora, por ocasião de seu lançamento pela editora W11, dirigido por Wagner Carelli e pela viúva de Paulo Francis, a também jornalista Sonia Nolasco. Daqui do alto de um pinheiro araucária, tenho o privilégio de ver as pessoas se coçarem à menção do nome de Paulo Francis, ainda mais do Francis romancista. As pessoas que o odiaram em vida e depois de morto vêem no relançamento de seus romances uma oportunidade para achincalhá-lo e ressaltar suas deficiências; já os que o admiravam não perdem a oportunidade para elevar o nome do jornalista à condição de santo.
Ambos cometem um erro primário em literatura: deixam o autor invadir a obra. A personalidade de Paulo Francis e suas opiniões sobre rock ou Borges não invalidam, a priori, seus romances. As deficiências das duas Cabeças nada têm a ver com a dicção que lhe foi tão característica e imitada ad nauseam por comediantes dos mais diversos calibres. Esqueça, portanto, o Paulo Francis do Diário da Corte quando for comprar e ler seus romances agora reeditados.
Tanto Cabeça de papel quanto Cabeça de negro são notadamente obras de transição. O então trotskista Francis estava atentando para a falência do comunismo. Criou, pois, um personagem que foi comunista e agora se vê cooptado pelo sistema. Nada mais clichê para os dias de hoje. Fazia, no entanto, bastante barulho numa época (remota) em que os termos “direita” e “esquerda” ainda faziam algum sentido.
Em suas Cabeças Paulo Francis parece ter muito a dizer. E diz, mas de uma forma torrencial, verborrágica, que não chega a se definir como um romance de idéias. Há tantas referências numa frase de Paulo Francis que é necessário respirar muito fundo a cada vírgula. Já os ponto-e-vírgulas ali parecem estar para que você possa fazer uma consulta a esta ou aquela citação de Paulo Francis.
Nada que assuste o leitor, claro. Quem lia a coluna semanal de Francis estava acostumado a esta verdadeira catástrofe de referências culturais.
No romance, contudo, isso não funciona. Porque Paulo Hesse, o protagonista dos romances, é um homem que parece não saber reduzir sua erudição ao cotidiano. E basta que veja um cego atravessando a rua para soltar expressões e nomes e teorias da cultura ocidental.
Entende-se esta opção de Paulo Francis, claro. Dela gostar, contudo, fica complicado. O escritor, ao que parece, tinha muito o que falar, mas não soube diluir tamanho conhecimento e socou-os dentro da cabeça de seus personagens, que pensam todos como intelectuais cheios de notas de rodapé no bolso. É aquela compreensão toda de que falei sendo jogada no papel sem ser devidamente depurada.
Interessante isso, porque Paulo Francis ele mesmo era contra o academicismo e contra o jargão ininteligível das universidades. Contraditoriamente, Francis precisa do aval de cinco ou seis nomes de peso para escrever simplesmente que Ivo viu a uva.
Só mesmo um fenômeno paranormal, pois, pode justificar os inúmeros elogios dirigidos aos romances de Francis, seis anos depois de sua morte. O próprio escritor havia decretado os romances como enterrados, como um grande fracasso em sua carreira. Paulo Francis queria escrever pelo mais nobre dos motivos: existir. Seus Cabeças, contudo, não cumprem este papel. À época do lançamento, por sinal, um dos poucos que ousaram dizer a verdade ao contundente (este adjetivo parece se ter grudado à pele de Paulo Francis) jornalista foi Wilson Martins. Ele e Francis brigaram por causa das críticas negativas aos livros, mas depois, mais maduro, Francis acatou as observações definitivas de Wilson Martins às suas tentativas de ser um literato. Os elogios de agora, pois, podem ser entendidos como uma sincera e equivocada homenagem. Creio que Francis se sentiria muito mais confortável com os apontamentos sinceros de falhas estruturais graves contidas em seus romances e de um estilo apressado demais do que com elogios feitos à beira do caixão, a título de flor que enfeita uma cova que mais mereceria o silêncio inteligente.
Longe de mim achar que Paulo Francis merece algum tipo de desprezo por conta destes livros. A literatura foi um acidente em sua carreira. Melhor é pegar o volume de Waaal, uma compilação de opiniões curtas organizado por Daniel Piza.
E se deliciar com um Francis muito mais à vontade com o efêmero que há de torná-lo duradouro.