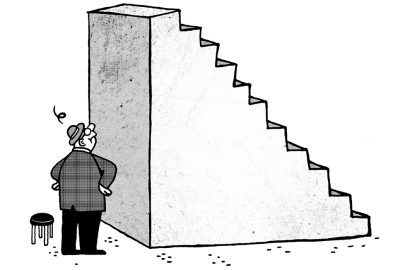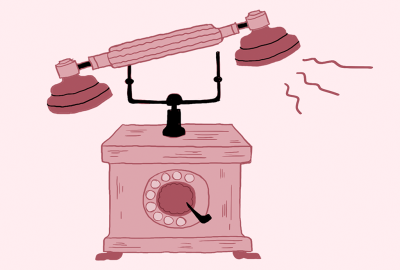Como a maior parte das pessoas da minha idade, conheci J. D. Salinger depois de saber da historinha do assassinato de John Lennon. Para quem ainda não sabe, o ex-Beatle foi morto por um fã alucinado que afirmou ter cometido o crime depois de ler O apanhador no campo de centeio. Nunca fui fã de John Lennon e acho Imagine de uma pieguice insuportável. Mas como o aniversário da morte de John Lennon coincide com o meu aniversário, obviamente que tive, na adolescência, certo interesse pela celebridade e seu fim trágico.
Imagine: estou com catorze anos, pegando um ônibus e indo para a Biblioteca Pública do Paraná. Procuro no fichário e vou correndo para a estante atrás do O apanhador no campo de centeio. Empresto o livro e o devolvo uma semana mais tarde, depois de uma leitura rápida e absolutamente desinteressante. Na época, eu procurava no romance de Salinger algum tipo de violência que justificasse o assassinato de Lennon. Ou então uma frase de efeito que motivasse o fã já fora de si. Não encontrei senão a vida de um tal de Holden Caulfield, que me pareceu somente mais um adolescente revoltadinho.
Deixei o Salinger de lado, tendo para mim que se tratava de uma enorme fraude. Durante anos o assassinato de Lennon e a menção ao Apanhador nada mais foram para mim do que golpes publicitários para vender música e livro. Até que uma frase, uma só frase, me pegou de surpresa. Não que houvesse nada de fantástico na frase. O que havia — e isso é importante — era respeito pelo interlocutor e uma boa dose de tolerância motivada por anos de leituras, muitas vezes equivocadas. Foi no Espaço Cultural Unibanco, em São Paulo, que um amigo me perguntou sobre Salinger. E eu:
— Não gosto dele. Li só O apanhador e, quer saber?, achei uma bela porcaria.
— O apanhador não é mesmo o melhor livro dele — disse o amigo.
— Me pareceu um livro adolescente. Aquele menino revoltadinho…
— Salinger é um dos escritores mais perfeitos que existem. Tecnicamente.
Resolvi dar uma chance ao escritor novamente. No aeroporto mesmo comprei Carpinteiros, levantem bem alto a cumeeira e Seymour: uma apresentação (Companhia das Letras) e comecei a ler tendo em mente a sugestão de estar com um escritor tecnicamente perfeito na mão. As duas novelas me deram exatamente a idéia desta perfeição técnica, ainda que em tradução. Nada de incongruências, lugares-comuns, palavras fora do lugar, ecos, cacófatos. Por outro lado, fiquei com a impressão — permanente — de estar diante de um escritor na defensiva, armado até os dentes para não falhar e que, por isso mesmo, não arrisca.
Depois de ler Carpinteiros…, procurei, sem sucesso, por Nove histórias e Franny & Zooey. Até a Editora do Autor lançar uma caixinha com os três principais volumes de Salinger, tratei de reler O apanhador… e o Carpinteiros…, atrás de uma centelha de vida. O que achei foi, novamente, técnica literária. O que não é de todo ruim, diga-se de passagem. Quem me dera os livros medíocres que sou obrigado a ler fossem, ao menos, tecnicamente admiráveis.
Durante este tempo, digo, até a leitura de Nove histórias e Franny & Zooey, conversei com vários leitores de Salinger e encontrei sempre a mesma queixa. As pessoas não viam sentido em se glorificar um escritor que dava tão pouco a seus leitores. A partir disso, desenvolvi uma teoria, simples mas eficaz: em sua maioria, os leitores, de clássicos ou de best sellers, procuram lições edificantes nos livros. Pode ser uma frase, uma passagem memorável ou até mesmo uma liçãozinha de moral básica. Mas o livro tem que dar às pessoas uma recompensa intelectual imediata.
E não há nada de errado nisso, a rigor.
Salinger não dá recompensas àqueles que não tenham paciência de procurar, frase após frase, a tal perfeição de que me falou um amigo há longos anos. O próprio Caulfield de O apanhador nada faz durante o romance senão viver uma aventura absolutamente banal pelas ruas de Nova York. Expulso do internato onde estuda, por não se adequar aos métodos tradicionais de ensino, ele vaga pela cidade por alguns dias, até que volta para casa, para a bronca dos pais pela falha na educação. Neste entretempo, briga com um colega de quarto, leva um soco de um porteiro, encontra algumas meninas e outras pessoas sem grande relevância.
Mas é justamente em meio a esta banalidade que J. D. Salinger acaba por compor um personagem de extrema sensibilidade, oprimido por uma vida que pede dele muito pouco. Ele não é um adolescente qualquer, possuído por aquele sentimento hormonal de incompatibilidade; por outra, é alguém capaz de dar muito mais ao mundo do que o mundo pede dele. Exatamente como o romance em que está inserido, Caulfield pede que leiamos com atenção e tolerância poética sua dissertação sobre os faraós numa prova de História; pede que nos atenhamos em suas considerações sobre a prostituta e sobre as freiras que encontra num bar; pede que não leiamos desatentos seus diálogos por vezes confusos com a irmã e que jamais desdenhemos a lembrança que tem do irmão. Isso porque — é preciso repetir — Caulfield é alguém capaz de dar muito mais ao mundo do que o mundo (e os leitores) pede dele.
Interessante como Salinger constrói sua narrativa centrada em uma linguagem muito próxima do coloquial, mas que jamais descamba para a vulgaridade. Uma das coisas mais notáveis em Salinger é a descrição dos personagens outros envolvidos na história. Caulfield se atém a detalhes curiosos, que não delimitam o personagem fisicamente, mas intelectualmente, sempre. Se ele diz que tal pessoa é ruiva é só porque isso é tudo o que há para se dizer, intelectualmente, do personagem. Vale reparar no modo como ele caracteriza as meninas.
Acho, contudo, que o melhor mesmo de O apanhador no campo de centeio é sua defesa apaixonada da educação liberal. E isso está ali, nas primeiras páginas já, quando Holden Caufield, expulso e se despedindo dos poucos que lhe são queridos, vai até o quarto do professor de história e ele lhe dá um pito por ser tão desleixado numa prova sobre os egípcios. Salinger reproduz de forma irônica os trechos que o professor acha mais ignóbeis. E o leitor, se estiver em sintonia fina com as doutrinas do ensino tradicional, também há de concordar com o professor e desde já taxar Caufield de ignorante ou como aquele tradicional aluno motivo de chacotas da turma, porque sempre tira nota abaixo da média exigida.
O leitor com um mínimo de imaginação, contudo, há de concordar: Holden Caufield mostra, por suas respostas, que apreendeu tudo o que tinha para apreender sobre os egípcios. E com uma poética que se aproxima da linguagem das crianças (ver, sobre isso, José Paulo Paes). Simplesmente o assunto não lhe diz mais respeito e ele não precisa saber o nome das principais dinastias egípcias. Não lhe fará falta. Com a noção que mostra em suas respostas é capaz de viver feliz e, caso venha a se interessar realmente pelo povo das pirâmides depois de cair do camelo, haverá de estudar na maturidade.
O apanhador no campo de centeio não é um livro assassino. Nem é um livro para loucos. Lê-lo é descobrir o quanto vivemos numa sociedade que se esqueceu de valorizar as mentes brilhantes que por aqui aportam mas que, em determinado momento, se entediam com o conhecimento pasteurizado que lhes é imposto. E é um livro sobre como passar por este calvário — sem ser auto-ajuda, claro.
(Vale a pena reparar como, no parágrafo anterior, eu não fiz senão ser um leitor típico e procurar uma lição edificante no livro.)
Já o contista Salinger é pouco conhecido do público que, geralmente, não vai além de O apanhador no campo de centeio. Os contos de Nove histórias se pautam pela extrema habilidade do narrador em construir tipos absolutamente banais. Apesar da vida medíocre que levam, Salinger dá a eles uma condição humana que os torna quase que super-heróis. Neste livro é possível entrar em contato com o que há de mais exultante no ser humano: a falibilidade. Ao construir personagens que, em não sendo perdedores natos tampouco são vencedores, Salinger parece querer redimir a humanidade da obrigação de sobressair-se, coisa que, diga-se de passagem, é para poucos.
O destaque do livro é A fase azul de Daumier-Smith, que conta a história de um pintor/desenhista absolutamente imerso na alma de artista, mas que jamais obteve um sucesso sequer. É um mitômano de grande talento, incapaz, porém, de transpor para o mundo real sua visão, digamos, cubista do mundo. Para sobreviver, ele consegue se transformar num professor de arte por correspondência. E, por algum tempo, consegue se realizar neste trabalho, apesar de todo o gênio criador que seguramente possui. Julgá-lo à luz dos valores vigentes é considerá-lo um perdedor absoluto, um loser que só não é bukowskiano porque não se entrega a bebedeiras e orgias e palavrões de toda sorte; julgá-lo, porém, à luz da complacência sábia é percebê-lo não menos do que inteligente e vencedor para aquilo que escolheu viver. Que jamais venha a ser um Picasso não impede que não tenha ovacionada também sua fase azul.
Parece ser impossível falar de Salinger sem falar de budismo e astrologia (não confundir, por favor, com horóscopo de jornal), assuntos que permeiam toda a obra do escritor, de forma absolutamente velada, claro. Eis a diferença entre um escritor de verdade e um esotérico de meia-tigela: o primeiro sabe compor sua obra seguindo parâmetros ilógicos de modo a não parecer detentor do Grande Conhecimento, o Portador da Verdade — ou qualquer besteira destas. Isso fica claro em Franny & Zooey, um romance de idéias praticamente inacessível para quem procura em Salinger o estopim do tiro em John Lennon.
O livro contra a história da família Glass, composta por irmãos superdotados todos e que carrega em sua história o estigma do suicídio de Seymour, o mais talentoso dentre os irmãos. A aspereza dos diálogos entre Zooey e a sua mãe esconde um discurso de resignação extrema e de curiosidade intelectual não menor. A busca espiritual da família é bastante atribulada e marcada por um contraste só a muito custo superável entre Ocidente e Oriente. Ao final do livro, a família não alcança nenhum horizonte esotérico fácil. Não atinge nenhuma catedral de Santiago de Compostela ou coisa que o valha. Pelo contrário, submerge ainda em mais dúvidas — todas com a mancha do suicídio de um dos irmãos, Seymour. Para o leitor, é uma delícia se afogar no caminho sem destino dos irmãos Franny & Zooey.
Eu nem ia tocar no assunto, mas não resisto. Muitos insistem em comparar Salinger e Dalton Trevisan. É uma besteira. E a comparação é feita somente porque os dois se recusam a falar com a imprensa e a se deixar fotografar. Mais besteira ainda. São apenas duas prosas que mostram um domínio incrível do idioma, que em Dalton se manifesta pelas elipses constantes. No mais, são tão semelhantes quanto Bukowski e Proust.