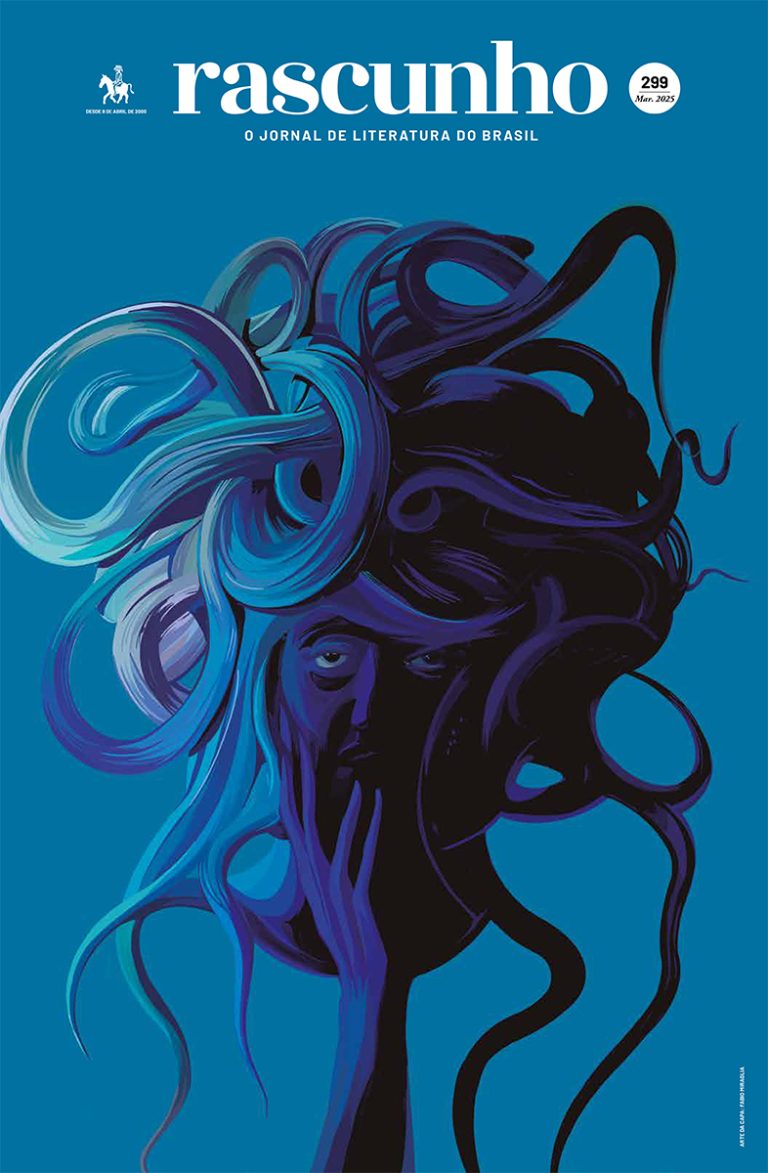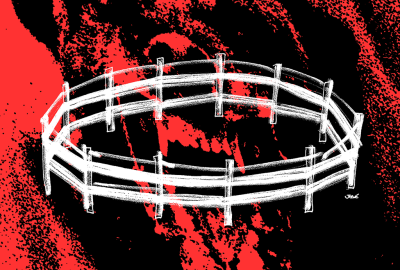Fiquei quase transtornado quando soube que o restaurante Kyoto iria fechar no sábado.
A cidade parecia se aprofundar nas traições que vinha a me fazer, ultimamente, e creio que não esperava ver o velho Kyoto entre as casas fechadas, as livrarias substituídas por lojas e lanchonetes vulgares, os cinemas reduzidos à promoção de repolho & quiabo, nos supermercados ocupando as antigas salas.
Estou mais vulnerável, com a idade. Uma mudança, uma alteração da paisagem, uma falta que busca o meu olhar como uma falha nos dentes da frente, torna-se uma ofensa dirigida a mim, feita para me ferir (ou, no mínimo, desconcertar)… enquanto novas caras são indiferentes aos novos lugares que espalham a grosseria da cidade atual como marinheiros espalhavam a peste branca (ou negra?) nas cidades portuárias do extremo Oriente.
O Kyoto. O Kyoto não devia fechar as suas falsas portas — ou portais — do Oriente menos oriental que você possa imaginar, com a decoração de cactos incongruentes e paisagens de Veneza ao lado de algumas estampas japonesas de duvidoso gosto artístico, mostrando montanhas nevadas e macacos pacientes.
Tenho que ter calma — o Kyoto vai fechar — e fica muito difícil explicar que o Kyoto é (ou era) de propriedade de um minhoto muito quieto (o poeta Tomás Seixas foi quem amalgamou as palavras, sem nada ter a ver — exceto com a sua admiração das coisas japonesas), que mantinha um retrato de Pierre Loti muito parecido com ele, justo acima do caixa com todas as nossas dívidas nunca cobradas pelo próprio Kyoto, que era nipônico só na disposição de esperar pelo pagamento dos “penduras” cuja altura agora talvez tenha determinado o fim do Kyoto, a remoção do retrato de Loti (presente de Seixas) que tomava banho com as gueixas da verdadeira Kyoto, após viver muito bem entre as turcas proibidas de Constantinopla. Tudo conversa de Seixas, que já morreu.
Não sei o que seria do poeta — que passava as tardes no Kyoto e era amigo íntimo do cônsul Tadashi (de uma Casa Nobre de Tóquio) e do cônsul de Portugal, o bom Fernandes, aparentado com espanhóis, muito infiel a Salazar e a Franco, agora se pode dizer essas coisas, quando até o Kyoto vai deixar de existir como o poeta não existe mais, com as suas íntimas amizades com cônsules que foram embora e talvez também não mais existam nas suas vilas e cidades de origem, parecendo que suas passagens foram projetadas — como um filme — nos fundos de um sobrado do qual se viajava de um fundo de quintal do Recife para o Japão de Tadashi, a China do Mandarim de Eça de Queirós, a Turquia de Loti, saudoso dos terraços sobre o Bósforo…
Tadashi sabia fazer mágicas e recebia cartas do cineasta Kurosawa. Quando Trono manchado de sangue foi exibido na cidade — florestas cinzentas de árvores e flechas avançando sobre o sono —, ele mostrou o maço de cartas para nós todos, no Kyoto onde não era tratado como um cônsul, a seu pedido. A bela caligrafia do cineasta de Os sete samurais cobria páginas e mais páginas de delicado papel arroz, e todos contemplamos aquelas notícias transmitidas como se fossem poemas de garças subindo para a face maquilada da lua, num puteiro de Osaka. Tomás achava que as putas de Osaka condescendiam no sexo anal muito mais que as outras das belas e desconhecidas cidades japonesas, sem ter nenhuma boa razão para concluir que era assim em Osaka ou em Tóquio ou até mesmo na Kyoto que então merecia todo o respeito dos freqüentadores de um restaurante tão longe da cidade-templo como as garças incapazes de fazer piscar a lua vaga do futuro.
Estou extremamente nervoso com todas essas recordações. Tenho receio de contar sobre o cônsul Fernandes, porque aqui ele se envolveu com uma mulher casada — nos anos em que isso significava tiros — e a presenteou com uma pistola, numa caixa verde de bombons. Meses depois, Fernandes explicou que quisera se matar, após ouvir uma audição de piano do russo Sergei Dorenski (de passagem por nossa cidade), era um domingo e, nos domingos, pianos são mais tristes, e ele não seguiu para o Kyoto, não buscou os amigos, resolveu se matar. Prossigo com o resto dessa história quando me acalmar.
Alguma coisa precisa ser feita para evitar que o restaurante feche como se fecha uma igreja na cara de um mendigo. O mendigo-conde que andou pelo Recife. Há tanta coisa estranha que se deu no Kyoto, o português fabricava sorvete — uma marca que vendia, em carrocinhas, sem se ligar em nada a um restaurante de má fama nas altas esferas do ruído social e da mentira —, o mundo rola como uma bola e assistimos ao Brasil ser campeão num receptor de TV invasor que o negro Barbosa trouxe para dentro do Kyoto, nunca mais levou e ficou lá, a reproduzir imagens em preto-e-branco nas quais ninguém prestava atenção. Por que prestar atenção numa imagem incerta e barulhenta quando Fernandes estava contando sobre o silêncio do seu presente para a mulher que veio recebê-lo escondida, o robe sobre a camisola de quem fingira dormir para depois descer escadas e não permitir que a mão do cônsul fosse explorar entre as suas pernas — Fernandes era do Alentejo, não tinha papas na língua, nem medo de Salazar e do marido da mulher que ele comeu ali mesmo —, depois quis se suicidar e foi o seu único momento de fraqueza, além daquele de estuprar a mulher (a palavra é essa), depois lhe dar a pistola para que o matasse e saísse da chuva que caía em aguaceiro. Ela não o matou, está claro. Lançou o presente na direção do violador, que se desviou (era uma pistola pesada), arrumou a camisola rasgada, compôs o robe sobre o corpo ofendido pelo amor violento, o amor que quisera ter o seu corpo de qualquer jeito, ao preço da morte até. O cônsul Fernandes parecia tremer ao contar a história (uma única vez).
Depois de escapar do tiro que não veio, voltara para esperar a segunda-feira, o escândalo depois da denúncia à polícia, que a mulher certamente não deixaria de fazer. Mas nada aconteceu. Seu emprego foi mantido pelo acordo da sorte ou do azar que o manteve impune do ato brutal que cometera, e pouco depois pediria para ser transferido da cidade onde cometera a maior infâmia da sua carreira, pior até do que quando ajudara a abortar a revolta do “Santa Maria”, o navio de espanhóis e portugueses revoltosos do capitão Galvão e sua tripulação de amotinados contra o governo português.
Agora essa história já não poderá ser lembrada nas rodas desfeitas do restaurante que fecha no sábado, o Kyoto do minhoto quieto, que a ouviu depois de fechar as portas da noite — porque não se pode ouvir a história de uma mulher insultada dessa maneira, de portas abertas.
Agora, também não se poderá ouvir história alguma, dentro das portas fechadas para sempre, na cidade que já não tem histórias de pistolas e bombons mofados para contar a ninguém, a hora nenhuma. Nada disso é invenção da noite, é exagero, literatura, imaginações de um homem solteiro que freqüentou, durante muito tempo, um restaurante que jamais esteve na moda (o Kyoto na “moda”? A idéia é engraçada).
Eu próprio vi a caixa que Fernandes mantinha sobre a mesa da sua sala de cônsul, tão envergonhado que dizem ter falecido pouco depois de pedir reforma e retornar à sua São Gonçalo do Amarante.
Tadashi Nakamura. O cônsul que gostava dos negrinhos, o ser imensamente delicado que declamava para os meninos da periferia os haikais de poetas nublados, Li Tai-Po e uma cambada de bêbados (“Li Tai-Po só é imortal quando bebe”) quebrando a superfície de um lago gelado só com o rumor das suas vozes festejando os balões acesos na chuva, os pirilampos presos sob um lenço de seda… Não se diz “haikais”, ele ensinava. “Haikai” já está no plural. No singular, é “haiku” (ou o contrário). Não importa. Tadashi também já deixou os negrinhos para trás, no seu grande carro preto, de almofadas de couro odorosas a poder de graxa por sobre as nódoas do sexo. O gentil Tadashi, apaixonado por Akira, recusado por ele, refugiado em si mesmo e nas suas aventuras tristes de Londres e do Recife, um homem muito limpo e asseado nas roupas de linho que usava e destoavam dos ambientes um tanto promíscuos que preferia. Fora ator na juventude, mantivera a teatralidade. Cantava como uma mulher e cozinhava para quem estivesse amando — mesmo que o amado não soubesse apreciar os seus quitutes de mais de mil anos (alguns foram simplificados e postos no cardápio especial do Kyoto).
Os seus parentes de Hiroshima estavam todos mortos. Ele estava fora da cidade e escapara de morrer com eles. A família era grande. Ele falava pausadamente. Pintava anêmonas minúsculas em lenços de papel para o uso diário, e seu perfume era o do banho quente, recendendo um pouco a sândalo de mistura com biscoitos quentes.
Aprovou que o restaurante passasse a se chamar Kyoto, e era a maior autoridade imperial do Japão quando o restaurante passou de “Lisboa à Noite” para o nome da cidade-templo. Fez um pequeno discurso. Desejou que o Kyoto jamais perdesse as raízes portuguesas e, principalmente, nunca permitisse desempoeirar a fileira de cactos que aludiam ao Nordeste, ao México…
O Kyoto era as Nações Unidas das nossas tristezas e pequenas alegrias de província.
Nele, comemoramos quando Tomás Seixas teve um poema aceito na revista “Colóquio-Letras”, da Fundação Gulbenkian, e recebeu um cheque de 19 dólares pela colaboração literária. Aliás, 19,57 para ser preciso, através de um cheque da divisão internacional do Citibank, de número 3073, o que era equivalente, na época, a mil e oitocentos escudos. Pasmo no Kyoto. A quantia era pequena, até mesmo irrisória, mas um poema pago em dinheiro era uma espécie de escárnio, de contrafação ditada por generosidade perigosa para a lógica do capitalismo — segundo o delegado de polícia que freqüentava a nossa roda, entrava em choque com os comunistas (quase todos daquela roda inofensiva) e gostava de Castro Alves, mas não dos poemas modernos, de forma abstrusa e espírito dissoluto. O delegado era um homem generoso, emprestava dinheiro sem cobrar juros, era apaixonado pela filha (Tomás dizia que a relação beirava o incesto, na imaginação da autoridade), era um bom homem triste quando a noite acabava e ele pagava a conta, fazia questão de pagar, pois se considerava inferior, no fundo, como policial obrigado a fazer rondas e prender gente que chorava quando era solta.