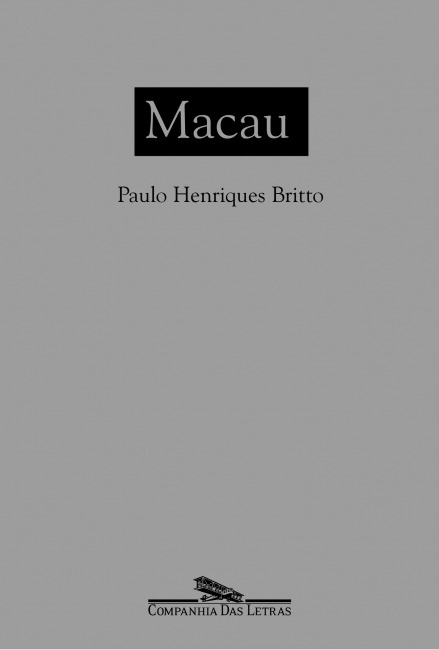Da noite à palavra
O começo de um itinerário não precisa ser necessariamente um lugar, mas pode ser um estado ou um percurso recuperado pela memória. Sua fonte se dá naquela Noite das Palavras, espaço nascente, onde a linguagem nomeia o mundo e lhe confere sentido. Região inaugural da qual emanam todas as coisas e na qual as palavras e as coisas se entrelaçam em uma sagração secreta, seja recuperando os nomes dos objetos da infância, seja girando em torno da própria imagem refletida em uma cisterna negra que emula a escuridão da noite. Esse é o ambiente fundante do Mundo mudo de Donizete Galvão, e a abertura para a sua mitologia da terra que assume vários aspectos e se investe de máscaras diversas para dramatizar um mesmo rito: Macbeth, Medusa, Safo de Mytilene, Severo Sarduy, Klhébnikov. Eis os nomes da noite dos seres, personagens do horizonte literário, que vem à tona para instaurar um domínio onde as coisas, sob o toque transfigurador da palavra, possam ser vistas como elas jamais pensaram ser nelas mesmas, para falar com Rilke.
Nesta etapa da nossa história poética, como se lê no poema Cisão, o corpo é de ferro, vedado ao insuflar do espírito que o ronda sem conseguir habitá-lo. E a superação dessa condição só se dá mediante o mergulho na natureza última das coisas, em seu reino pré-categorial, onde podemos reeducar nossos próprios sentidos e redefinir nossa razão de ser. É de e em um contínuo desabrochar de possibilidades entre a linguagem e o mundo, entre a ação de nomear e a de rememorar, entre os homens e as coisas, que Donizete Galvão encontra sua trincheira de luz e faz a colheita de seus poemas.
Porque se para ele sem as coisas, sem essa fauna de objetos circundantes, o homem perderia sua própria gravitação e não teria prumo no qual se apoiar (Os homens e as coisas), ou seja, para falar com os fenomenólogos, os homens, sem a experiência concreta, seriam o vazio estéril de uma consciência hipostasiada em si mesma, o devir Coisa que se instala em seus poemas tem um duplo sentido: se por um lado busca uma maneira de humanizar o homem por vias do que há nele de adormecido em algo aparentemente alheio, despertando-o para o seu poder originário e reeducando-o para uma espécie radical de alteridade, é também, por outro e em complementaridade, uma crítica da coisificação, esta sim positiva, do que resta de humanidade nos traços rarefeitos e esgarçados de nossos rostos, pendurados às peias como animais de bicos estridentes e patas amarradas, como lemos em Objetos.
É claro que essa viagem não se realiza só na dimensão transcendente referida e não se reduz a um jogo pueril da relação imediata entre palavras e objetos. Também não se conflagra como uma ruminação de repastos provincianos ou como uma mineração nostálgica de um mundo perdido, nas origens do caminho de pedras das velhas Minas Gerais. Estamos às voltas com uma mitologia cotidiana bastante particular, que se abre para os acontecimentos tentando pronunciar a palavra essencial de sua nomeação primitiva. Penso na Lichtung des Seins de Heidegger, a iluminação do ser, que confere aos entes a sua inteligibilidade própria, como ocorre com a emanação das cores entre o céu de verão e o sol, em Amarelo e azul, confrontadas com a barraca de frutas aberta à rua. Ou diante de um tipo de comunhão bem menos evidente, aquela entre duas pessoas, onde o amor não acaba, porque ele nunca acaba, mas se condensa e se transforma, como em Solitude.
Nesse percurso, há alguns atalhos e espaços ocludentes, que evidenciam a dificuldade de sua consecução. Partindo de uma estrada tão ampla, Donizete Galvão por vezes escorrega por acreditar demasiado em sua própria verve poética e capacidade de dar forma à matéria poética que elegeu. Resultam disso alguns laivos de prosaísmo não resolvido, como no poema A betoneira, prosaísmo que parece não atender ao espectro temático a que se propõe, ou, em outros casos, um mau aproveitamento de temas que poderiam ser muito melhor trabalhados dentro de sua poética, como ocorre com o poema que trata do roubo de santos: Santos nas grades. Por outras vezes, a condensação não atinge a força necessária para se sustentar, como no caso de Vôo cego e Baraço. Alguns podem achar que em termos temáticos esse novo livro não amplia o domínio de sua poesia em relação aos anteriores. Mas não é isso que está em questão. O que está em jogo aqui é o aprofundamento de uma voz dentro da tradição da lírica brasileira e o fortalecimento de uma dicção afeita à música de câmara.
Esses acidentes, porém, são uma exceção na obra do autor de Azul navalha e A carne e o tempo. Podemos dizer que sua poesia hesita entre a nomeação sub-reptícia das coisas, sem estardalhaço ou euforia, pois crê que assim pode restituí-las à sua própria dignidade, e o perder-se da consciência na matéria muda do mundo, refratária à linguagem e à verbalização. São o seu arco e a sua lira: a educação pelo silêncio da pedra e por meio de uma filosofia da mineração. É uma poesia telúrica, nesse sentido, e seu maior valor consiste no exercício de dar voz às coisas e àquelas dimensões da vida que não a têm, em um desdobramento poético cuja finalidade última é a superação do seu próprio sentido e de sua razão de ser por um mundo que enfim emergisse e se libertasse por intermédio da palavra que lhe franqueia a própria vida, passando a existir à sua revelia. Atividade circular e autotélica, como a essência de toda boa poesia, a viagem por dentro de Minas só se dá pela supressão e rabisco de sua existência concreta. A terra só há na memória. Aqui a geografia é outra. Feita de um reencontro do mundo com o verbo que o revela.

Epifanias triviais
Macau é um império sem território. Domínio do espaço limitado da consciência dentro de si mesma, sem conseguir escapar pelas frestas que lhe despertam para o mundo que lhe nega. Macau é o espaço de uma conversa, ao redor de uma mesa de fórmica roída, em torno de questões sem solução: uma viagem sem ponto de chegada ou de partida, sem bússola, rota, mapa ou timão. O que há é apenas uma partitura, Macau, composta por Paulo Henriques Britto. Macau pode ser um mundo, no sentido de mundus, no cristianismo primitivo: não a esfera terrestre ou a extensão do cosmos e tudo quanto nele gravita, mas aquilo que algumas pessoas compõem em um dado momento, uma conversa, um encontro, ou até mesmo o monólogo de um homem parado que ruminasse a própria língua. Mundo também como a cena mundana (de novo Heidegger), da conversa trivial recuperada pela investidura poética, aquele espaço que se descortina para a minha experiência concreta, como indivíduo único, singular, irrepetível, imerso no das Man, na Gente, no universo indiferenciado e amorfo da massa humana, mas capaz de descobrir e resgatar do trivial o que cairia em esquecimento, se não fosse a poesia. Há até hoje xícaras de Pompéia, mas os lábios que as tocaram, nenhum. Só transmutando o metal em ouro, a fala em cristal, podemos mantê-la viva e perpetuá-la: não é outra a sensação que temos ao ler o pequeno conjunto de poemas de Três epifanias triviais, os melhores do livro.
Por isso é preciso continuar falando e falando sem cessar, como reza o De vulgari eloquentia, porque só o excesso de linguagem pode tapar os desvãos de nosso ser, cheio de buracos e de nadas. Só isso pode ser a nossa redenção: manter a fala sempre viva, como se fosse a cada frase inaugurada. Tendo isso em vista, o livro de Paulo Henriques Britto consegue dar uma torção à linguagem poética muito interessante, usando com elegância o humor, a ironia e o deboche, e se valendo de temas sempre tomados ao cotidiano, e assim despindo o epos da vida humana e desviando nossos olhos da realidade grandíloqua para a corrente. Não ser nada nem ninguém em nenhum lugar: essa parece ser a utopia de uma Macau reinventada. Como se lê nas belas Três tercinas, pensar a vida como um fio de água que passa e passa sem cessar, nós à sua flor, à deriva, guiados por um destino que ainda não se traçou.
Se não há nada mais profundo que a pele, como queria Paul Valéry, essa é basicamente a poética que depreendemos do novo livro do autor de Liturgia da matéria e Mínima lírica. Trocar o profundo pelo raso. Quando todos estiverem concentrados, mudar de assunto. Poética que ele executa muito bem dentro de um horizonte formal onde as estruturas fixas como o soneto, a tercina e a quadra são usadas com elasticidade e propriedade, com bastante segurança rítmica e métrica. A ressalva que se faz é quando essa proposta vira fórmula, o que abre precedentes para a repetição de cacoetes e não para a habitação de um continente poético fértil. Dizer que o profundo é kitsch e que o raso é cool, não pega como piada, e não funciona como poema. Aqui estamos naquele território perigoso, onde boa parte da poesia contemporânea sucumbe, que diz respeito à valorização de aspectos culturais próprios ao modo de ser brasileiro que colidem com uma perspectiva mais rigorosa e vertical quanto à reflexão e à prática artísticas. Além disso, em um mundo idiotizado pela superfluidade de mercadorias entre mercadorias, tal postura pode enfraquecer a posição do poeta e da poesia como agentes de crítica e de ruptura, marca e origem sine qua non de nossa mais que querida modernidade. Ou seja, pode tirá-los da condição de promotores ativos daquilo que o mesmo Paul Valéry chama de refusé, de recusa, transformando essa atividade em uma reprodução mais ou menos bem executada de um mundo esvaziado de qualquer horizonte transcendente. Que a transcendência não está alhures ou num hipotético Além, situado fora do mundo, muitos já nos ensinaram e Macau agora nos ensina, ao tecer a sua tapeçaria de falas cotidianas e nela desenhar os seus lampejos. Não é, porém, com a atitude derrotista de um nec plus ultra, com a sensação de que não há nada mais além de nossa rotina rasa e ordinária, que iremos nos engajar na causa vital da poesia e do mundo, que espera também participar do itinerário errático dessa aventura.