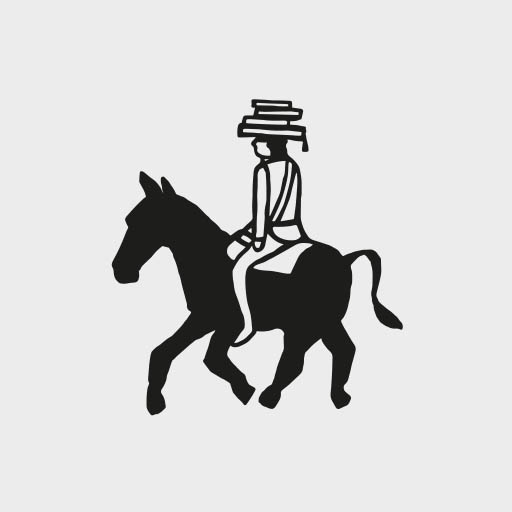Um dos homens acotovelou-se no balcão ensebado do bar e riu constrangido, mostrando cinco dentes de ouro, e se chamava Arnaldo. Estava bêbado e furioso. O outro — de bigode e sobrancelhas espessas — ouvia, ouvia, ouvia: quieto, também bêbado. De vez em quando levantava as mãos, impaciente, meneando a cabeça.
— Essas mulheres! — Arnaldo arrastava as palavras. — Estou velho mesmo! Mas a vaca não pode me destratar assim. Não sou um traste. Quando a gente se casa, é uma pombinha. Depois se transforma numa arara, trepando pelas paredes, falando, falando, a ponto de acabar com a vida de um homem. Ainda não nasceu quem possa entender as mulheres. Elas me tiram do sério. Por diversas vezes, acredite, já tive vontade de estourar os miolos. Ainda bem que pensei nos filhos e nos netinhos…
Tomou outra golada da branquinha. Perguntou:
— Tua mulher também é uma gralha?
— É, sim. Eu me tornei surdo. Já não sou capaz de ouvi-la. Quanto mais braba fica, falando, rosnando, gritando e me ameaçando, mais surdo fico.
— Ah, que beleza. Vou experimentar essa receita. Funciona?
— É claro. Mas tenho outras. E melhores. Tiro e queda.
— Então, diga. Quem sabe, consigo dominar aquela besta quadrada, e ter um pouco de sossego.
— Eu peido.
— O quê?!
— Eu peido. As mulheres não gostam de peido.
Arnaldo se abriu numa risada gostosa. Os cinco dentes de ouro brilharam. O amigo continuou:
— Mas tem arte no negócio.
— Arte?
— Quando a companheira está braba igual cascavel, o negócio é peidar e peidar. O dia todo. A noite toda. A qualquer momento. Bem na frente dela. E também na frente das visitas. Na frente do sogro, da sogra, da nora, do genro. Pra isso, você tem que descobrir que tipo de comida que produz peido. Comigo, já sei. Rabada, batata cozida, quiabo, agrião, couve e um litro de cachaça. Tudo junto, num prato só. Ah, ia-me esquecendo: pimenta-malagueta. Quando não consigo este prato, dou uma de alemão: repolho roxo azedo, vinagre, ovo cozido, peixe e pepino em conserva com rodelas de cebola. Mas eu prefiro rabada. A mulher esbraveja. Eu peido. Fica furiosa. Eu peido. Joga minhas roupas na rua. Eu peido. É um festival. Peido sentado, em pé, de cócoras, acordado e dormindo.
— Minha nossa! Eu não sabia. Tão fácil…. — ria-se abertamente Arnaldo, deixando os dentes de ouro à mostra.
— A gente dá duro, não deixa faltar nada, trabalha como camelo, e elas ficam azarando. Sou contra bater em mulher. Nada de agressividade. Nunca relei as mãos nela. Muitos são bestas, nada sabem. Batem na mulher, nas crianças e na sogra. Acabam na delegacia, e presos. Eu peido. De todos os jeitos. Nunca vi alguém preso porque peidou.
— Acabo de ter uma idéia, amigo. Vou botar pra quebrar. O que tem no bar, hoje, que possa resolver minha vida? Eu também quero peidar. Bem na cara da filha da puta….
— Olha, Arnaldo, ali você tem peixe em conserva, pepino em conserva, torresmo, cebolinha a vinagrete, ovo cozido, pastéis frios engordurados e pimenta-malagueta. E a cachaça que já está tomando. Você chega em casa peidando até nas paredes.
— Ela me paga! É o que vou comer. Agora mesmo.
Com um gesto abrupto, chamou o dono do bar. E pediu tudo. E comeu tudo. E bebeu todas.
— É isso aí, Arnaldo. Não dê moleza, senão ela trepa nos seus costados.
Depois se despediram. O chão parecia fugir dos pés. Arnaldo suava frio. Mas sentia-se satisfeito. Havia um barulhinho esquisito no estômago descendo para a barriga. “Ela me paga! O dia da vingança chegou, velha rabugenta!” Estava leve, o mundo flutuava como um pássaro na noite.
Quando abriu a porta, divisou a mulher sentada na cozinha — quieta, esfregando as mãos de raiva, tinha um olhar fulminante. Ele, então, soltou o primeiro peido. Foi um sucesso. Deu uma volta pela sala. Mais outro. Bem barulhento. E fino, como se fosse um assobio. No quarto, mais outro. E mais outro. Bem alto e grosso. Voltou à cozinha e, na frente da mulher enfurecida, soltou o peido cheio de ira. A mulher cerrou os lábios de raiva. A casa fedia. Ele não parou. O gato estava dormindo no sofá. Ele foi até lá e soltou um bem alto. O gato saiu correndo, assustado. A mulher começou a gritar. Ele peidou mais. O fedor tomou conta da casa. Satisfeito, foi ao banheiro, tomou banho com roupa e tudo. Em seguida, deitou-se: molhado, a boca aberta, escancarada, os dentes de ouro brilhando no escuro. E dormiu.
2
Rosalinda já fora linda, quando nova. Os anos passaram. Pressentia, agora, a vida fugindo, esvaindo-se. Os sonhos se desfizeram. A realidade era amarga. O espelho — o seu pior inimigo. Evitava-o. Até mesmo para se pentear. Estava velha. Profundas rugas no rosto. No olhar, o desespero. Todas as noites, ouvia a mulher da foice rondando a casa. Entrara, sem saber, nos caminhos dos ratos, uma rosca sem fim, e não sabia aonde iria parar. Sem perceber, a vida se escoara.
E o marido? Um bolha. Não compreendia por que se apaixonara por um inútil. Amor cego. Tantos homens no mundo e ela se deixara engabelar por Arnaldo. Não tinha ambição alguma. Contentava-se com pouco. Trabalhava para o sustento. E só. As contas do armazém aumentavam.
— Fui tola! Que ódio…
Muitas amigas casaram-se bem e fizeram fortunas. Estavam ricas, vestiam-se como rainhas, esbanjavam dinheiro, viajavam aos Estados Unidos, ao Caribe, à Europa. Emília — a mais quieta e feia, nem sabia vestir-se para o baile do colégio — casara-se com um sujeito inexpressivo, que ria feito besta, o rosto cheio de sardas, e se tornara deputado, dono de meio mundo. Glorinha fumava maconha, praticava amor livre, vivia com os drogados, e se tornara esposa do vice-governador. Jacira mudara-se para o Canadá, casara-se, tornara-se mãe de família. E tantas outras. Mas ela, Rosalinda, que causava inveja, por duas vezes escolhida a mais bela do colégio, que disputara o concurso miss Quadrínculo e ficara em segundo lugar, e só não ganhara porque houve roubalheira, metera-se no caminho dos ratos, uma rosca sem fim. Arnaldo era imprestável. Nunca passara fome. Mas estavam encalhados numa vida horrível, jamais sairiam do lugar. E os dias passavam velozes. O que fazer? De bom no marido, somente os dentes de ouro. A boca rica. Nada mais. Quando sorria, os dentes brilhavam.
— Os anéis se fecham! — exclamou, o estômago cheio de nódoas. — O que será de mim? Que vida miserável. Mas ele me paga!
Quando Arnaldo chegou do bar e começou a peidar por todos os cantos, ela se transformou numa estátua de pedra. A casa fedeu. Um cheiro insuportável. A pirraça do marido a deixou possuída. Havia em seu olhar a presença da morte. Estava resolvida a matá-lo. Colocaria um fim nas suas angústias. Guardara, atrás da porta, a machadinha afiada, que era usada para matar e destrinchar porcos. Quando ele estivesse em sono profundo, daria o ultimato.
3
Quase meia-noite. Um silêncio cobria as ruas e o casario. Rosalinda empunhou a machadinha e se dirigiu, rígida, uma saliva pegajosa nos lábios frios, ao quarto onde o marido dormia. Quando levantou a machadinha para o golpe fatal, notou algo estranho no rosto de Arnaldo. Estava pálido, inerte, e não se percebia nenhuma respiração. Incrédula, abaixou a machadinha, depositou-a no canto, e achegou-se à cama. O desgraçado estava morto. Com um espelhinho de bolso do próprio Arnaldo, testou se ainda respirava. Nada. Apertou o pulso, nada. Suspendeu a mão e a soltou. Caiu como uma abacate podre. O filho de uma mãe sequer lhe dera o prazer de espatifar os miolos!
— Pelo menos, me poupou trabalho — confortou-se, levando a machadinha de volta, com certo brilho de satisfação estampado no rosto enrugado.
O relógio antigo, herança de sua avó, badalou meia-noite. Ao mesmo tempo, uma idéia brilhou em sua mente. Não enterraria o miserável com os dentes de ouro. Foi ao quartinho dos fundos, onde o finado guardava os instrumentos de trabalho, pegou um alicate de cortar arames e pedras, retornou ao quarto. Abriu a boca de Arnaldo com a mão esquerda e com a direita arrancou um por um os dentes de ouro. O sangue tingiu a boca e o pescoço do finado. Em seguida, ela atochou a boca ensangüentada com algodão, limpando as manchas nas faces e no pescoço. Depois foi à pia da cozinha, lavou os dentes cuidadosamente com álcool. Embrulhou-os, após seca-los, num saquinho de pano, e sentou-se à mesa, pacientemente.
Esperou o dia amanhecer. De vez em quando, espiava o morto. Estava sempre do mesmo jeito. O dia amanheceu. Ouviu galos cantando, passarinhos chilreando, a rua tomando vida. Ela tomou um banho quente, demorado, vestiu a melhor roupa, e saiu em direção da joalheria. “Algum lucro ainda terei” — pensava, caminhando rapidamente. “É o mínimo que o canalha pode me compensar.” As ruas já estavam movimentadas. Carros e ônibus emitiam sons abafados. De manhã, o calor já chegava aos 30 graus. O asfalto já dava sinais de aquecimento.
Na joalheria, a primeira cliente. Após discutir valores, fechou o negócio e saiu apressada. “Com dinheiro na bolsa, qualquer pessoa sente-se mais confiante” — sorriu, embora a noite insone transparecesse nas grossas rugas. Havia outra preocupação. Caminhava a passos largos. Chegara o momento de avisar os vizinhos, os parentes, e preparar o enterro.
— Um pouco de lágrimas não faz mal a ninguém.
Entrou sorrateiramente. Não queria que nenhuma vizinha visse. Rápida, como uma ladra. Abriu a porta. E deparou com o Arnaldo tropeçando pelas cadeiras e mesas com a boca ensangüentada, como um fantasma de outro mundo, gemendo, horrorizado, ao mesmo tempo que dizia aos brados:
— Oh, meu Deus!, onde estão meus dentes?! O aconteceu comigo?