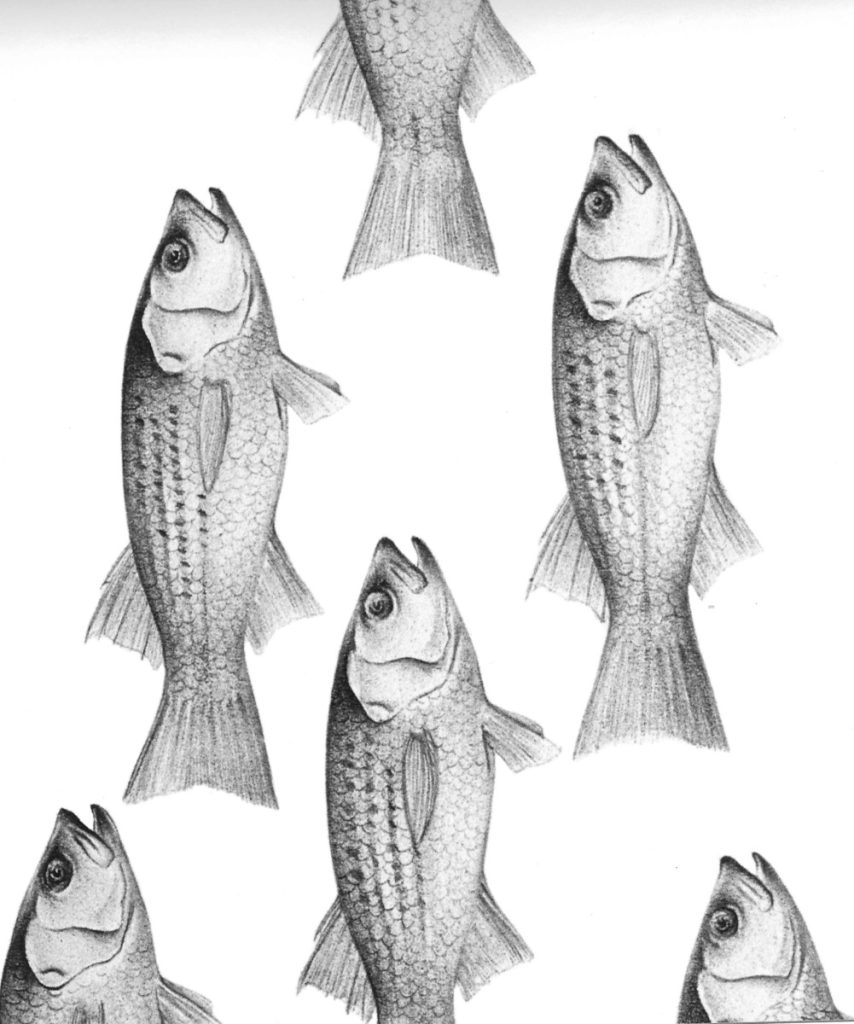Primeiro Mergulho
Quem não conhecia o Peixe solúvel, por não ler fluentemente em francês (míope e surdo, como eu, para o idioma que durante tanto tempo norteou a cultura literária brasileira), agora também pode mergulhar nessa prosa porosa, refratária à água e à mágoa dos que odeiam a literatura mais hermética, menos palatável. Já faz tempo que Sérgio Pachá traduziu a breve e diabólica novela de Breton, junto com outros textos do líder do grupo surrealista, e o resultado pode ser conferido na coletânea Manifestos do surrealismo, da Nau Editora. Da poesia de Breton eu não gosto. Hoje, vistos e ouvidos fora do contexto e do combate vanguardistas, seus versos soam, ao menos para mim, enfadonhos e pernósticos. Já a prosa desse leitor arguto de Hegel e Freud, seja ela ensaística ou ficcional, ainda que lida fora do contexto francês do entre-guerras, ainda que lida em tradução (ou talvez por isso mesmo), é simplesmente maravilhosa, em todos os sentidos que este adjetivo amealhou ao longo do século 20.
O Peixe solúvel foi publicado em 1924, fazendo par com o Manifesto do surrealismo — o primeiro, visto que em 1930 viria à luz o segundo. Os protagonistas da narrativa de Breton são inúmeros, e dos mais estranhos; os cenários nos quais entram e dos quais saem também são incontáveis, sendo os mais recorrentes os castelos, os cassinos, as estalagens, os campanários, os conventos, os teatros, os parques e principalmente os subúrbios de Paris. Pelo que pude perceber, apesar do largo uso da técnica da escrita automática, marca registrada da poesia surrealista, essa pequena novela apresenta certa linearidade narrativa e várias tramas bastante claras, fáceis de serem apontadas apesar do aparente hermetismo. Isso me surpreendeu: há método nessa loucura. De lapiseira em punho, como bom investigador, passei a assinalar no livro cada palavra, cada sentença, cada pormenor que pudesse ser usado contra ele mesmo, ou a seu favor.
São no total 32 capítulos sem título, que podem ser lidos ainda como 32 ficções autônomas, ou minicontos — prova disso é que a leitura pode ser salteada, iniciando-se e terminando em qualquer capítulo, ou conto, sem prejuízo algum. São eles: o fantasma do castelo e a mulher fatal (cap. 1), o desabafo do contador (cap. 2), a enorme vespa (cap. 3), o bosque (cap. 4), o camafeu Leão e a sra. de Rosen (cap. 5), o imenso jornal desdobrado (cap. 6), os cavaleiros vestidos com escafandro (cap. 7), o bebedouro da montanha de Santa Genoveva (cap. 8), o narrador furioso (cap. 9), a caixa cheia de amido (cap. 10), a praça do Porta-Manto (cap. 11), o jornalista e o professor T (cap. 12), a jovem comedora de giz (cap. 13), o barco rumo ao alto-mar (cap. 14), as crianças na escola (cap. 15), a chuva (cap. 16), os dois homens num parque (cap. 17), o lampião de rua (cap. 18), a fonte (cap. 19), o espelho que reflete o futuro (cap. 20), os atores e músicos cômicos (cap. 21), a mulher alada e seu manto mágico (cap. 22), o belo capitão (cap. 23), o casal na relva da praça pública (cap. 24), o andarilho (cap. 25), a mulher dos seios de arminho, o Encontro e a Porta Albina (cap. 26), o peru e a cartola (cap. 27), o piloto do carro voador (cap. 28), o caçador e o dedo alado (cap. 29), o calorífero de olhos azuis, o dançarino, a porta e o teto (cap. 30), Satanás e o teatro do absurdo (cap. 31), e, por fim, os encontros do narrador com Solange (cap. 32).
Mergulhar nas profundezas do Peixe solúvel, diferente do que os ingênuos costumam pensar quando empregam mal a palavra surrealismo, é partir em busca de fenômenos hoje muito conhecidos, que mesmo assim não deixam de surpreender. A experiência do acaso objetivo, por exemplo. Não há artista de talento que não saiba do que se trata. Por volta do final da Segunda Guerra Mundial, passado o auge do movimento nascido do dadaísmo, essa experiência banalizou-se, perdeu a força e o charme. Os beatnicks tentaram reavivá-la — e conseguiram, ao menos durante certo tempo —, mas nos dias atuais ela não quer dizer quase nada. Porém como parece viva, fulgurante e maravilhosa quando reencontrada nas profundezas dos textos de Breton! O mesmo pode ser dito do sonho e dos demais conceitos e manifestações a ele agregados. O mesmo pode ser dito do humor negro, da loucura e da subversão das normas de linguagem. O mesmo pode ser dito da cidade enquanto paisagem a ser percorrida e escrita a ser decifrada.
O acaso objetivo
A prática do acaso objetivo data do início dos anos 20, porém sua teorização ganhou corpo somente a partir do final dessa década e no início da próxima, em obras como Nadja, Os vasos comunicantes, Limites non frontières du surrealisme e O amor louco. O acaso objetivo — expressão que, em Hegel, denomina “o lugar geométrico das coincidências” — é o conjunto das premonições, dos encontros insólitos e das coincidências atordoantes que se manifestam, de tempos em tempos, na vida humana. Sua ação se dá sempre nas grandes metrópoles, lugares saturados de pessoas e de relações imprevistas. Mas para que se dê a iluminação faz-se necessário, por parte do sujeito, o comportamento lírico, a disponibilidade, a expectativa descompromissada. O acaso é chamado de objetivo porque, nessas petrificantes coincidências, tudo se passa como se a subjetividade da pessoa envolvida se projetasse num objeto qualquer. Das técnicas utilizadas pelos surrealistas para o cultivo do acaso objetivo destacavam-se a errância, “seja ela levada a efeito em lugares férteis em achados, como o Mercado das Pulgas, seja em bairros particularmente perturbadores por sua subjetividade: as passagens parisienses e os parques, para Aragon, a Ile de la Cité, para Breton, ou ainda as zonas ultra-sensíveis da Terra, que são os trópicos descobertos por Breton em 1935 e depois em 1945” (O surrealismo, de Jacqueline Chénieux-Gendron, p. 101).
Percorrer a cidade em busca dos segredos que esta costuma revelar a quem a explora apaixonadamente era uma das mais sérias propostas do surrealismo, em torno de 1924. Como não podia deixar de ser, essa também é uma das principais diretrizes filosóficas apresentadas no Peixe solúvel. “Cada passo que dou é um sonho”, confessa, em determinado momento, o narrador da novela. São passos medidos que conduzem o passante para dentro do inconsciente, cujas ruas podem ser, de repente, a superfície de uma página de jornal:
A terra, sob meus pés, não é mais do que um imenso jornal desdobrado. Às vezes passa uma fotografia, é uma curiosidade qualquer, e sobe das flores uniformemente o cheiro, o cheiro bom da tinta de imprensa. Quando eu era jovem ouvi dizer que o cheiro de pão fresco era insuportável aos doentes, mas repito que as flores cheiram a tinta de imprensa. As próprias árvores são apenas notícias de menor importância, mais ou menos interessantes: um incendiário aqui, um descarrilamento acolá. Quanto aos animais, há muito que eles renunciaram ao comércio dos homens; as mulheres não mantêm com estes últimos senão relações episódicas, semelhantes a essas vitrines de lojas de departamentos, de manhã cedo, quando o vitrinista-chefe vem à rua para julgar do efeito das ondas de fitas, dos fechos ecler, das piscadelas dos manequins aliciantes.
(…) Na parte de baixo da quarta página o jornal apresenta uma dobra curiosa, que tentarei caracterizar da seguinte maneira: dir-se-ia que ela serviu para cobrir um objeto metálico, conforme sugere uma mancha de ferrugem que poderia ser uma floresta, e esse objeto metálico seria uma arma de forma desconhecida, aparentada com a aurora e com uma cama em estilo império. O redator responsável pela seção de modas, nas imediações da floresta supracitada, fala uma linguagem muito obscura, na qual, entretanto, creio poder discernir que os déshabillés das jovens noivas deverão ser comprados na Companhia das Perdizes, a nova loja de departamentos que acaba de ser inaugurada no bairro da Geladeira.
(…) Há também uma notável vista do céu, exatamente como esses timbres usados em papel de carta comercial, representando uma fábrica com todas as chaminés deitando fumaça. (…) Nas atas das sessões da câmara, simples como um relatório de química, as pessoas revelaram-se mais do que parciais: eis por que os movimentos de asas não foram consignados. Que importa? Os passos que me conduziram a esta praia desolada hão de arrastar-me, outra vez, ainda mais longe, mais desesperadamente longe! Basta-me fechar os olhos, se eu não quiser conceder minha atenção maquinal e, por conseguinte, tão desfavorável, ao Grande Despertar do Universo. (p. 78)
Nesse vaivém onírico feito de presságios, coincidências e encontros inesperados, até os lampiões de rua cultivam a prática exploratória planificada pelo acaso:
A multidão ia e vinha pelo bulevar, sem reconhecer o que quer que fosse. De tempos em tempos ela eliminava as pontes, ou então tomava os grandes lugares geométricos de pérola por testemunha. Palmilhava uma extensão que poderia ser calculada com base na da frescura ao redor das fontes, ou então na da área coberta pelo manto da juventude, esse manto atravessado de lado a lado pela espada do sonho. O lampião de rua evitava ser colhido na multidão. Na altura da Porta Saint-Denis uma canção morta ainda aturdia uma criança e dois agentes da força pública: o Matin encantado pelas moitas de seus linotipos, o Café du Globe ocupado por lanceiros, quando não está ocupado por artistas de music-hall levados pelo desdém.
A paisagem de Paris, rouxinol do mundo, variava de minuto a minuto e, entre as ceras de seus cabeleireiros, lançava para o céu suas belas árvores primaveris, semelhantes à inclinação da alma sobre o horizonte.
Foi então que o lampião de rua, que havia tomado a rua Etienne Marcel, achou bom parar e eu, que passava por acaso como uma pasta de desenhos sob o meu próprio braço, surpreendi uma parte do monólogo, enquanto ele usava de estratagemas para não fazer parar o ônibus, seduzido por suas mãos verdes, semelhantes a uma rede de mosquitos em meu encalço.
O lampião de rua: “Sônia e Michele farão bem em desconfiar do ramo de febre que guarda as portas de Paris; há indícios de que antes desta noite não se rachará mais a lenha do amor. De sorte que… de sorte que eu não as vejo brancas nesta primavera noturna, por pouco que o cavalo delas se assuste. Seria melhor que evitassem a curiosidade dos lábios, se elas sucumbem à tentação das pontes lançadas sobre os olhares. (Vou seguir-lhes os passos.)”
(…) O lampião de rua transportara-se a um bulevar de Dieppe, onde se esforçava por iluminar um homem de uns quarenta anos ocupado em procurar algo na areia. Esse objeto perdido eu teria podido mostrar-lhe, pois se tratava de um cravo. Mas ele ia e vinha sem conseguir achá-lo e não pude deixar de sorrir quando ele julgou que a coisa já durara bastante e, tomando uma decisão selvagem, enveredou pelo caminho da esquerda, que prolonga a aléia do cassino. Michele, então, abriu o fecho de sua pulseira e colocou-a no peitoril da janela, que ela fechou em seguida, após considerar a marca encantadora deixada pela pulseira em sua pele. Essa mulher loura pareceu-me ter um coração bastante frio e por muito tempo persegui-a como a uma gazela. Sônia, de um acaju esplêndido, há muito que se despira e seu corpo se modelava na luz do mais maravilhoso lugar de prazer que já vi. (pág. 99)
Também as fontes têm por hábito perambular pelos quatro cantos da metrópole:
Entra a fonte. A fonte percorreu a cidade em busca de um pouco de sombra. Não encontrou o de que precisava, e queixa-se contando o que viu: viu o sol das lâmpadas, mais comovedor que o outro, é bem verdade; cantou uma ou duas melodias no terraço de um café e atiraram-lhe pesadas flores amarelas e brancas; cobriu a face com os próprios cabelos, mas o perfume delas era muito forte. O que mais lhe apetece agora é dormir, será realmente necessário que ela se deite ao relento, entre seus colares de insetos e pulseiras de vidro? (p. 103)
O desejo erótico e o impacto do amor provocados por uma mulher com a qual se esbarra na rua é uma das mais fascinantes surpresas que o acaso reserva aos deambuladores. É assim, fortuitamente, que Solange desperta o interesse do narrador (no futuro, a história irá se repetir com Nadja, a famosa vagabunda-vidente-esquizofrênica do relato homônimo de Breton). Ao vê-la pela primeira vez entrando num prédio do bulevar das Capuchinhas, seus olhos enchem-se de lágrimas:
Era discreta como o crime e seu vestido preto, com pequenas pregas, parecia, em razão da brisa, ora brilhante, ora fosco. (…) Seja como for, é sempre agradável seguirmos essas mulheres que sabemos, com toda certeza, que não virão a nós e também que não irão a parte alguma. No momento em que esta de que estamos falando entrou, para nada, numa casa da rua de Hanôver, a ela me dirigi com vivacidade e, antes que ela pudesse reconhecer-me, aprisionei na minha mão a sua, crispada sobre um revólver tão pequeno que a abertura do cano ficava aquém da primeira falange do indicador dobrado. A desconhecida exibiu, então, um olhar de súplica e triunfo e, em seguida, com os olhos fechados, deu-me o braço silenciosamente. (p. 136)