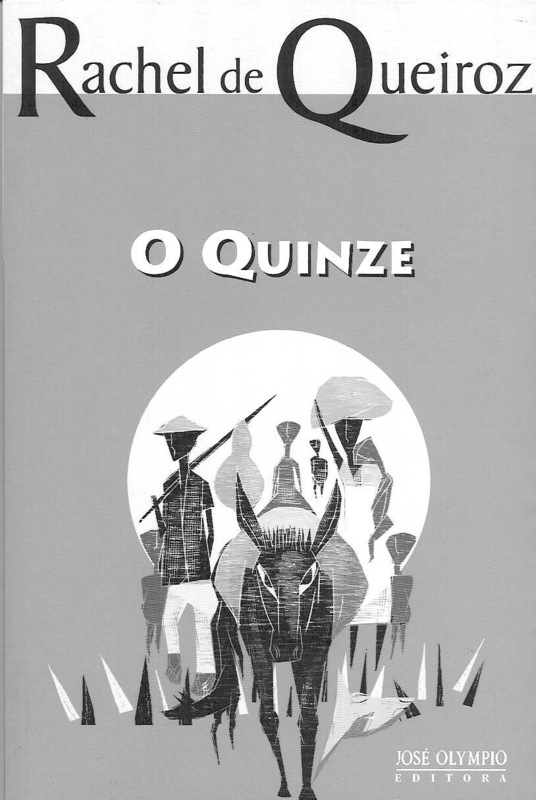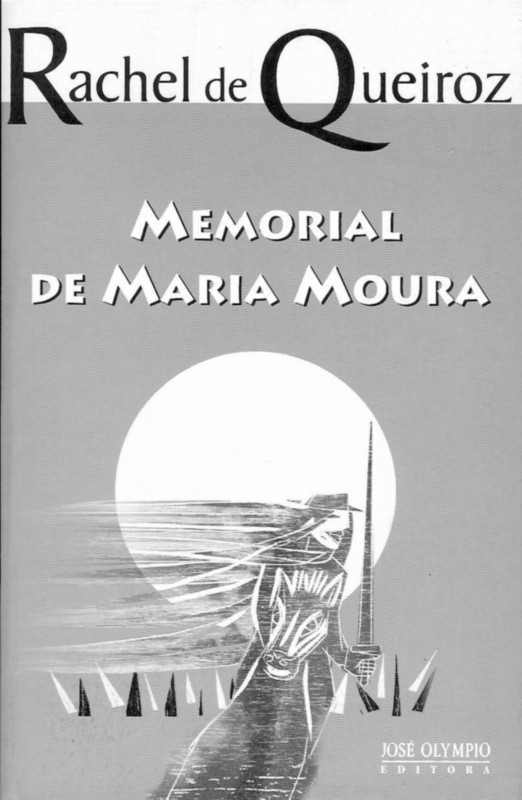Tenho de Rachel de Queiroz uma edição de O quinze em que ela me pede “desculpas pela menina de 1930”. Não é caso para desculpas, é caso para aplausos, e isso mais de setenta anos depois, prova de que o tempo, crítico maior, validou o romance da “menina”. Ela estava com 19 anos quando o escreveu, no Ceará, e uma das personagens, a professora Conceição, há de ter sido o seu alter ego. Essa Conceição, moça simples e generosa, tinha os seus livros, cerca de cem brochuras à cabeceira da cama, e cita, entre outros, Machado de Assis.
Mas a menina Rachel, isolada e sonhadora, estava longe de imaginar que, com aquele seu relato da seca famosa, de quase um ano de duração, iria fundar um novo ciclo da nossa novelística — o chamado romance do Nordeste, ou romance nordestino, cujo modelo acabou por se espalhar por vários quadrantes brasileiros, a ponto de surgirem romances nordestinos no Leste e no Sul… O quinze data de 1930, impresso às custas da autora no Estabelecimento Gráfico Urânia, em Fortaleza. Pouco antes, em 1928, José Américo de Almeida lançava A bagaceira. Há outras datas ligadas às origens desse novo veio ficcional: Menino de engenho, de José Lins do Rego, em 1932, O país o carnaval, de Jorge Amado, em 1933, e Caetés, de Graciliano Ramos, também em 1933. O ciclo inaugurava-se pelo romance, já demonstrando o intuito de seus autores em traçar painel largo, em descer fundo na amostragem de realidades penosas da geografia psicossocial brasileira. Historicamente, porém, a temática da seca retrocede a José do Patrocínio, que foi buscar o tema no Ceará — o Ceará de algumas ficções indigenistas de José de Alencar. Quer dizer: romantismo e realismo se davam as mãos na retomada de temas nacionais, em busca de um romance “nacional”.
Mas o romance nordestino não é apenas o romance sobre a seca e os retirantes. Seus outros fundadores, os paraibanos José Américo e José Lins, escreveram sobre os engenhos de açúcar, sendo que o segundo criou dentro do ciclo do novo romance brasileiro outro ciclo, o da cana-de-açúcar, que reúne seis títulos, e Jorge Amado iniciou na Bahia um outro ciclo regionalista, o do cacau, que ainda hoje prossegue pela mão de alguns sucessores.
É curioso verificar que o romance nordestino, ligado à terra, peça principal do largo ficcionismo pós-1930, pouco ou quase nada tem a ver com o movimento modernista de 1922, ao qual alguns críticos tentam filiá-lo. A revolução estética pregada pelos moços revoltosos em São Paulo custou a espalhar-se e fazer prosélitos em outros recantos, principalmente no Nordeste. No entanto, alguns de seus postulados, como a necessidade não de banir a gramática portuguesa, senão de renovar a língua, tirando-a do elitismo dos literatos para aproximá-la do falar do povo, através dos recursos da oralidade, coincidiram com o pensamento crítico de ficcionistas dispersos. E mesmo distanciados, solitários, sem querer desancar parnasianos nem levar ao pelourinho o estilo de Coelho Neto, eles sentiram também a necessidade de mudança. As mudanças começaram pela escolha dos temas, porque já se testemunhava à época uma fratura social que requeria depoimentos sinceros de escritores. Aquela sintaxe portuguesa enfadava. O vocabulário sem brasileirismos era atestado de preguiça mental. Estava em voga, ademais, nos decênios de 30 e 40 do século passado, um romance revolucionário que convergiu da Europa para os Estados Unidos e países latino-americanos. Um romance que descrevia movimentos de massa e aspirações coletivas, sob forma de denúncias — umas, com tecido artístico; outras, mera propaganda ideológica.
Sim, é curioso perceber como Graciliano Ramos em Palmeira dos Índios, Rachel de Queiroz no Quixadá, José Lins do Rego em Maceió e José Américo de Almeida em João Pessoa, sem se conhecerem, sem se consultarem, tiveram a mesma postura crítica. E cada um pôs a sua pá de cimento na estrutura do romance nordestino.
Nesse processo de geração espontânea de um ciclo de romances, Rachel de Queiroz foi um caso, um dos raros casos no nosso ficcionismo. Primeiro, pela idade — apenas 19 anos, a mesma com que estreou Jorge Amado, sendo-lhe, por sua condição de mulher, mais difícil a tarefa literária. No entanto, O quinze parece escrito por homem que houvera adotado pseudônimo feminino. Há nele um flagelo, a seca, que a romancista descreve em breves passagens, em pinceladas rápidas, porque lhe interessa mais a moldura das personagens, o que são, o que sofrem. É por intermédio das personagens que o tema da seca se impõe, e de tal modo que dispensa a continuidade das cenas: a romancista se limita aos flagrantes. O quinze é um romance construído com uma sucessão de quadros — e nisso se assemelha um pouco à montagem de O país do carnaval. Convém assinalar também a naturalidade com que é relatado: prosa quase sempre contida, de parcos adjetivos — um filete de água no fundo de rio ou uma poça no açude seco. Nada de descrições copiosas, nada de retórica convocada para despertar logo a indignação de quem lê. Quer a romancista que essa indignação, mesclada de piedade, brote do próprio relato, como uma segunda força. Poder-se-ia dizer que, na sua brusquidão, na sua franqueza, é prosa masculina. Aliás, Rachel mostrou-se sempre à altura dos seus temas agrestes, nos três primeiros romances, em Dôra, Doralina e no Memorial de Maria Moura. Jamais cedeu ao lirismo fácil, aos resíduos de romantismo que aparecem em muitos dos nossos realistas. Em O quinze, os quadros com que ela monta a sua exposição se referem ao vaqueiro Vicente, primo de Conceição, que insiste em ficar na fazenda, com o gado a definhar, à espera de um inverno que não chega; à professora Conceição, que com ele mantém um interesse amoroso sem desfecho; ao agregado Chico Bento, cuja família de retirantes vai marchando a pé para o acampamento dos flagelados na cidade. A releitura destas cenas, setenta anos depois, mostra-nos que a tragédia continua, e que as frentes de trabalho criadas pelo governo, com o fim de matar a fome dos retirantes, não passam de mísero consolo.
Já estão esboçadas em Rachel de Queiroz as nuanças psicológicas que Graciliano Ramos transformaria em substância psicossocial, no seu S. Bernardo. Falta à menina de 30, provavelmente, maior densidade ficcional — pelo menos nos primeiros romances. Mas a intenção é boa, o resultado é expressivo, e agrada verificar que a oralidade se restringe à fala das personagens, bem dosada mistura de língua do povo e língua literária. Esta é uma face do romance nordestino. Outras faces viriam com a linguagem desataviada, solta, bem nordestina e brasileira de José Lins do Rego e seu romanceiro nordestino-ibérico. E, sobretudo, com o insight profundo de Graciliano Ramos. Compare-se O quinze e Vidas secas. Ver-se-á, então, o fundamento de todo esse ciclo ficcional, a sua cartilha estética — e também a sua evolução, que acaba por unir, em escultura completa, tema e escrita, narração e linguagem.
À paisagem alencarina, de um lirismo poético e de um romantismo dos mais idealistas, sucederia a paisagem árida de um Nordeste cheio de vidas amargas em contato com o meio e a espoliação. Das peculiaridades do meio, que condicionam o destino dos homens, o ciclo evolui para as análises de personalidades. Está de rota batida para a universalização.
Rachel de Queiroz, com a sua trilogia inicial — O quinze, João Miguel, Caminho de pedras —, reflete já as duas vertentes. Ela se dedicou, depois desse début triunfante, à crônica e ao folhetim, por muitos anos, e somente em 1939 retornaria à sua temática nordestina, com As três Marias. Nova entrega à crônica e aos pequenos relatos e, por fim, o romance mais denso que se fazia esperado, o Dôra, Doralina, de 1975.
Neste, nota-se uma largueza ficcional de horizonte, de forma a movimentar algumas figuras humanas bem talhadas no circuito de seus conflitos íntimos e na tentativa de apreender significados. Dora, Doralina continuará a ser lido, e por muito tempo, por quantos desejem saber “o que acontece às pessoas”. Romance de personagem, portanto. Romance de uma vida.
E, com efeito, há nele, além da experiência da escritora, e da argamassa de suas vivências, traços talvez autobiográficos. Da trajetória de Dôra, nascida em fazenda do Ceará, sob o guante de mãe dominadora, a romancista Rachel de Queiroz empreende todo um estudo sobre o livre arbítrio, como a querer justificar, como diz Flannery O’Connor em Wise Blood, que ele não passa de “múltiplas vontades em pugna dentro de uma individualidade”. Sintomaticamente, um livro escrito na primeira pessoa, no qual Dôra expõe a sua consciência, e com um tal poder de desafogo que, não obstante um tanto calada e reclusa, prende audiências invisíveis.
O ficcionismo triunfa, então, sobre a moldura, sobre os efeitos de composição, os caprichos da montagem, a necessidade de expor mazelas. É uma prova de madureza da ficção de Rachel, que avança do regional para o universal, em ritmo acentuado. Dôra, Doralina alonga o fio narrativo, numa viagem pelo rio São Francisco e na descida até o Rio de Janeiro. Com o seu “olhar de ultraje”, a personagem retorna à sua solidão, agora espontânea, agora consciente. E por isso mesmo irremediável.
Outro título de sua bibliografia, talvez mais famoso por obra da serialização em tevê, o Memorial de Maria Moura, me leva a pensar que ela fechou nele o seu leque, uniu as pontas de uma trajetória existencial forrada de agudas reflexões. Entre estas, a da situação da mulher, o seu desempenho de bravura que transcende o círculo doméstico, os seus anseios de realização amorosa. Já em O quinze, vemos a professora Conceição preocupada com a necessidade de ser forte — sobretudo para quem, mulher, nasceu no Nordeste e tem como conselheira maior a resistência interior, a fibra. Conceição lê e pensa: “A gente precisa criar seu ambiente, para evitar o excessivo desamparo… Suas idéias, suas reformas, seu apostolado… Embora nunca os realize… nem sequer os tente… mas ao menos os projete, e mentalmente os edifique…” E mais adiante, lendo: “E a eterna escrava vive insulada no seu próprio ambiente, sentindo sempre que carece de qualquer coisa superior e nova…”
Em Memorial de Maria Moura, que a romancista confessou ter sido inspirado em episódios da vida de Maria Stuart, uma mulher procura criar e defender o seu ambiente, contra o meio hostil, os inimigos, as ciladas. Essa mulher encourada, de chapéu de vaqueiro e barbicacho, monta a cavalo e empunha o rifle. É outra Diadorim, trava a sua guerra.
Rachel de Queiroz será sempre um ícone, enquanto perdurar em nós a necessidade de nos debruçarmos sobre outras vidas, fictícias ou não, à procura de matéria para reflexão. Amiga de Manuel Bandeira, Adonias Filho, Octávio de Faria, José Olympio (o editor), Carlos Drummond de Andrade e tantos outros nomes de primeira plana, ela deixou obra, conhecimento, emoções. Politicamente, foi corajosa, apegou-se a princípios e opiniões. Certos ou não, estes agora se diluem para que resplandeçam a sua arte, a sua generosidade, o seu amor — no trato com os amigos, nas preocupações com os destinos do país, no apego ao ser humano, na mestria com que soube dar utilidade literária ao seu rico imaginário.