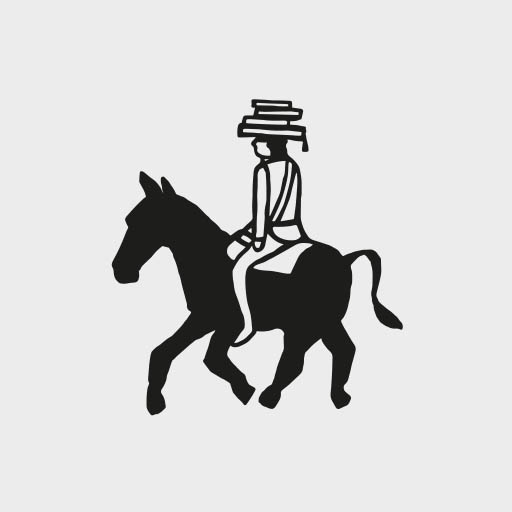Uma pergunta intrigante surge com o fato — aliás, natural — de que dois romances franceses escritos por ninfetas burguesas para falar de seu meio, distantes entre si quase 50 anos, comecem com frases tão díspares: Bom dia tristeza, de Françoise Sagan (1954), inicia assim: “A esse sentimento desconhecido, cujo tédio e doçura me obcecam, hesito em conferir o nome, o belo nome grave de tristeza”. Já Hell Paris – 75016, de Lolita Pille (2002), diz: “Eu sou uma putinha. Daquelas mais insuportáveis, da pior espécie; uma sacana do 16ème, o melhor bairro de Paris, e me visto melhor que a sua mulher, ou a sua mãe”.
Anotados os contrastes na linguagem, no tom e no tratamento dado à subjetividade, que deixou de ser trabalhada pela estética um tanto cerimoniosa do modernismo e se mostra, agora, apreendida do exterior pela permissividade pós-moderna, a pergunta é: o que aconteceu à burguesia, sem dúvida não só à francesa, para que suas filhas antes recatadas se comprazam hoje em se declarar prostitutas?
Pille escreveu o livro aos 17 anos, manejando farto material autobiográfico para contar a vida airosa e ociosa da narradora Elle, a certa altura rebatizada Hell. Em noitadas sem fim com sua tribo de super-ricos, ela exibe (e discute) todas as grifes, bebe como um caminhoneiro, cheira feito um junkie, transa com quem bem entende, até mesmo no salão das boates ou em orgias às dez da manhã, e não passeia em carros inferiores ao Porsche. Seu primeiro mandamento — “Seja bela e consumista” — tem um credo: “Aparências… Tudo são aparências…”. A noite é seu endereço: “Entrei aos 14 anos numa boate para nunca mais sair”. Nada, porém, aplaca a hipercrítica que ela desenvolve dessa realidade ambígua: “Cuspo na cara deste mundo, mas ele me possui inteiramente”.
Depois de um aborto, Hell tem uma crise de choro em frente, nada menos, da maison Baby Dior, e é ajudada por um estranho que mais tarde se revelará ser Andrea, milionário leitor de Sade “com mais roupas que Madonna”, seu namorado por seis meses. A partir deste semestre de paixão e abstinência quanto à badalação, ao pó, a narrativa adquire alguma curva dramática, mas a saciedade e a arrogância levarão os protagonistas à inconseqüência; ambos têm egos bem maiores que o amor. Separados, infelizes, enquanto ela finge se divertir no bar do momento, Andrea embala o carro para suicidar-se ao som de Cruel Intentions, a 200 por hora, numa avenida parisiense. Para punir-se e combater a dor com profanação da dor, Hell se deixa sodomizar por um plebeu desconhecido na casa dos pais, como se rasgasse um certificado de origem.
Alguns críticos não perdoaram na autora o gênero demolition baby, o gosto pelo escândalo (Pille perdeu amigos e chegou a ser barrada em casas noturnas), vendo em seu sucesso apenas o dedo do marketing editorial; outros lhe concederam uma benevolência reticente pela coragem em dar cores ácidas à dissipação, como estilo de vida, entre os herdeiros das elites gaulesas. Opção afetada às vezes por opiniões sem nuances: “Se os ricos não são felizes, é porque a felicidade não existe”.
Romance de deformação, Hell visivelmente não é um primor como realização literária. Tende ao superficial, ao descosido, ao petulante. A autoficção em moda, apoiando-se na oralidade, libera o fluxo narrativo na primeira pessoa, mas simplifica demasiado a sintaxe para submetê-la à intensidade vivida. Ninguém, no entanto, ignorou a garra, a frontalidade com que Pille atacou seu universo pessoal feito basicamente de sensações e frivolidades, salpicadas com atentas percepções sociais, nem considerou mero exibicionismo a maneira pela qual expôs suas pulsões, seus conflitos. Ela ostenta com soberba a cultura do privilégio — “nós transgredimos todas as regras, uma vez que a lei do mais rico é sempre a melhor” — e esnoba a classe média por sua falsa fé no trabalho enquanto vê tolamente nos chiques, cuja decadência bisbilhota, um paradigma de vida realizada. O mundanismo é também um passa-fora na moral, na religião, pois percebeu “que o sofrimento era somente um meio para escapar à vileza, um meio de ascender ao sublime”. O inferno, enfim, ela enfrenta quando descobre que os prazeres, os paraísos artificiais, uma vez rotinizados, perdem a eficácia, mas aí já é tarde para renunciar a eles.
Falou-se que Hell seria válido como documento antropológico da geração, digamos, cocaína com Prozac. A hipótese cai bem, embora nada informe quanto à questão de patricinhas se sentirem prostitutas. Talvez o livro contenha um pouco mais, carregue a energia vária e furtiva do sintoma.
Duas palavras têm alta incidência no romance: babaca, com seus derivados, e vazio. A primeira traduz con, coloquialismo francês para “xoxota”, significando também “trouxa”, “idiota”, e é usada no texto para estabelecer distâncias entre ricos e não-ricos, assim como entre ricos mais e menos espertos. É a marca do desprezo (e Hell despreza um bocado) por gente não ou mal grifada, os sem-glamour, à margem do consumo conspícuo, isto é, do dinheiro grande. Não ser babaca é o pré-requisito a toda distinção possível. Já vazio anuncia a fissura que acompanha o individualismo e o hedonismo extremos. O vazio brota na pós-orgia ou ressurge nos intervalos não excitantes sob a máscara do tédio, da saturação, das idéias de suicídio, do ter que viver; seu ardil principal é incitar gozos dos quais se está enfarado. Mas há um ponto em que babaca e vazio se tocam: o dinheiro. Se o babaca é o excluído, o vazio é saldo do que o excesso de dinheiro inclui. Tudo é a terra do nada: “Todos esses modelitos e nada para vestir”, constata Hell olhando o seu closet. O dinheiro faz a infinidade de objetos que é capaz de comprar sucumbir à sua própria indiferenciação, à equivalência geral da moeda, essa abstração que acaba precisamente por desqualificar sua potência mágica de se converter em qualquer coisa.
Perda agravada ainda pela aceleração das aparências em oferta, equivalente à aceleração do mercado financeiro; a vida corre na velocidade em que o dinheiro circula. Mergulhar, remergulhar em farras e drogas, em cenários e bacanais dão no esvaziamento após um banho de semblantes sem rastro, a conhecida exaustão. Afinal os personagens de Hell flutuam num limbo histórico de que foram evacuados a Família, a Igreja, a Escola, a Produção, os tradicionais transmissores de valores e formadores da subjetividade. Sobrou a eles o Consumo.
Com isso, curiosamente, é a onipotência da compra associada a uma falha — “temos um cartão de crédito no lugar do cérebro… e nada no lugar do coração… a gente era prisioneira da grana… e ficava sem saber a razão de existir” — que abre a passagem para a velha analogia entre dinheiro e prostituição. “Vivenciamos na própria natureza do dinheiro algo da essência da prostituição”, escreveu em 1900 o sociólogo alemão Georg Simmel em A filosofia do dinheiro. A indiferença, a impessoalidade, a falta de emoção na troca são as mesmas. Assim não é tanto o comportamento sexual de Hell, que, aliás, compra, não se vende, mas a disponibilidade infinita do mundo para sua liberdade sem limites, acoplada ao dinheiro, que torna virulenta a idéia de corrupção, de natureza degradada, levando-a a chamar-se de “putinha”.
Mas edulcorada, quase absolvida pelo diminutivo, “putinha” é apenas um anteparo anexo à metáfora básica do livro: Hell, a vadia, é o inferno. Embora soe over, Pille deve ser tomada a sério. Num mundo desencantado, o suplício sem saídas da coca, do amor perdido, do sexo livre e sem nome, da redundância sem razão pode fazer que o livro se explique pelo fracasso da cultura contemporânea, sob o capitalismo neoliberal, em responder à pergunta: como viver? A cultura não protege mais nem mesmo os adolescentes do niilismo, antigamente uma aquisição tardia. Cedo eles se revelam cínicos, céticos e destrutivos. Fechados num presente contínuo, suas vidas são uma desventura exasperante em busca de substância no vácuo, de identidade na dissipação, até o paroxismo em frases tipo: “Eu não agüento mais. Nós não estamos mais vivos, isso é um engodo… Nós representamos a comédia da vida, mas estamos mais mortos do que vivos”. Que espécie de inferno é essa dos mortos-vivos aos 17 anos? Por que a jeunesse dorée, posição aspirada pelos jovens de outras classes, emprega seus privilégios para negar a realidade e difamar a ordem que a produziu? O que nessa ordem conduz seus rebentos à antivida?
Salvo os clichês sobre a futilidade, doença conatural à riqueza, não há resposta. Há silêncio, constrangimento. Não é difícil situar Hell e amigos entre os exemplos perfeitos do “fetichismo da mercadoria”, da “comodificação total da existência” ou mesmo do “crespúsculo do dever”. Tais fórmulas, porém, quando não se anulam mutuamente, impressionam pela precariedade, são plantas de meio ano na academia ou na mídia. Então o quê? Seria ilegítima uma saída pela tangente? Possivelmente não. Comecemos por evitar o senso comum e seus clichês: esse episódio juvenil pouco vale porque as patricinhas também crescem, sobretudo se casam com mauricinhos e se contentam em amadurecer respeitáveis (ou desfrutáveis) damas da sociedade. Cancelemos igualmente a alternativa correcional, bastante discutível: a biotecnologia resolveria seus problemas, melhores antidepressivos transformariam apocalipses encefálicos em disneylândias neuronais.
Fora esquecê-los, resta então um gesto: ficcionalizar a condição conceitual dos personagens. Imaginar que refletem com tal veracidade o esgotamento da cultura em motivar, compreender, nomear, que eles fazem uma experiência inédita do não-sentido. “Inferno” talvez seja um arcaísmo para indicar essa fronteira — pressentida vagamente na fina trama que é a moeda como único registro simbólico — onde o dizível não funciona mais. Enquanto isso eles ingressam numa zona liminar cujos modos de ser no mundo ignoramos. Ou deles temos apenas pobres intuições. Os mortos-vivos entre os adolescentes da burguesia são um povo aleatório, conjetural, semelhante, na escala humana, a essas partículas elementares que passam do não-ser ao ser e voltam ao não-ser em bilionésimos de segundo. Não duram muito. São minoria. E instáveis, amorfos, embora belos. Não habitam o trágico nem o banal. Assim como não sentem culpa, dispensam juntas a piedade e a autocomiseração, medindo o orgulho pela adrenalina. Apreciariam os chacais por serem gregários, mas não solidários. Nem leais. Ausências provocadas pelas drogas lhes parecem uma blindagem contra o tempo e o enorme repouso que é não ter futuro. Relativizaram a palavra amor, para a felicidade geral, dizem. Sem cultivar o saber, não destratam a mediocridade. Além do citizen e do netzen — seu lugar na política. Prefeririam desdenhar a morte se não a carregassem, e ficariam surpresos caso alguém lhes contasse que poderiam, querendo, balbuciar as primeiras sílabas de uma nova linguagem, para uma realidade fantasma.
Certamente Pille e Hell se divertiriam com o retrato, mas quem sabe viessem também a descobrir no texto um ponto de fuga para onde rolam estados de espírito como este:
“Os cabides se acumulam sobre o meu braço, neles se agitam, como os enforcados de antigamente, andrajos luxuosos os quais não usarei. Eu os compro mesmo assim. Saio da butique sem saber para onde ir. A avenue Montaigne cintila com uma serenidade imaculada que não me comove.”