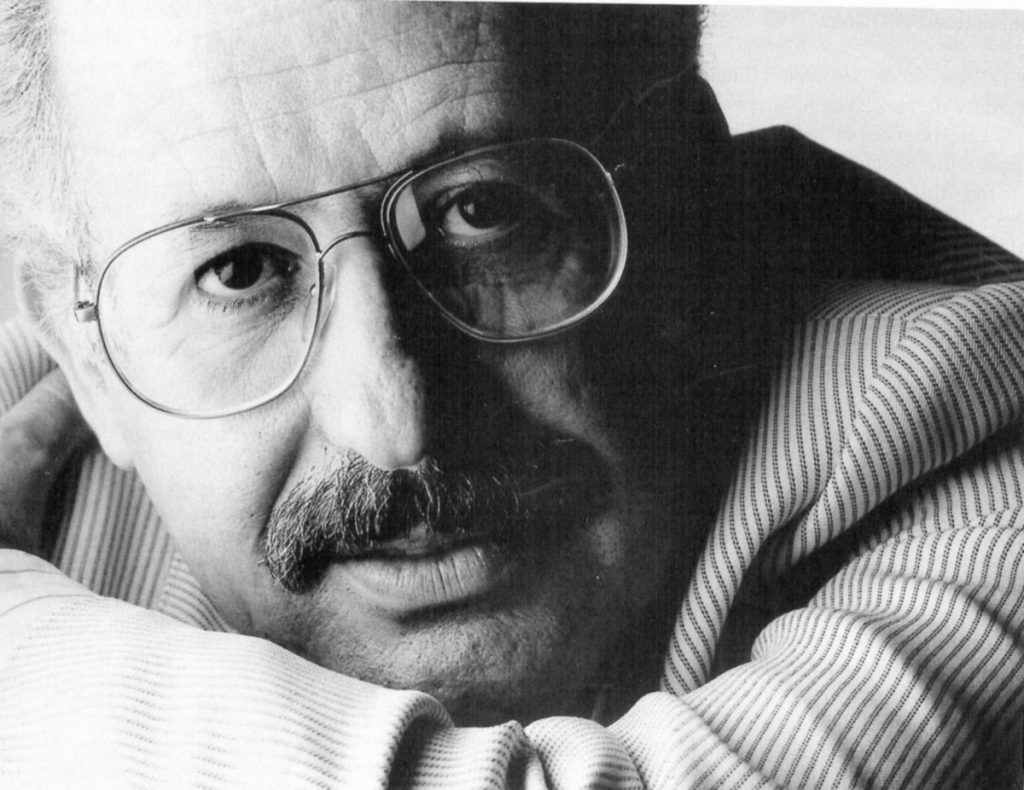Pode-se identificar nos novos escritores brasileiros — estes surgidos nos anos 90 — a formação de uma geração literária, a chamada Geração 90? Ou ainda é muito cedo para tal definição?}
Você toca num ponto singular e curioso da vida literária brasileira. O da necessidade de escritores jovens se apresentarem como pertencentes a um grupo, a uma geração. Entre nós, não é fenômeno meramente literário, é artístico. Como exemplo paralelo, veja a “geração 80” em artes plásticas. Na maioria dos casos, os jovens escritores recobertos pela etiqueta têm dicções e interesses diferentes, trabalham temas antagônicos e apostam em ideologias conflitantes, provêm de meios sociais opostos, no entanto procuram passar ao público a imagem de que estão enturmados. Há um fantasma que os persegue, o do “manifesto”, que é um resquício das vanguardas históricas da primeira metade do século 20. Naquele momento, o individualismo artístico se subtraiu em favor duma postura estilístico-ideológica comum, que independia da vontade pessoal dos vários membros. Com o correr dos anos os talentos individuais sobressaíam e a barafunda era geral. Hoje, os tempos são outros. O individualismo não consegue se camuflar e muito menos se subtrair. Desde os anos 1980, ele tem sido o pilar nobre que mantém de pé o intelectual e o artista na sociedade pós-moderna. Veja, por exemplo, o estudo pioneiro de Christopher Lasch sobre a “cultura do narcisismo”. Se não existe vontade coletiva e se atravessamos tempos neoliberais, onde o livro é parte da indústria cultural mais ampla, o agrupamento em torno de, ou debaixo de uma etiqueta (seja ela qual for) vai parecer mais uma jogada de marketing, do que a apresentação de um programa artístico inédito e comum, que deve incentivar aqueles e outros escritores jovens a uma produção literária que tenha aquele mínimo de organicidade que existiu em gerações como a dos surrealistas franceses, ou dos modernistas brasileiros. Uma coisa, no entanto, é certa. A partir da década de 1990, não é difícil identificar uma “força” nova na literatura brasileira. Ela se faz ouvir de alto e bom som. Bons nomes não faltam e devem continuar aparecendo nas páginas de suplementos como este. Não sei se é bom para os mais talentosos ter a sua “força própria” encurralada numa etiqueta. Não sei se os mais fracos recebem ajuda quando são aproximados por osmose dos mais talentosos. Nem mesmo sei se os futuros historiadores da literatura estarão escrevendo a história da literatura a partir da noção de “geração”. Os argentinos, por exemplo, gostam mais de classificar (pois é disso que estamos tratando) os escritores entre canônicos e marginais. Em gíria brasileira, há os que correm na raia e há os que comem pelas beiradas. Borges corre na raia. Roberto Arlt come pelas beiradas. (Borges tem a ver com Ricardo Piglia. Arlt tem a ver com César Aria.) Tanto um quanto o outro são considerados incompatíveis e geniais. De qualquer forma, é inegável que há novos talentos na área. E isso se fazia necessário.
Os novos autores estão muito ligados à realidade (num movimento que podemos definir como neo-realismo), à violência, ao espaço urbano. Esse apego ao real e à sua transposição tem que impacto na produção destes escritores?
Se existem “novos autores” que podem ser classificados a partir de um movimento comum (no caso o neo-realismo) é porque a dita “realidade brasileira” voltou a ser tão perturbadora que os incomoda a ponto de se tornarem aliados artísticos no desejo de descrevê-la e denunciá-la. Tudo bem. Neo-realistas foram os cineastas italianos e norte-americanos durante e logo depois da Segunda Grande Guerra. De tal modo foram influentes na formação dum jovem e extraordinário cineasta na periferia (refiro-me a Nelson Pereira dos Santos), que este, apesar de paulista, abandonou a tônica desenvolvimentista então dominante e voltou a sua câmara para as mazelas da favela carioca. Rio, quarenta graus. Isso não impediu que o mais genial dos cineastas brasileiros, Glauber Rocha, formado pelo mesmo cinema e os mesmos teóricos que formaram o jovem Nelson, tenha alicerçado sua obra-prima, Deus e o diabo na terra do sol, nos relatos históricos de Euclides da Cunha (Os sertões), José Lins do Rego (Pedra Bonita) e Jorge Amado (Seara vermelha). Glauber não seria neo-realista? Glauber não pertenceria ao cinema novo? Glauber deveria ser excluído do grupo? São perguntas que faço aos que querem colocar no mesmo saco do neo-realismo jovens autores contemporâneos tão diferentes (falo dos que tenho lido). Isso por um lado. Por outro lado, há um grupo extraordinário de artistas (não falo apenas de escritores, é claro) que tem colocado como fulcro da obra de arte a questão da linguagem. Entre o chamado real e a sua transposição em linguagem (artística, ou não) não há um processo de continuidade, pelo contrário, há ruptura. Portanto, toda obra em linguagem que diz apreender e revelar (ou denunciar) o real nada mais está fazendo do que impondo uma interpretação (pessoal) ao real. Sob a rubrica neo-realista, existem pelo menos dois grupos. Há os artistas que, consciente ou inconscientemente, impõem um sentido autoritário (friso) e ideológico ao real (na fotografia, Sebastião Salgado é bom exemplo) e artistas que, conscientes de que o real não se dá ao humano em transparência, mas através da linguagem, se sentem constrangidos a assinar um manifesto neo-realista e preferem substantivar a presença do real na sua obra através de um estilo pessoal dentro disso a que chamo de as dicções do real. O segundo grupo pode ser exemplificado por Kafka e Breton. Tal como trabalhada por Kafka, em Amerika, a linguagem descritiva reclama a abundância e o acúmulo de dados e de detalhes, que passam a entulhar o parágrafo de maneira desconcertante para o leitor familiarizado com o que se convencionou chamar de realismo ou neo-realismo. Empilhadas ou amontoadas, armazenadas pelo texto kafkiano, as frases descritivas podem guiar o leitor a desbravar o real, podem levá-lo a enxergar simultaneidades, paralelismos, conglomerações, contaminações e imundícies do real, a que o olhar dele nunca esteve atento. André Breton foi sensível ao apelo dos leitores cansados do entulho realista e fez com que, no seu romance Nadja, a descrição lingüística do real fosse substituída pela fotografia correspondente. Abram o livro, leiam e vejam o “hôtel des Grands Hommes” ou a estátua de Etienne Dolet, e assim por diante. Uma economia considerável de palavras. E uma precisão absoluta. Eu até que gostaria de ter enxertado um super-8 no romance Viagem ao México, que fala de Antonin Artaud.
A reflexão, a exposição de idéias, é uma das suas preocupações em O falso mentiroso. Essa postura parece ser isolada na atual safra literária. O romance reflexivo, de idéias, passa à margem da literatura brasileira?
Talvez sim, talvez não. Graciliano Ramos, Clarice Lispector e Guimarães Rosa passam à margem da literatura brasileira? Se não passam, é porque não estamos dando preferência aos autores que são canônicos e, sim, aos que comem pelas beiradas no modernismo brasileiro. Qualquer pessoa que tenha tido o mínimo trato com a história e com o correr dos anos no próprio corpo, sabe que desde o século 19 a literatura (bem como as outras artes) exige um espaço muito especial dentro da concorrência de discursos que tentam explicar o ser humano (sentimentos e emoções), a história (personagens e fatos) e a sociedade (ideologia). Acreditar que a obra artística não seja produto da reflexão e que ela, à sua maneira muito especial, não “exponha” idéias, é acreditar que arte é puro entretenimento. Não é o meu caso, reafirmo. Caso arte não seja puro entretenimento é porque ela é outra coisa, a ser definida num espaço mais amplo do que o da entrevista. Não digo isso como motivo para choro, mas para reclamar precaução. Os retóricos medievais, citados por Ezra Pound, diziam que arte é o que comove (ut moveat), deleita (ut delectet) e ensina (ut doceat). Não encontro caracterização tripartida mais perfeita. De anos para cá, o discurso literário que não se deixa amordaçar pelas exigências da sociedade neoliberal, de consumo, tem tido um lugar que julgo dos mais notáveis, ao lado, por exemplo, do discurso filosófico. Michel Foucault, Gilles Deleuze e Jacques Derrida sabem disso e constantemente estão falando da filosofia e da literatura, das duas. Graciliano, Clarice e Rosa, para ficar com a trinca do barulho, foram na verdade pouco lidos, estão sendo mais e melhor lidos postumamente, no entanto psicanalistas, historiadores, cientistas políticos e sociais — e mais todo e qualquer bom leitor de literatura — sabem que na ficção deles estão em germe, dramatizados, situações e movimentos humanos riquíssimos que revelam um material inédito sobre o ser e a sociedade brasileiros, sobre o ser e a sociedade universais. Não sei o que houve nos últimos anos, mas o leitor de textos em escrita fonética (jornais, revistas e livros) desaprendeu de ler literatura e aprendeu a ler muito bem o texto semiótico. Parabéns para as Faculdades de Comunicação e pêsames para as Faculdades de Letras. Isso é grave, porque possibilita que o engodo literário passe como legítimo, enquanto os rigorosos critérios de exigência vão para a análise, por exemplo, de filmes.
A literatura como expressão artística perde cada vez mais espaço para a “literatura de consumo”? A verdadeira literatura (entenda-se, aquela feita a partir da necessidade da expressão artística, longe do modismo egocêntrico de muitos aventureiros) está relegada a uma “seita”, como define o escritor Marçal Aquino?
Num país onde se confunde o espírito religioso com a freqüência a cultos católicos, evangélicos ou espíritas, acho perigoso o uso da palavra “seita”. Prefiro lembrar-me da famosa expressão de Stendhal. Os “happy few”, ou seja, aqueles poucos que encontram a alegria no contato com os livros e a literatura. Prefiro ainda a crueldade e o satanismo de Baudelaire, quando diz, no pórtico do seu livro, que o leitor é tão hipócrita, quanto o seu semelhante e irmão, o poeta. De uma maneira ou de outra, estamos nos referindo a um grupo restrito de pessoas que encontram prazer no fazer literário e no seu consumo restrito. Concordo plenamente com o Marçal. Uma das desfeitas que a modernidade fez ao escritor (e ao artista) foi o de relegá-lo a um segundo plano do saber. A concorrência de discursos especializados, disciplinares, tomou conta do universo do livro, entregando ao leitor obras que já vêm mastigadas. Quando digo que a obra já vem mastigada, estou me referindo aos livros das ciências humanas e sociais que, pelo compromisso com a linguagem científica, têm de ser lógicos, claros e de fácil consumo e digestão. São lidos pela razão e não pela sensibilidade. A literatura por definição é um discurso mentiroso, inventado, fabulado, mas que ao dizer que é falso, está revelando que também é verdadeiro. Como diz Jean Cocteau, em célebre desenho de Orfeu: “Je suis um menteur qui dit la vérité” (Sou um mentiroso que diz a verdade). Como eu dizia na resposta anterior, a boa literatura (a que não se confunde com os discursos lógicos, claros e de fácil consumo e digestão) requer um leitor muito especial. Alguém que tenha a capacidade de entrar no real pelo viés do falso. Pelo viés da ficção, da fabulação pessoal e original. Pelo “estilo” do outro. Um leitor que seja capaz de dar sentido ao que lhe é apresentado como “reprodução em linguagem” do real. Um universo literário por pior que seja estará sempre em conflito com os universos já mastigados, também livrescos. Veja o que é “uma vida” num livro de história e o que “uma vida” num romance. O pior de tudo é que a modernidade foi realmente madrasta com os “aventureiros” que se apossaram do mercado. Relegou também a segundo plano o escritor que faz “literatura de consumo”. O leitor comum, que busca apenas entretenimento, tem no cinema, na música popular e na televisão, formas muito mais simples e atuais de leitura e divertimento, do que a que lhe é proporcionada pelo objeto livro. A modernidade deu-nos um único consolo: mais e mais o poeta e o ficcionista estão próximos do filósofo. Por sorte nossa o curso de filosofia está cada vez mais popular. Parte da salvação dos “happy few” está ali. Não tenhamos dúvida.
De que maneira o acadêmico, o crítico Silviano Santiago atrapalha ou ajuda o Silviano ficcionista?
Ninguém atrapalha ninguém, a não ser no nível da “performance” (em público). O acadêmico e o crítico atrapalham muito a performance do ficcionista. Do mesmo modo, o ficcionista atrapalha a performance do acadêmico e do crítico. Por performance estou entendendo a atitude do sujeito Silviano diante do público, em qualquer auditório ou página de jornal. Acadêmico, crítico e ficcionista (e o que mais vier) convivem em total desarmonia e amizade. A graça está em jogar um contra o outro, fazer um leitor do outro. Está em fazer com que, diante de uma nova produção, os três briguem para saber quem deve ser o responsável pela escrita. Um exemplo? Por muitos anos o professor ficou ensinando textos autobiográficos, para que o crítico apresentasse a desconstrução da teoria da literatura formalista e o escritor pudesse escrever o romance Em liberdade. O ficcionista se sentiria muito mal se ouvisse relatórios muito negativos sobre a produção em sala de aula do acadêmico e nos jornais do crítico. O acadêmico e o crítico se sentiriam muito mal se ouvissem relatórios muito negativos sobre a produção em livros do ficcionista. Sou tímido e polêmico por temperamento (ou por opção) e, por isso, as várias facetas da minha personalidade profissional me tornam ainda mais tímido e mais polêmico. O acadêmico ganha dinheiro; o crítico ganha espaço na imprensa e o ficcionista escreve livros que são publicados com o lucro que o Paulo Coelho traz para a Editora Rocco. Eis as três gotas da minha vida profissional.
A literatura ainda é uma trincheira respeitável para o combate, para disseminar idéias, para fazer barulho, para incomodar a sociedade?
Claro. No entanto, é preciso cuidado para que ela não se arme com as armas voláteis e passíveis de negociação dos partidos políticos. A literatura crítica, engajada, é radical, ou não é. Morro de medo da literatura partidária. Vivemos um dos momentos mais fascinantes e terríveis da história. Duas sociedades convivem no mesmo palco, tendo como elenco os mesmos atores: a sociedade de classes e a sociedade de consumo. O curioso é que, apesar de compartilharem o palco e terem os mesmos figurantes, uma não pode apertar a mão da outra. O valor de classe recalca o consumo. O valor de consumo recalca a classe. Entra a classe, o consumo vai para os bastidores dos elitizados shopping centers. Entra o consumo, a classe se refugia nos camarins do marxismo ocidental. Não gosto muito das palavras, mas vá lá, vivemos uma época em que Deus e o Diabo duelam na terra globalizada. Na medida em que se vale de uma linguagem dramática, o ficcionista e o poeta (os que quiserem correr o risco da genialidade e do fracasso) têm a possibilidade de encenar uma peça naquele palco que pode atingir as duas partes envolvidas e, ao mesmo tempo, fazê-las exprimir as propostas de mundo melhor e também as suas ansiedades e misérias. Foi o que de certa forma, num outro contexto, fez Carlos Drummond quando escreveu A rosa do povo. Acho muito mais rentável para o debate de idéias o que a literatura pode fazer dramaticamente do que o que ensaístas, como Nestor García Canclini, (Consumidores e cidadãos) estão tentando fazer com conceitos. O conceito não tem a elasticidade envolvente do drama e por isso não ocasiona as repercussões internas que calam fundo. Se tivéssemos um sismógrafo que medisse o poder de persuasão das idéias, adiantaria que uma situação dramática acarreta vibrações mais profundas e prolongadas do que uma exposição conceitual. A Globo e os marqueteiros de ocasião sabem disso. Mas para que isso fosse verdade para nós, escritores, seria preciso primeiro que o público soubesse ler literatura e não se contentasse com os livros mastigados, a que me referi noutra resposta. Se a literatura se tornar “livro mastigado”, ela terá se perdido para sempre. Pelo menos no que se refere a esse quesito. Uma pitada de Nietzsche para terminar: “Se este livro resultar incompreensível para alguns, ou dissonante aos seus ouvidos, a culpa, quero crer, não será necessariamente minha”. E o filósofo acrescenta que, para “praticar a leitura como arte”, é preciso “ser quase uma vaca: saber ruminar”.
Hoje, a crítica literária ao “grande público” se restringe aos jornais e revistas, pois a acadêmica/universitária insiste em ficar enclausurada em si mesma. Qual a sua opinião sobre a crítica/resenha praticada na imprensa?
É assunto que há muito tempo me preocupa. Num dos últimos cursos que dei na PUC-RJ, no final dos anos 1980, resolvi falar de crítica literária. Em lugar de escolher para leitura os clássicos do pensamento moderno e os grandes teóricos europeus e norte-americanos, escolhi a obra de Álvaro Lins, Sérgio Milliet, Brito Broca, Oto Maria Carpeaux e alguns mais. Ítalo Moriconi deve se lembrar do curso. O interesse era o de mostrar ao jovem universitário que houve um outro mundo em que a crítica e a imprensa diária tinham sobrevivido à cultura da imagem (o cinema) graças a um casamento dos mais férteis para ambas as partes. Como sabemos, o divórcio entre crítica e jornal começou com Afrânio Coutinho, depois de ter regressado dos Estados Unidos e ter feito cursos sobre o “new criticism” na Universidade de Columbia. Isso em 1948. Ele tinha uma coluna dominical no Diário de Notícias (Rio de Janeiro). Ali defendia a tese de que era impossível “tratar o fenômeno literário em termos puramente jornalísticos, como fazia a crítica tradicional”, já que “o estudo da literatura em bases rigorosas, inclusive científicas” superava “o velho impressionismo diletante e vazio, baseado no gosto e na opinião”. O principal vilão era o então influentíssimo Álvaro Lins. Afrânio ganhou a batalha. Felizmente, esses tempos já se foram. É preciso hoje defender um pacto entre a literatura (criadores, universitários e ensaístas) e a imprensa diária e semanal. Afinal, nós somos os últimos produtores e consumidores disso a que chamamos de texto escrito em linguagem fonética. Ambas as partes sairão favorecidas. A possível e inevitável perda de rigor científico nas indagações de caráter teórico e metodológico, decorrência do aceite pelos universitários da escrita jornalística que avalia obras e temas contemporâneos, teria um custo intelectual que poderia ser compensado pela retomada por parte dos cidadãos dos valores maiores da tradição literária ocidental.
O romance O falso mentiroso trabalha com a idéia da ilusão/mentira. Alguns leitores podem acreditar em tudo o que está escrito; outros, duvidar de tudo. Não há certezas. Como faz o autor para se convencer das mentiras que conta?
De maneira global, a graça do romance é a de ter assumido como forma um paradoxo, que aliás nem é meu, já vem dos pré-socráticos e é fundamento da lógica matemática. O paradoxo diz que a literatura é um discurso mentiroso (ficcional, inventado, fabulado) que, ao se dizer falso, está dizendo a verdade. O leitor que for buscar este ou aquele detalhe para saber se este ou aquele detalhe é verdadeiro ou falso, está irremediavelmente perdido. Perdeu-se no parque de diversões que é a literatura quando resolve ser algo mais que mero entretenimento e ser algo menos do que um discurso autoritário, que transmite ao leitor a segurança de “uma” verdade. (Leia-se, a propósito, as palavras finais do prefácio ao romance Orlando, de Virginia Woolf. Ali ela agradece ao leitor que generosa e gratuitamente corrigiu a pontuação, a botânica, a entomologia e a geografia dos seus romances anteriores.) Em O falso mentiroso, os personagens, os fatos, os dramas, as informações estão ali para que a sensibilidade do leitor dê saltos e rodopios, para que saia do ensimesmado mundo em que vive. A metáfora global da camisinha de vênus lá está para nos falar simbolicamente da segunda metade do século 20. Um século que saiu para ser definitivamente revolucionário e acabou enredado em doenças transcontinentais, como a aids e a gripe asiática. Como em romance meu anterior, Em liberdade, um diário falso de Graciliano Ramos, tudo é mentira e tudo é verdade. Essa é, a meu ver, a maior ambição da literatura, da arte. A de criar um mundo paralelo, pessoal e imaginário que, no entanto, pode desvelar melhor o ser humano e a sociedade em que se insere, do que os discursos das ciências sociais e humanas. Já pensou o que seria do nosso conhecimento do século 19 sem a lição de Machado de Assis, um mentiroso que se diz mentiroso? Sem essa pretensão (que, é claro, pode redundar em fracasso), não existe literatura. É preferível que o escritor assine um contrato com a prefeitura e vá cultivar flores (retóricas) no parque municipal.
Você diz que a distinção de gêneros literários “só tem sentido para a indústria cultural”. Por quê?
Como já deve ter percebido, não sou a favor de etiquetas. Sobretudo quando a etiqueta é inibidora, castradora. Não é só por isso. Desde Mário e Oswald, desde Clarice e Rosa, uma das coisas interessantes que o escritor tem feito é o questionamento da noção clássica de gênero (“genre”, em francês). Macunaíma é uma rapsódia musical, no entanto só venderá se você disser que é um romance. Os textos de Tutaméia têm pouco a ver com o conto feito até então, mas se não aceitar a etiqueta está perdido. As anotações soltas de Clarice (em Para não esquecer, por exemplo) são contos, mini-contos ou aforismos? Ou só anotações mesmo? A pessoa que souber dar uma etiqueta ao que fez Clarice naquele livro tem um best seller na mão. Um livro que venderá tanto quanto Laços de família. Estou querendo dizer que a transgressão aos gêneros, tal qual estabelecidos pelas poéticas clássicas e pela modernidade, é uma das graças de quem produz textos. Por outro lado, a maioria dos escritores — e falo também das novas gerações — não aceita mais (ainda bem!) ter o seu campo de atuação restrito a esse ou aquele campo profissional. Tem algo do ficcionista, algo do crítico, algo do jornalista, algo do professor, algo do performático. E isso sem dúvida vem afetando a “construção” do seu texto, que se torna mais e mais uma coisa híbrida. Menos e menos o ficcionista produz textos segundo uma definição rigorosa de gênero. No entanto, se quiser vender o produto híbrido e ganhar dinheiro para pagar o leite das criancinhas, se quiser encontrar um lugar certo na prateleira das livrarias, o seu lugar no suplemento literário, é melhor que se esconda (comercialmente) por detrás de uma etiqueta. Em suma, hoje o gênero, se explicitado, recebe o prêmio do marketing. Como vivemos no mundo em que vivemos, tudo bem. Ou tudo mau.
O que há de novo na literatura mundial?
De alguns para cá, houve algo de estrondoso e extraordinário, que ainda não passou de todo. A questão do gênero (gender, em inglês). A fêmea tornou-se ficcionista e poeta, de voz única e original, dinamitando os alicerces da literatura que até então era falocêntrica. No meu tempo, “poetisa” era um palavrão. Cecília Meireles e Henriqueta Lisboa queriam ser chamadas de poetas. Queriam evitar a pecha de estar escrevendo algo de sentimental e água com açúcar, para consumo de normalistas no cio. A grande literatura era feita só pelo homem, ou pela mulher-travesti, cujo melhor exemplo é George Sand. Como lembra Andreas Huyssen no ensaio Cultura de massa como mulher: o outro do modernismo, esse paradigma de rebaixamento do feminino pelo masculino, associando aquele à cultura de massa e este à erudita, foi estabelecido no século 19. Escreve ele que “a mulher (no caso o personagem Madame Bovary) ocupou a posição de leitora de literatura de qualidade inferior (subjetiva, emocional e passiva), enquanto o homem (Flaubert) aparece como o escritor da literatura autêntica e genuína (objetiva, irônica e perfeitamente no controle dos seus meios estéticos)”. As escritoras desconstroem o paradigma para melhor se posicionarem em plena afirmação do gênero (gender) no gênero (genre). Mas o gênero macho não passou ao largo da revolução. Veja-se o primeiro romance de Manuel Puig, Boquitas pintadas. Logo em seguida, houve o movimento étnico, que trouxe para a literatura a subjetividade do negro e do índio. Na América espanhola como os índios não tinham acesso à escrita fonética, surgiu o gênero “testimonio”, o mais famoso deles é o de Rigoberta Menchú, líder indígena na Guatemala e prêmio Nobel. Em seguida os grupos políticos minoritários trouxeram sua contribuição. Refiro-me, por exemplo, à literatura gay. Em rápidas pinceladas é isso que vejo “de novo” na literatura mundial. No mais, há algo “de velho”, escritores e mais escritores surgem sem fazer apelo a esses valores, tentando escrever literatura. É o caso, por exemplo, do norte-americano Thomas Pynchon ou do mais recente prêmio Nobel. No mais, há algo “de diferente”, o mercado veio (parece que) para ficar e os escritores foram obrigados a aceitar parceiros incômodos e de grande sucesso, como as celebridades. No mais, há algo “de aterrador”, a área foi tomada de assalto pelos aventureiros da escrita, que acreditam estar ajudando ao outro quando apenas locupletam os bolsos. Em suma, um panorama meio sombrio em que sobressaem grandes escritores que só não vivem no anonimato total porque há os “happy few” que os cultivam.
Hoje, discute-se o fim das vanguardas, a pós-modernidade… Os experimentalismos vanguardistas na literatura são pífios atualmente na ficção?
Há vanguardismo e experimentalismo. Há experimentalismo e a vontade no homem de ultrapassar barreiras. O vanguardismo realmente ficou no passado. Está associado às vanguardas históricas, que começaram a existir a partir do “Manifesto futurista”, de 1909, e deram os frutos extraordinários que conhecemos e admiramos: dadaísmo, futurismo, modernismo, antropofagia, etc. A partir dos anos 1940 e principalmente durante os anos 1950, tivemos no mundo anglo-saxão, o movimento chamado “high modernism”, que entre nós tomou a designação de experimentalismo. O experimentalismo rechaçava por completo as implicações político-sociais evidentes no texto ficcional ou poético. Além dos poetas concretos e neo-concretos, há que citar, sobretudo, Clarice Lispector, Guimarães Rosa e Osman Lins. Os experimentalistas foram influentes por algumas décadas em vários domínios da arte erudita e popular e talvez seu domínio sobre as novas gerações tenha chegado ao fim. No entanto, parte da graça da literatura (da arte) é a de ultrapassar as barreiras impostas pelo já-feito. Quando digo ultrapassar não estou dizendo que se deve abandonar. A pós-modernidade para mim é essa vontade, esse desejo de ultrapassar o já-feito sem abdicar das grandes contribuições que nos foram dadas. O pós-moderno é alguém que busca uma agulha no palheiro, mesmo sabendo que o celeiro não está bem iluminado. Perdemos a luz da certeza, o sentido da segurança, o rumo da utopia. Resta-nos uma esperança meio rastaqüera, que nos leva à busca do original, ainda que sobre material já-trabalhado. A pós-modernidade sonha com uma espécie de corrida em busca do velocino de ouro, mesmo sabendo que ele não existe. Não há recompensa ao final. Há o gozo do caminhar. Por isso tudo evitaria dizer que o passado artístico é pífio. O passado nos constrói enquanto artistas. O presente nos constrói enquanto seres humanos. Sou do presente, sem abdicar dos valores do passado, porque sou também artista. Caminho. Sei o que busco. Sei também que nunca encontrarei o que busco.
Que livros nunca te abandonam? Por quê?
Há muitos livros que não querem me abandonar. Sou eu quem os abandona a favor do acaso despertado pela curiosidade. Parte da graça da minha vida profissional advém do fato de que seja extremamente infiel aos meus amigos livros (e também aos amigos e amantes). Entrei pela porta da Literatura pelo empréstimo, por Jacques do Prado Brandão, do romance Os moedeiros falsos, de André Gide. Lembro-me bem, ainda não sabia francês. Li-o na tradução de Álvaro Moreyra, publicada pela editora Vecchi. Carreguei Gide até o doutorado. A tese que defendi em 1968 na Sorbonne é sobre a gênese de Os moedeiros falsos. Abandonei Gide. Até a tese abandonei. Foi traduzida para o português pela minha amiga Anamaria Skinner, mas nunca quis publicá-la apesar da insistência de outra amiga., Heloísa Buarque. Acho que depois veio Carlos Drummond. (Falo apenas dos brasileiros a partir de agora.) Escrevi um ensaio sobre ele e, mais recentemente, aceitei duas encomendas. A do prefácio das poesias completas e a da organização da correspondência entre Carlos e Mário de Andrade. De repente, já era Graciliano Ramos que ocupava todo o horizonte. Escrevi um romance, Em liberdade. Dei os exemplos para que se entendesse que os escritores chegam à minha vida de duas maneiras: pelo acaso (da oferta, da encomenda, da disciplina a ser ensinada, etc.), ou pela curiosidade (sou um atento observador do cotidiano e da política, dos costumes também). Sou infiel e muito curioso. Isso me dispersa e impede que possa desenhar um quadro em que autores se sustentem por mais de uma temporada. Os que conseguem permanecer por uma temporada eu os chamo de obsessivos e, em geral, são rentáveis em termos de escrita. Acrescento que sou um bom ladrão da palavra e da vida alheia. Como disse Valéry, “um leão é feito de carneiros assimilados”. Há ainda, esquecia de dizer, o movimento de ir e voltar. Volto sempre aos abandonados. De preferência aos clássicos (no sentido amplo e universal da palavra). Também vivo, de maneira menos plena desde que comecei a descer a ribanceira dos anos.
Como é o seu método criativo, de trabalho?
Digo que é complexo, mas não para parecer excepcional. Digo melhor: é complicado. O verbo complicar, etimologicamente, vem de dobrar. Cheio de dobras. A idéia de dobradiça, que tomei de empréstimo a Lygia Clark, dá bem uma idéia. Não gosto que uma coisa se sobreponha à outra, recalcando-a. Gosto que cada coisa possa ter o seu próprio espaço, sua vida autônoma, e ao mesmo tempo gosto de conectá-la (através de dobradiças) a outra(s) coisa(s), que também terão o espaço e a vida autônoma delas. Tudo existe isolado e, ao mesmo tempo, nada existe isolado. Como se diz num filme de Jacques Tati: “Tudo se comunica”. A imagem do labirinto talvez não fosse desprezível. Todo escrito meu é um convite ao leitor para que entre no labirinto da minha vida, da minha arte. Não importa a porta por que entra, porque toda e qualquer porta dá para todos os cômodos da casa. Experiência e texto estão em todo e qualquer quarto. Não importa por que porta saia. Sei simplesmente que, se sair pela primeira porta, não cheguei a seduzi-lo. Essa “atitude” (para falar como o canal Sony) não é convidativa para o leitor contemporâneo, que gosta de gastar seu tempo, sensibilidade e memória com outras e mais rentáveis coisas. Parece que cheguei a esse método criativo pela própria experiência. Sempre vivi entre o bárbaro e o disciplinado. Hedonista quando necessário, disciplinado desde que me aproximo dum autor e gosto dele. Tento viver tudo o que é possível viver e tudo que o outro chegou a escrever. Literatura para mim nunca foi “um” livro. Literatura, para mim, se confunde com Vida e, nesse sentido, um livro não basta. Quero a sucessão. Quero enredar-me no labirinto da criação, tentando tecer pouco a pouco o meu próprio fio de Ariana. Minha morte.
Leia resenha de O FALSO MENTIROSO