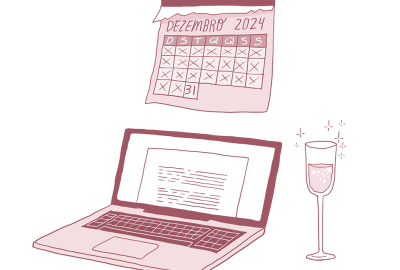Meu avô colheu esta história na sua juventude, numa hospedaria de Umuarama, creio que no inverno de 19. Contou-me sem poupar detalhes, quase meio século depois, quando a ocorrência já se tornara uma lenda. Guardei-a sem compreender muito bem suas obscuras derivações. Já nem sei mais, na verdade, o quanto do acontecido tomou novas formas sob as malhas da memória, dando lugar àquele tipo de incerteza que governa tudo o que se perdeu no tempo. Mas o certo é que, quando a retomo, um vago torpor ainda me assalta.
Quem narrou o acontecido para meu avô foi um tropeiro de idade bastante avançada, Castilho Cruz, homem que viajara, por mais de três décadas, dos pampas até os ermos do pantanal, carregando todos os tipos de mercadorias e mantimentos. Ninguém resistiria tanto tempo a trabalho tão árduo — medindo a terra no lombo de bestas dia após dia — sem levar no sangue muito preparo e muita obstinação. Os roubos de cargas eram frequentes, não raro acompanhados do assassínio cruel dos tropeiros. Castilho Cruz era um homem desconfiado e violento. Atirava muito bem e dizem que não fraquejava quando a peleja dependia do braço ou da faca. Não havia outro meio de sobreviver aos perigos que a sua própria labuta lhe oferecia. Além disso, sempre viajava em grupo, tendo a seu lado pelo menos quatro companheiros leais e experientes.
Pois bem: Castilho Cruz não deveria ter mais de trinta e cinco anos de idade quando começou a fazer alguns carregamentos especiais para Jorge Torres, homem de posses, dono de grandes armazéns e de largas glebas de terra fértil às margens do Paraná. Neste dia, aliás, o próprio Jorge Torres acompanhava a tropa, junto com gente de sua confiança, pois tinha negócios a tratar em Cuiabá. Numa picada próxima a Caarapó, ao pé de um minadouro e de duas pequenas grutas, o grupo decidiu fazer pouso. Os tropeiros desmontaram e alguém avistou, por acaso, diversos fragmentos de cerâmica espalhados num desvão. Coisa velha, desconhecida dos demais.
Essa descoberta bastou para que meia dúzia de tropeiros começasse a inspecionar o mato cerrado. Talvez algum objeto de valor pudesse ser encontrado ali. A vegetação foi sendo desbastada. O que se parecia com a base de uma considerável coluna surgiu aos poucos, bastante danificada, no meio de uma das grutas. Havia inscrições, letras grossas e gastas, vincando uma das faces daquele imenso bloco de madeira. Jorge Torres se aproximou. Era homem instruído e nunca deixava de levar a Bíblia no alforje, preso ao lombo da cavalgadura. De todo o bando, composto de tropeiros e capangas de diversas paragens, talvez apenas ele soubesse ler e escrever. Mas os sinais talhados naquele resto de coluna, mesmo após toda a limpeza que fizeram, mesmo após arrastarem com dificuldade o pesado bloco para a duríssima luz daquela tarde sem nuvens, eram indecifráveis: “Isso não é da nossa língua. Não é francês nem latim. Não parece pertencer também à língua geral”.
Foi quando um tropeiro conhecido como Bugre, sujeito calado e franzino, saiu do fundo da picada e cravou os olhos nas inscrições. Agachou-se em frente. Ficou um bom tempo em silêncio. “Eu sei o que está escrito”, disse. Todos o olharam. Com a voz embargada, teceu uma sequência de sons sem sentido. Fez uma nova pausa e arrematou: “Em memória do nosso maior guerreiro, para a eternidade”. Jorge Torres parecia espantado. Bugre apoiou o braço no que então, a partir daquele instante, parecia corresponder à base de algum antigo monumento: “É isso o que talharam aqui. O nome do guerreiro deveria ficar na parte de cima”.
Bugre aprendera com os padres, ainda na infância, a trazer para o papel a língua de sua tribo, dizimada pelos paraguaios na época da guerra. Os próprios padres inventaram esse código escrito, talvez no início do século 19, a partir da convivência direta com os nativos. Jorge Torres calcou o chapéu contra o peito e sorriu: “O maior dos guerreiros, cujo nome desapareceu… A língua marcada nesse pedaço de madeira não teve melhor sorte” — olhou o mato em torno com desprezo — “e tudo isso em memória… da eternidade”.
Bugre continuou agachado, em silêncio.
Jorge Torres apontou para os cavalos e disse: “Não vamos pousar aqui. O sol ainda demora um pouco a se pôr e temos muito chão pela frente”.